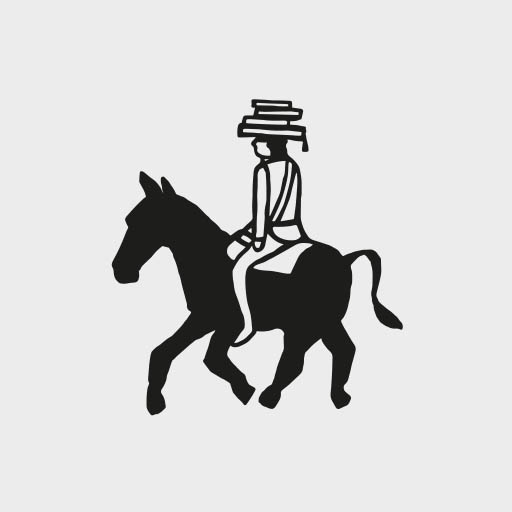Colaborou Euler Belém e os escritores Carlos Willian Leite e Francisco Perna
Uma tradução em que o tradutor não ponha nada de si será necessariamente uma tradução chocha. Só quem não tem nenhum conhecimento do que é o trabalho de tradução é capaz de imaginar que o tradutor pode ou deve ser neutro.
minha afirmação da subjetividade é sempre irônica, cautelosa, desconfiada, ressabiada, em parte porque estou o tempo todo tendo que responder a Cabral, me afirmar diante dele.
É provável que todo leitor culto brasileiro tenha na estante algum livro com a assinatura de Paulo Henriques Britto. Ele traduziu alguns dos maiores escritores de língua inglesa, como Byron, Wallace Stevens, Emily Dickinson, Elisabeth Bishop, Henry James, Philip Roth, Thomas Pynchon e Salman Rushdie. Todavia, é também um grande poeta, que, desde a estréia, em 1982, com Liturgia da matéria, vem conquistando a crítica. Em novembro do ano passado, Macau, seu último livro de poesia, foi o vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Paulo Henriques Britto ganhou 35 mil euros (cerca de R$ 100 mil), dinheiro que, entre outras coisas, lhe serviu para trocar de carro (o seu tinha 12 anos). Venceu o carioca Sérgio Sant’Anna, com os contos de O vôo da madrugada, que ficou em segundo lugar, e o gaúcho Assis Brasil, que ficou em terceiro com o romance A margem imóvel do rio.
Professor do programa de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro, onde ingressou por notório saber, Paulo Henriques Britto nasceu no Rio de Janeiro, em 1951. Leitor de Monteiro Lobato, de gibis e do Tesouro da Juventude, na infância, começou a escrever aos 6 anos de idade. Estudou cinema nos Estados Unidos e aprendeu a fazer poesia, segundo ele mesmo, lendo as traduções dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e traduzindo o poeta Wallace Stevens. A partir da descoberta de Fernando Pessoa, por volta dos 15 anos, começou a “escrever poesia a sério”, como contou numa entrevista a Rodrigo de Souza Leão, publicada no Jornal de Poesia (jornaldepoesia.jor.br), do poeta cearense Soares Feitosa. Também na adolescência, descobriu a música popular, especialmente através de Caetano Veloso. No fim do ano passado, Paulo Henriques Britto estreou na ficção, com o livro de contos Paraísos artificiais.
Nesta entrevista, feita pelo jornalista Euler Belém e os escritores Carlos Willian Leite e Francisco Perna (também mestre em literatura brasileira e professor da Faculdade Cambury), Paulo Henriques Britto fala, sobretudo, da tradução.
CARLOS WILLIAN LEITE — Traduzir é trair?
Não. Só acha que toda tradução é uma traição quem não tem uma concepção ingênua do que é traduzir, e imagina ser possível capturar absolutamente todas as características do original numa tradução. A perfeição é tão inatingível na tradução quanto em qualquer outra atividade extremamente complexa.
FRANCISCO PERNA — Num de seus poemas, Sonetilho de Verão, podemos ler o seguinte: “Traído pelas palavras. O mundo não tem conserto. Meu coração se agonia. Minha alma se escalavra. Meu corpo não liga não”. Alguma vez, na sua carreira de poeta, o senhor já se sentiu traído pela palavra, ao incorporar ao seu texto uma palavra ou um verso de alguém que o senhor tenha traduzido, para só depois se dar conta do feito?
Já, embora não seja a essa experiência que me refiro no poema em questão. Mas uma coisa parecida aconteceu comigo quando enviei os originais de Macau para a editora e só então me dei conta de que a série de nove variações poéticas que eu havia escrito tinha sido inspirada por uma canção dos Doors.
EULER BELÉM — Baseado em Minas Gerais, Agenor Soares de Moura foi um dos mais contundentes críticos de tradução do país. Suas críticas foram reunidas no livro À margem das traduções, organizado pelo tradutor e poeta Ivo Barroso. Como avalia o trabalho de Agenor? Suas críticas são válidas, contribuíram para melhorar as traduções brasileiras?
A intervenção de Agenor foi salutar naquele momento, chamando a atenção para a importância da qualidade no trabalho de tradução. Porém uma ressalva que pode ser feita ao trabalho dele é que seus comentários são sempre pontuais. Ora, achar falhas pontuais numa tradução é sempre possível. Para se fazer uma avaliação séria de uma tradução, é necessário ser sistemático, considerar a obra como um todo, pesar os erros e acertos, tentar compreender para onde apontam as falhas encontradas (se o problema é conhecimento da língua-fonte, domínio dos registros informais na língua-meta, ou lá o que seja), considerar qual o público a que a tradução se dirige, etc. Sem dúvida, muitas das falhas apontadas por Agenor seriam criticáveis em qualquer situação, mas crítica de tradução deve ser mais do que uma colheita de “pérolas” descontextualizadas.
EULER BELÉM — Como o senhor avalia o trabalho de tradutores como Sebastião Uchoa Leite, mais poesia, e José Paulo Paes, poesia e prosa (por exemplo, Laurence Sterne)?
São dois excepcionais tradutores. Em particular, eu destacaria de Sebastião sua tradução de Villon, e de Paes sua Antologia Grega. Não li a tradução de Sterne feita por Paes, por isso não posso opinar.
EULER BELÉM — O Corvo, de Edgar Allan Poe, é um dos poemas mais traduzidos em língua portuguesa. Fernando Pessoa e Machado de Assis o traduziram, por exemplo. Há pouco tempo, surgiu uma polêmica sobre a melhor tradução, e o escritor e jornalista Carlos Heitor Cony bateu o martelo: a sua predileta é a de Milton Amado, tradutor mineiro (que traduziu também Dom Quixote). Ivo Barroso organizou, num belo livrinho, todas as traduções, inclusive a francesa. Na sua opinião, qual é a melhor tradução? Ou não há a melhor?
Minhas favoritas são a de Fernando Pessoa e a de Alexei Bueno, duas traduções extraordinárias; é difícil dizer qual é a melhor. A de Pessoa de certo modo aperfeiçoou o original, em que o poeta afirma que não dirá o nome da amada e depois acaba dizendo; em Pessoa a promessa é mantida, e o nome não é revelado.
EULER BELÉM — Machado de Assis, que tinha ótimo ouvido para sua própria língua, para sua sonoridade, era um tradutor competente?
Machado, um grandíssimo prosador, era um poeta menor, e como tradutor de poesia também não era muito bom. Sua tradução do Corvo, por exemplo, não é nada boa.
FRANCISCO PERNA — O poeta e tradutor Régis Bonvicino, ao traduzir o poeta norte-americano Robert Creeley, A Um (As One), abre o livro da seguinte maneira: “Reúno, neste volume, os primeiros resultados de três anos de convivência e reflexão a respeito da vida, das idéias e da poesia de Robert Creeley…” Essa relação de amizade entre tradutor e autor é fundamental para o resultado de uma boa tradução, além da competência de quem traduz?
Eu não diria que é fundamental, porque senão seria impossível traduzir um autor morto, mas é claro que ajuda. Não posso me queixar dos autores com quem travei contato; quase todos foram muito prestativos. Creio que o mais prestativo de todos tem sido Thomas Pynchon, de quem já traduzi dois livros (O arco-íris da gravidade e Mason & Dixon).
FRANCISCO PERNA — Por falar em Creeley, como o sr. analisa a poesia dele? O senhor gostaria de tê-lo traduzido?
Conheço muito pouco a poesia de Creeley.
CARLOS WILLIAN LEITE — Como foi traduzir o romance Buddy Bolden’s Blues, do escritor Michael Ondaatje, do Sri Lanka, que recria a carreira meteórica de Buddy Bolden, músico que revolucionou a maneira de tocar jazz?
Foi uma tradução que não apresentou maiores dificuldades. Fiz dois livros de Ondaatje, este e Bandeiras pálidas, ambos trabalhos bastante tranqüilos.
EULER BELÉM — O escritor e crítico literário Silviano Santiago, numa resenha para a Folha de S. Paulo, aproxima William Faulkner mais do brasileiro Guimarães Rosa do que do irlandês James Joyce. O sr. nota a mesma aproximação?
A meu ver, Faulkner é um escritor bem mais tradicional do que Rosa e Joyce. É um ótimo contador de histórias, criador de personagens e enredos rocambolescos, com muito melodrama — incesto, assassinato, estupro, mestiçagem (tema que ainda causava frisson na época dele). Mas Ulisses desabou sobre Faulkner como uma espécie de imposição: é preciso ser moderno, ser experimental, ser difícil. E aí ele escreveu O som e a fúria, livro dificílimo, com quatro focos narrativos diferentes, muito stream of consciousness, diálogos sem pontuação, etc. O primeiro narrador é retardado; o segundo está se preparando para o suicídio; mas o terceiro e o quarto episódios são bem mais lineares, e ao final do livro tudo está esclarecido. Este fato — a necessidade de deixar tudo explicado no final — já aponta para a contradição entre o tradicional e o moderno que chama a atenção no livro. A complexidade de Faulkner sempre me dá a impressão de ser um pouco postiça, sem a integração orgânica com a totalidade da obra que vemos em Joyce ou em Rosa. O enredo de O som e a fúria não deixa nada a dever a nenhum folhetim do século 19: estupro, castração, amores incestuosos; há um claro descompasso entre o melodrama da ação e a sofisticação da linguagem. Além disso, muitas vezes a modernidade formal é apenas uma fina camada de verniz por cima de uma técnica perfeitamente convencional. Por exemplo, se você colocar uma pontuação normal nos diálogos entre Quentin e Caddy do segundo capítulo, toda a aparência de experimentalismo desaparece.
FRANCISCO PERNA — Joyce ou Rosa? Faulkner ou Ramos (Graciliano)? Tendo de optar, com quem o senhor ficaria?
Mas não precisa optar, não é? Assim, fico com todos, inclusive Faulkner, que apesar do problema que apontei continua sendo um excelente ficcionista.
EULER BELÉM — William Faulkner, suposto filho da tradição de James Joyce, é considerado um autor difícil de ser traduzido. O sr. traduziu o livro mais complexo dele, O som e a fúria. Como foi fazê-la? Quais as grandes e as pequenas dificuldades?
É um texto que apresenta várias dificuldades para o tradutor. Uma delas é insolúvel: a questão do dialeto racial. Como não existe dialeto racial no Brasil, fui obrigado a ignorar as marcas do black English; limitei-me a caracterizar a fala dos negros como subpadrão, já que os personagens em questão são de fato pessoas pouco instruídas. O primeiro capítulo, narrado por um deficiente mental, também foi bastante difícil. Já o problema da compreensão de algumas passagens obscuras foi resolvido por pesquisas na Internet e pela ajuda de um especialista em Faulkner da University of California at Los Angeles, o professor Stephen Yenser. No capítulo 4 há uma palavra que não encontrei em nenhum dicionário, nem na internet; perguntei o que era ao professor Yenser e ele me respondeu que ninguém sabia — talvez um cochilo do autor que, depois da morte de Faulkner, tornou-se impossível esclarecer o que é.
EULER BELÉM — A Germinal Editora copiou uma tradução antiga do romance russo Oblomov e mudou o nome do tradutor (o nome do tradutor original era Francisco Inácio Peixoto, um escritor modernista de Minas Gerais). Além disso, a editora mutilou a tradução anterior, “acrescentando” erros que não há na versão da Edições O Cruzeiro. Isto é praxe ou exceção no Brasil? Ocorre em outros países?
É o primeiro caso do gênero de que ouço falar. Realmente, não sei se já ocorreu em outros países.
FRANCISCO PERNA — Na prosa, quais são os seus autores preferidos?
São muitos: Kafka, Proust, Machado, Henry James, Joyce, Flaubert, Tchekhov, Dostoievski, Tolstói, Melville, Cortázar, Graciliano, Guimarães Rosa, Gombrowicz, Céline, Campos de Carvalho…
EULER BELÉM — O que falta traduzir de importante de Henry James? The Ambassadors?
Muita coisa! The Ambassadors, certamente. The Wings of the Dove já foi traduzido? [Nota: o romance As asas da pomba, traduzido por Marcos Santarrita, foi publicado pela Ediouro.] Se não foi, é outra omissão importante. Mas sinto falta em particular de uma antologia bem gorda contendo alguns dos melhores contos de James. Ele é um contista magnífico, e alguns dos meus contos favoritos nunca saíram no Brasil, ou só saíram em edições mal divulgadas e já esgotadas.
EULER BELÉM — Como avalia o trabalho crítico de Marcelo Pen sobre A arte do romance (de Henry James)? (Trata-se de uma dissertação de mestrado publicada em livro pela editora Globo)
Ainda não li.
EULER BELÉM — Monteiro Lobato foi um grande tradutor ou um grande adaptador que não se importava com a questão da fidelidade literária?
Nunca li as traduções dele, mas com base em artigos que tenho lido e conversas com pessoas que o estudaram, julgo que as traduções dele eram o que hoje em dia chamaríamos de adaptações.
CARLOS WILLIAN LEITE – Como poeta o sr. disse que sua poesia tende mais para o seco que para o úmido, por quê?
Creio que o que eu quis dizer é que busco uma certa secura que admiro em alguns dos meus escritores prediletos — Kafka, Machado, Cabral, Flaubert: o uso da palavra exata, com pouca adjetivação, e com uma emotividade mais contida, sem muito derramamento.
EULER BELÉM — Como o sr. avalia a chamada “transcriação”, as traduções patrocinadas pelos irmãos Campos (Haroldo e Augusto)?
São os maiores tradutores de poesia que conheço. Foi lendo e estudando as traduções deles que aprendi a traduzir poesia. Só discordo do termo “transcriação”: o que eles fazem é tradução mesmo, a melhor possível.
EULER BELÉM — O sr. não acha que há certo exagero dos concretistas em colocar Sousândrade como um grande poeta? Ele não é apenas um poeta mediano, assim como Pedro Kilkerry?
Sousândrade sem dúvida é uma figura interessantíssima, e foi bom ele ser redescoberto. Mas a meu ver ele está muito longe de ser um grande poeta.
CARLOS WILLIAN LEITE — O que restou das vanguardas?
As vanguardas tiveram a função de abrir muitos caminhos. Acho que ainda não exploramos suficientemente os filões revelados pelas vanguardas do início do século 20: eles abriram tanta coisa que um século ainda é pouco para esgotar o legado deles. Não estou dizendo que é impossível fazer algo de novo agora — sempre é possível fazer algo de novo, e no fundo só é interessante o que é novo. Mas o tipo de experimentação formal radical empreendida pelas grandes vanguardas clássicas, do período que vai mais ou menos da guerra franco-prussiana até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, é uma coisa que, pelo menos por ora, parece ter ficado para trás. Talvez porque tenha se tornado muito difícil acreditar em fórmulas únicas que resolverão todos os problemas, na arte ou na vida. As reflexões de Octavio Paz sobre os nossos tempos pós-utópicos me parecem irretocáveis.
CARLOS WILLIAN LEITE — O que existe na poesia brasileira além de cabralinos e drummondianos?
Na minha opinião, existe muita coisa boa na poesia brasileira atual, e não acho que o que se faz agora não passe de pastiche de Cabral e Drummond, se é isso que você quis dizer com a sua pergunta. É natural que os poetas de agora estejam explorando o imenso território desbravado pelos modernistas clássicos. É de se esperar que estejam dialogando com Cabral e Drummond, e Bandeira e Pessoa e Murilo Mendes, e Eliot e Pound e Rilke e Mallarmé e García Lorca, e também com o concretismo e com a grande música popular dos anos 60 — para mim e para muitos da minha geração, Chico Buarque e Caetano Veloso e Bob Dylan também são mestres. É assim que se faz poesia: dialogando com os antecessores, respondendo a eles, por vezes até brigando com eles — Harold Bloom escreveu uma série de livros muito bons sobre isso, mostrando como os românticos ingleses tiveram que enfrentar a sombra acachapante de Milton. É justamente este diálogo com os “poetas fortes” das gerações anteriores que faz o que se chama de uma tradição.
CARLOS WILLIAN LEITE — Wallace Stevens, que o sr. traduziu, disse que “um poema, assim como a maioria das coisas na natureza, não tem significado algum”. Concorda com ele?
Creio que nessa frase ele está se insurgindo contra uma tendência, fortíssima na época dele, de querer que a obra de arte tenha uma “mensagem” que possa ser resumida. Ele está chamando a atenção para o fato de que no poema o significado referencial tem menos importância do que a estrutura verbal em si, os sons e imagens; tal como uma paisagem natural, a beleza do poema não deve depender do significado referencial a ele associado.
EULER BELÉM — O sr. está traduzindo parte da poesia de Emily Dickinson. Como avalia as traduções anteriores de Idelma Ribeiro de Faria e de Aíla de Oliveira Gomes? O mais importante tem sido traduzido ou ainda há muito por traduzir? Paralelamente, não seria importante traduzir um pouco mais de Walt Whitman?
Não estou traduzindo Dickinson; apenas traduzi alguns poemas dela, que publiquei em Inimigo Rumor. Além das traduções de Idelma e Aíla, conheço também mais duas, de Lúcia Olinto e Isa Mara Lando. Todas (inclusive as minhas) têm altos e baixos, acertos e desacertos. Dickinson é dificílima de traduzir, e ainda não saiu uma antologia realmente representativa dela — talvez a da Aíla seja a que mais se aproxima disso. De Whitman saiu uma boa tradução do Song of Myself [Canção de mim mesmo, Editora Imago], de André Cardoso. Realmente, seria bom se alguém empreendesse uma boa antologia de Leaves of Grass, um livro tão importante para a poesia moderna quanto Les Fleurs du Mal. [As flores do mal, de Baudelaire; obra traduzida por Ivan Junqueira, para a Editora Nova Fronteira].
EULER BELÉM — Antonio Candido e Wilson Martins (o mais atuante) são considerados os grandes críticos brasileiros. Como avalia e diferencia o trabalho de cada um deles? E cadê os novos críticos?
A meu ver, Antonio Candido é o maior de todos, mas Alfredo Bosi, Davi Arrigucci, Silviano Santiago e Luiz Costa Lima também são muito bons; Bosi e Arrigucci são críticos literários no sentido estrito, enquanto Silviano enveredou pela crítica cultural e Costa Lima é acima de tudo um teórico da literatura. Os falecidos Mário Faustino e José Guilherme Merquior eram excepcionais analistas de poesia; e Roberto Schwarz propôs uma leitura de Machado que todo mundo terá de levar em conta de agora em diante. Os ensaios de Augusto de Campos sobre poesia e música popular são primorosos. Na nova geração, eu destacaria Flora Süssekind e Italo Moriconi. O melhor texto de crítica que li nos últimos meses foi o livro de Cristóvão Tezza sobre Bakhtin, Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo.
EULER BELÉM — Nos jornais atuais sobram resenhas, mas faltam críticas. O sr. acredita que há um público pouco interessado em críticas mais consistentes, maiores?
Acho que hoje em dia o lugar para essa crítica mais aprofundada talvez seja mesmo a revista literária. Publicações como Inimigo Rumor, Cacto e muitas outras estão abrindo lugar para uma crítica mais densa do que a jornalística. Mas no caderno Mais! da Folha de S. Paulo às vezes encontramos textos críticos com certa densidade.
FRANCISCO PERNA — O que deve ler um poeta, prosa ou poesia?
As duas coisas, sem dúvida. Quanto a mim, sempre li mais prosa — ficção, ensaios, crítica, diários, cartas — do que poesia.
EULER BELÉM — Como avalia o trabalho das revistas de cultura como Bravo! e Cult? As duas não estão descambando para o entretenimento, seguindo o ritmo dos jornais e revistas brasileiros?
Por que “descambando”? Desde o começo, Bravo! e Cult são revistas destinadas a um público mais amplo, ao contrário de revistas literárias no sentido estrito, como Cacto, Ficções, Inimigo Rumor, Sebastião, Azougue ou Coyote. Bravo!, em particular, é uma revista francamente voltada para o entretenimento, que noticia que peças teatrais e espetáculos de dança estão em cartaz. O que há de mau nisso?
CARLOS WILLIAN LEITE — O que o sr. pensa sobre a poesia marginal? E especificamente sobre Paulo Leminski e Chico Alvim?
A poesia marginal foi uma reação saudável ao excesso de cerebralismo dos concretos. A maior parte dela ficou muito datada, mas alguma coisa sólida restou do movimento, como o melhor de Ana Cristina César e Chacal, entre outros. A poesia de Chico Alvim, que tem alguns pontos de contato com a poesia marginal, na verdade desde o começo tinha um diferencial: longe de ser um derramamento ingênuo das emoções pessoais, ela dava voz ao outro; com o passar dos anos ficou claro que o projeto dele é personalíssimo, e a meu ver admirável. Quanto a Leminski, seu trabalho me parece uma diluição do poema-piada oswaldiano com pitadas de concretismo, uma poesia que depende acima de tudo de trocadilhos e outros achados verbais que, quando lidos pela segunda vez, perdem boa parte do interesse.
EULER BELÉM — O sr. traduziu, há pouco, Mason & Dixon. Acredita que seja possível ler o romance de Thomas Pynchon sem um “guia Pynchon”, sobretudo se o leitor não quiser perder as referências? Como foi sua correspondência com o escritor durante o processo de tradução?
De fato, Pynchon é um desses autores que se calcam em referências numerosas. Felizmente, com a internet tudo ficou bem mais fácil: há um site dedicado a Pynchon que é da maior utilidade para seus leitores e tradutores. Quanto à minha correspondência com ele, como já comentei antes, foi da maior importância. Ele foi extremamente prestativo, me ajudou muitíssimo.
EULER BELÉM — O sr. só traduz do inglês? Gostaria de traduzir algum autor em outra língua?
Não domino outras línguas que não português e inglês.
EULER BELÉM — Qual grande obra gostaria de traduzir?
Muitas. Eu destacaria o Don Juan de Byron e The Changing Light at Sandover de James Merrill, dois poemas imensos e extraordinários. Na prosa, gostaria de traduzir mais Henry James, de quem fiz apenas um romance [Pelos ohos de Maisie, Companhia das Letras] e uma pequena antologia de contos [A morte do leão — histórias de artistas e escritores, Companhia das Letras].
EULER BELÉM — Qual grande obra teme traduzir?
Nunca parei para pensar nisso.
CARLOS WILLIAN LEITE — Qual sua avaliação sobre a poesia do francês Yves Bonnefoy?
Conheço muito pouco da obra dele. E meu francês é fraco demais para eu poder julgar poesia francesa.
EULER BELÉM — Dizem que um poeta traduz melhor outra poeta. Mas o poeta não tende, ao traduzir outro poeta, outra persona, a se intrometer um pouco mais no trabalho alheio, introduzindo, ainda que filigramas, um pouco de si e de seu modo de fazer poesia?
Sim, e é justamente por isso que é bom poesia ser traduzida por poeta. É essa intromissão do tradutor no trabalho alheio que gera as grandes traduções. Uma tradução em que o tradutor não ponha nada de si será necessariamente uma tradução chocha. Só quem não tem nenhum conhecimento do que é o trabalho de tradução é capaz de imaginar que o tradutor pode ou deve ser neutro.
CARLOS WILLIAN LEITE — Qual desses três livros indicaria a um amigo: Liturgia da matéria, Mínima lírica ou Trovar claro?
Na minha opinião, meu melhor livro de poesia é Trovar claro; Macau fica um pouco atrás. E o mais fraco é o primeiro, Liturgia da matéria.
EULER BELÉM — O sr. vai traduzir mais algum Faulkner? Resta pouco a traduzir dele, não é?
Não está nos meus planos traduzir mais Faulkner, não.
EULER BELÉM — A tradutora mineira mineira Julieta Cupertino tem 96 anos e continua trabalhando, traduzindo, depois de Katherine Mansfield, Joseph Conrad (Lorde Jim, que também foi traduzido por Mario Quintana). O sr. conhece o trabalho dela?
Não.
CARLOS WILLIAN LEITE — Qual o maior poeta de todos os tempos?
Essa pergunta não pode ser respondida por uma pessoa que, como eu, domina apenas dois idiomas, e lê mal e porcamente mais três (espanhol, francês e italiano). De qualquer modo, o poema mais extraordinário que já li foi mesmo a Divina Comédia.
EULER BELÉM — Quem é o maior poeta brasileiro vivo? Ferreira Gullar?
É difícil dizer; estou longe de conhecer bem as obras de todos os poetas brasileiros vivos. Dos que eu conheço melhor, Ferreira Gullar e Armando Freitas Filho são os que têm uma obra mais realizada.
EULER BELÉM — Qual é o maior poema brasileiro?
Dos que eu conheço, eu escolheria Uma faca só lâmina de Cabral e A máquina do mundo de Drummond.
CARLOS WILLIAN LEITE — Quais livros o influenciaram?
Muitos. Os poetas que estão mais presentes no meu trabalho, creio eu, são Cabral, Drummond, Pessoa, Bandeira, Stevens e Dickinson; também Shakespeare e Whitman, autores que descobri ainda menino, deixaram suas marcas. A música popular dos anos 60 também é uma fonte importante, principalmente Caetano Veloso.
EULER BELÉM — Já pensou em traduzir a poesia de Emily Brontë? Tem o vigor do romance O morro dos ventos uivantes?
Não sou um leitor entusiasta de Emily Brontë.
FRANCISCO PERNA — O sr. acredita na genialidade literária?
Bem, há escritores que consideramos muito, muito melhores que os outros, e esses nós chamamos de gênios. Para mim, é só isso.
EULER BELÉM — Ivan Junqueira traduziu todo o Eliot, em termos de poesia. Como avalia este trabalho? Não seria a hora de traduzir o Eliot ensaísta?
Ainda não li a nova edição do Eliot. Conheço a anterior, da Nova Fronteira, e é uma ótima tradução. [O tradutor é o mesmo Ivan Junqueira.] Sim, seria uma boa idéia alguém organizar uma antologia dos ensaios de Eliot.
CARLOS WILLIAN LEITE — Ao decretar a finitude e romper com o transcendentalismo, sua poesia caminha em direção a Cabral de Melo Neto, porém, mais urbano, sem os Severinos e aquela coisa meio Tieta do Agreste. Além dessas duas últimas, quais outras características diferenciam a poesia de ambos?
Sem dúvida, Cabral é um dos ancestrais com que mais dialogo. Cabral e Drummond são as duas referências mais fortes para a minha geração, e creio que para a seguinte também. Porém, ao contrário de Cabral, que faz questão de negar a subjetividade, eu tomo a subjetividade assumidamente como ponto de partida. Mas minha afirmação da subjetividade é sempre irônica, cautelosa, desconfiada, ressabiada, em parte porque estou o tempo todo tendo que responder a Cabral, me afirmar diante dele.
CARLOS WILLIAN LEITE — Alguns de seus poemas revelam profundas inquietações, fazendo blague na forma de encarar a vida. Isso é autobiográfico?
Tudo que posso dizer é que meus poemas estão ligados à minha visão do mundo e da vida, sim, mas não são estritamente autobiográficos. Um dos efeitos do trabalho com a forma é precisamente este: despersonalizar um pouco (não totalmente) o poema, tornando-o mais autônomo em relação ao autor e (espera-se) mais universal.