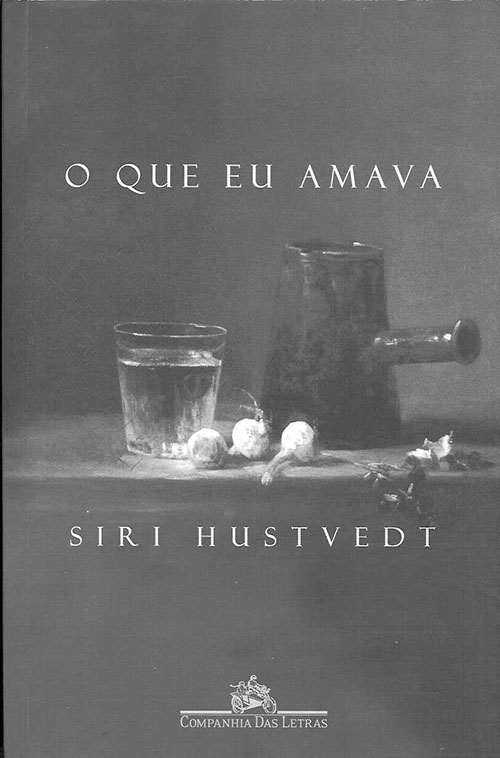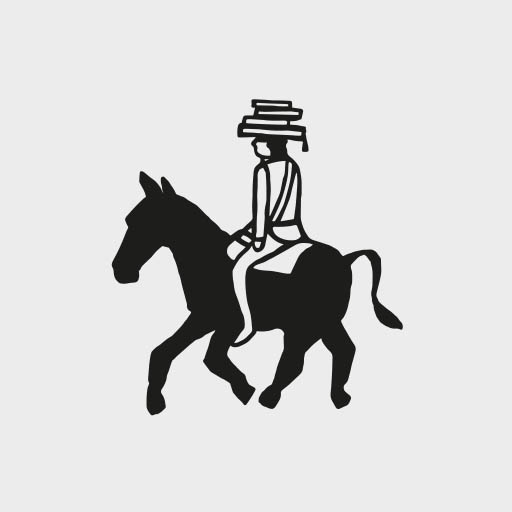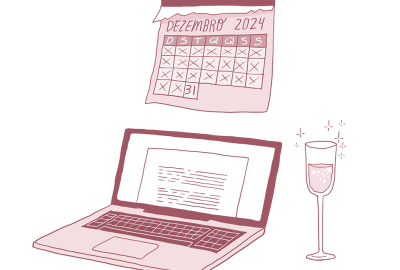Era sempre igual. Eu entrava numa livraria e circulava entre as prateleiras procurando alguma coisa que não sabia bem o que era. Às vezes, o namorado perguntava: “O que afinal você procura num livro?”. Eu coçava a cabeça olhando para as lombadas e o máximo que conseguia dizer era: “Eu queria um livro que me arrebatasse!” E continuava minha infindável busca. Que, irremediavelmente, terminava em minha poltrona de leitura, com meus indisfarçados bocejos para mais uma aquisição equivocada. E mais um livro deixado de lado antes do final.
Dia desses, minha visita à livraria começou do mesmo jeito de sempre, com uma má vontade fingida, um ar blasé de “já tenho tudo o que eu quero” e, no fundo, uma vontade aparentemente insaciável de encontrar “o” livro. Até que.
Quando bati os olhos no nome da autora, a curiosidade pelo exótico me fez pegar o livro da prateleira. Siri Hustvedt. “Deve ser da Índia ou daquelas bandas”, pensei. Ledo engano. Americana e filha de pais noruegueses, Siri é casada com Paul Auster. Apesar de este ser seu primeiro livro publicado no Brasil, é seu terceiro romance. Por um instante, lembrei da figura charmosa de Paul Auster na última Feira Literária de Paraty, lendo trechos de seu — ótimo — Noite do Oráculo e resolvi levar o livro de sua esposa, num impulso. No meu raciocínio totalmente torto, um homem com uma voz daquelas não podia ser casado com uma má escritora. No mais, um autor que já tinha me dado tantas alegrias merecia esta minha deferência à sua família.
Resultado: saí da livraria com o bolso cinqüenta reais mais leve e um catatau de mais de quinhentas páginas para ler. Costumo achar que um livro volumoso como este, a não ser que tenha sido muito bem recomendado por alguma fonte seguríssima — o que não era o caso —, pode se transformar numa grande dor de cabeça. Afinal de contas, é altamente frustrante perceber, depois de perder algumas horas de vida lendo trezentas e poucas páginas, que eu já sei para onde a história está indo. E, em geral, acreditem, não é para um bom lugar. Depois do leite derramado — porque trezentas páginas não é pouca coisa — me vejo encurralada diante do velho dilema: to be or not to be, arremessar o livro com força janela afora ou masoquisticamente enfrentar as ipisilon-centas outras páginas que faltam para, no final, confirmar minhas suspeitas. E, neste caso, fazer força para não me arremessar pela janela. Apesar de todas as possibilidades contrárias, torci para não haver arrependimentos.
Cheguei em casa, sentei em minha cadeira de leitura e abri a sacola da livraria. Além do livro da “mulher do Paul Auster”, tinha comprado também Uma escada para o conhecimento, de Ariel Glucklich, e A casa das belas adormecidas, de Yasunari Kawabata. Na cabeceira ao lado, Marguerite Yourcenar e seus cabelinhos brancos me esperavam com a sua Obra em negro, cuja leitura eu já tinha começado e vinha se arrastando pegajosamente pelos últimos dias (ou seriam semanas?). Devo esclarecer que, ao contrário dos livros imensos e ruins sobre os quais falei há pouco, A obra em negro me pareceu, nas primeiras setenta e poucas páginas, ser a promessa de um bom livro. Talvez até um excelente livro. O dilema aqui é saber se vou ou não ter paciência de esperar a promessa se cumprir.
Neste dia, especificamente, minha paciência com a Marguerite Yourcenar estava um tanto desgastada. Ela tinha acabado de me enrolar por um capítulo inteiro que não levava a história para lugar nenhum e tinha quase feito com que eu me apegasse — a bandida! — a um personagem que morria logo em seguida. Como nossos laços estavam irremediavelmente estremecidos, concluí que seria justo deixá-la de castigo por alguns dias enquanto lia outra coisa. E assim foi. Peguei os três livros novos e perdi alguns minutos decidindo qual eu leria primeiro. Cheguei a ficar tentada pelo japonês, confesso, só porque era o mais fininho (“pelo menos não vou sofrer tanto se for ruim!”, pensei), mas acabei cedendo ao olhar de pidão do Paul Auster na minha cabeça e comecei a ler O que eu amava.
A história começa quando Leo Hertzberg, um professor de história da arte, esbarra com um quadro do jovem William Wechsler em meio a obras insossas numa exposição coletiva do SoHo. A imensa tela, intitulada “auto-retrato”, mostra uma mulher deitada, uma sombra e uma perna que deixa a cena. Os detalhes e o título da obra despertam a curiosidade de Leo, que acaba se transformando no primeiro comprador de Bill Wechsler. Intrigado e encantado com a pintura, Leo resolve procurar o pintor e, após este primeiro encontro, a amizade dos dois passa a estar presente nos momentos cruciais de suas vidas.
O arroubo de Leo é perfeitamente compreensível e, acho eu, comum entre aqueles muito apaixonados por arte ou literatura — e eu me incluo neste grupo. Não é que nós confundamos a obra com o artista, como aqueles espectadores de novela que saem desferindo trauletadas quando encontram na rua os atores que interpretam vilões. Mas, quando leio alguma coisa que me agrada acima da média, sinto de imediato uma conexão com o autor — não é esse o objetivo da arte, no fim das contas, já que o artista está ali dividindo com os outros a sua Verdade? Penso: “como seria tomar um chope e bater um papo com essa pessoa numa mesa de bar?”. Algumas vezes, como acontece com Leo, a pergunta fica martelando no fundo da minha cabeça por tanto tempo que resolvo dar uma de detetive e descobrir a resposta. Quando li O espelho da lua, da escritora e astróloga Maria Helena Nóvoa, não sosseguei enquanto não consegui marcar uma consulta com a própria, em sua casa no Horto. Daí para a amizade foi um pulo.
Mas voltemos à história. Com sua esposa Lucille, Bill Wechsler vai morar no mesmo prédio de Leo e sua esposa Erica. Os dois casais têm seus primeiros rebentos na mesma época, estreitando ainda mais os laços da amizade. Logo em seguida, Leo conhece também Violet, a jovem modelo do quadro que, alguns anos depois, passa a ocupar o posto de segunda esposa de Bill. Unidos pelo amor à arte — e a proximidade geográfica — os casais passam a ter um convívio intenso e chegam a alugar uma casa de veraneio juntos por vários anos seguidos. Ao longo dos anos, também, Leo acompanha empolgado o processo criativo de Bill e observa o amadurecimento artístico do amigo, que a cada nova exposição parece mergulhar mais fundo nos mistérios de sua própria alma, testando novas possibilidades além da pintura. O final dos anos setenta e início dos oitenta é, coincidentemente, o desabrochar de uma Nova York essencialmente artística. Bill e Leo, morando no SoHo, presenciam de perto a explosão das novas galerias, pintores e artistas.
Neste início do livro, tive a nítida impressão de que a história crescia diante dos meus olhos como uma das pinturas de Bill, começando com pinceladas aqui e ali que iam se juntando, misturando cores e formas e criando aos poucos um quadro complexo. O perigo era que Siri Hustvedt fosse apenas uma pintora de feira hippie que, para facilitar o trabalho, passasse um rodo de tinta a qualquer momento e destruísse tudo. Continuei torcendo, agora ainda mais forte, para não me arrepender.
Aqui, abro um parênteses para dizer que, ao descrever em detalhes altamente realistas as obras de Bill Wechsler, Siri Hustvedt conseguiu me colocar de frente para todas aquelas pinturas e instalações Muitas vezes ao longo do livro, tive a impressão de que, se estivesse em Nova York, seria possível encontrá-las expostas em alguma galeria do SoHo. E é uma pena que não seja. A obra de Bill evolui de pinturas a caixas recheadas de bonecos — e também pequenas pinturas, e vão crescendo até se transformarem em verdadeiras instalações, como as cento e uma portas que se abrem, algumas delas permitindo que o observador entre em um ambiente preparado pelo artista. Para o leitor de O que eu amava, é possível identificar, até na mais abstrata obra de Bill, símbolos e significados que se conectam com sua vida pessoal de forma intrínseca, o que torna a descrição minuciosa das obras ainda mais interessante.
Aliás, as descrições de Siri são ricas não só no que diz respeito às pinturas de Bill. Elas permeiam todo o livro. Tanto que, aos poucos, fui mergulhando na vida daquelas pessoas e as observando com uma curiosidade de quem olha pelo buraco da fechadura. Durante os três dias que se passaram, carreguei o livro para cima e para baixo, o que deve ter me rendido alguns músculos a mais, inclusive. Antes de fechar parênteses, aviso logo que daqui em diante este texto pode se transformar num spoiler para quem não leu o livro. Portanto, sigam adiante por sua conta e risco (mas sigam, sigam, sigam! Eu prometo não estragar muita coisa!).
Na primeira parte do livro, tudo parecia correr às mil maravilhas para Leo, Bill e suas famílias. Até que, na segunda parte, uma tragédia inesperada altera radicalmente a rotina dos quatro amigos: o filho de Leo e Erica morre num acidente. Até eu, que já estava me sentindo “de casa”, soltei um gritinho de horror. Afinal, até então Matt era um menino talentoso e criativo cujo hobby preferido era desenhar a cidade sob os olhares de um velho barbudo e mulambento chamado Dave e seu gatinho Durango. Aliás, eu que já tinha ficado curiosa para ir a uma exposição dos quadros de Bill, fiquei mais ainda enfeitiçada pelos desenhos de Matt, com detalhes mirabolantes como a barba malfeita de Dave ou o efeito do vento nas roupas das pessoas e na copa das árvores.
A partir da morte de Matt, a história segue inevitavelmente em tom menor. Diante dessa nova realidade de cores mais lúgubres, os personagens reagem e sofrem cada qual à sua maneira, mostrando novas facetas e se parecendo, cada vez mais, com pessoas de carne e osso. Enquanto Erica chora, grita, esmurra as paredes e dorme todos os dias na cama do filho, Leo sufoca o sofrimento debaixo de várias camadas de uma tristeza seca. Neste ponto, é interessante ver que, mesmo diante de reações tão distintas externamente, o abatimento de ambos é semelhante. Os dois não se separam como Bill e Lucille, mas tampouco conseguem conviver em paz sob a sombra do filho morto e, por isso, decidem morar em cidades diferentes e se comunicar somente por cartas, o que impõe à relação um ritmo totalmente novo — e mais lento.
Sozinho em Nova York, Leo convive ainda mais intensamente com Bill, Violet e Mark, o filho deste último. Mark é um jovem enigmático que, inserido na cena clubber de Nova York, alterna momentos de extrema doçura com atitudes no mínimo estranhas, como sua amizade com o esquisito Teddy Gilles, um típico “artista” com muitas aspas, que produz obras feitas para chocar, como corpos feitos sob medida para parecerem humanos esquartejados e banhados em sangue. É curioso perceber que, ao contrário do que acontece com as obras de Bill, cuja descrição encanta e desperta a curiosidade justamente porque nos detalhes é possível identificar a simbologia usada pelo artista, os detalhes da obra de Gilles só confirmam se tratar de uma obra vazia, como tantas outras peças de arte contemporânea. O mitômano Gilles, que tem um alter ego conhecido por Sandra, a Monstra, não se contenta com a arte que produz e, graças a rumores que se encarrega de espalhar sobre si mesmo, vive cercado por uma atmosfera perigosa.
É então que o romance, que até então vinha delicadamente tratando basicamente de relacionamentos, começa a tomar a forma de um thriller psicológico. Um crime que aparentemente não tem nada a ver com a história, somado às sucessivas mentiras de Mark, vão aos poucos minando a confiança de todos. Essa transformação é lenta e quase imperceptível e, quando me dei conta, já estava com o coração acelerado, num misto de medo e curiosidade. Não pude evitar e fiquei até as três da manhã lendo as cento e cinqüenta páginas que compõem a terceira e última parte da história, completamente grudada ao livro.
O que eu amava é um livro sobre perdas. Relacionamentos que terminam por vontade das partes ou por obra do destino, relacionamentos que se afrouxam e se perdem na distância. E, principalmente, um livro sobre como estas perdas podem transformar as pessoas ao longo dos anos. Leo conta a história das duas famílias amigas vinte e cinco anos depois do dia em que comprou seu primeiro quadro de Bill e, nestes vinte e cinco anos, acompanhamos os personagens mudarem, crescerem, amadurecerem, fazerem grandes cagadas e também grandes acertos. Tudo isso acontece de forma sutil e com uma sensibilidade transbordante.
Quando entrei na livraria, eu procurava um livro que me arrebatasse, sem saber ao certo como seria este livro. Hoje, tenho uma idéia bem mais concreta do que procuro quando circulo entre os corredores de uma livraria, observo as lombadas e folheio os livros nas prateleiras. Quero um livro com personagens reais, complexos, de carne e osso, um livro sem maniqueísmo e que não subestime minha inteligência. Quero, também, uma história que seja interessante, ainda que simples. Que não seja uma punhetação intelectualóide sem pé nem cabeça. Começo, meio e fim, não necessariamente nesta ordem, são muito bem-vindos, aliás. Atendidos estes requisitos, é bem possível que eu não seja obrigada a fazer uma coisa que odeio: abandonar a leitura no meio, desesperançada. Se, além de tudo isso, o livro for eletrizante e conseguir me manter colada às suas páginas como uma traça faminta, melhor ainda.
Pois O que eu amava tem tudo isso e mais, em quinhentas e sete páginas que chegam a parecer poucas, mas são a medida exata da perfeição. Por isso, depois de muito tempo procurando, encontrei finalmente um livro que me arrebatou.