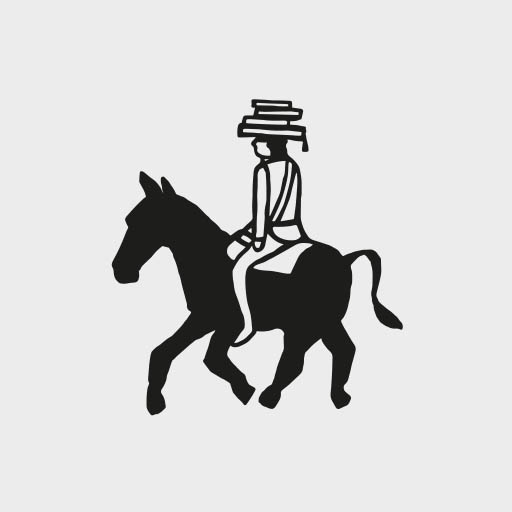O moçambicano Mia Couto, 49 anos, um dos grandes nomes da literatura africana, firma agora seu nome entre os principais da escrita no mundo. Seu livro mais recente lançado no Brasil, O último voo do Flamingo, está entre os finalistas ao prêmio de ficção estrangeira do jornal Independent, da Inglaterra, e pode ser até que ele já esteja com os R$ 50 mil do prêmio na mão quando o leitor receber este Rascunho.
Prêmios à parte, o fato é que Mia Couto é leitura obrigatória para brasileiros, não apenas pela proximidade da língua, mas porque o próprio autor admite que “todo o escritor e toda a literatura moçambicana têm uma dívida enorme para com o Brasil pelas influências que emanaram na década de 50 e prolongaram-se depois por um tempo”.
Mas este biólogo e professor, ex-militante político que já passou por várias guerras e conflitos em seu país, tem muito mais a dizer. Conheça o pensamento poético, mas sólido e humano, deste fantástico escritor em entrevista exclusiva por e-mail ao Rascunho:
• O seu nome é António e dizem que você quis ser chamado de Mia porque achava que era um gato quando criança. Você faz literatura, mas é professor e biólogo, e de Moçambique que ainda luta em busca de sua própria biologia pós-guerra. Não é muito realismo fantástico até no currículo? Explique, por favor, esta história. Você atua mesmo como biólogo? Como arruma tempo para escrever? Como se dá essa combinação em sua vida: jornalismo-literatura-biologia?
Eu não sou biólogo, eu faço biologia. E faço isso como aplicação de um conhecimento que ganhei e estou ganhando. Não faz parte do “ser” mas do “fazer”. As pessoas dizem: eu sou jornalista, biólogo, escritor e, muitas vezes, nem se dão conta que a profissão toma por inteiro a sua identidade. Eu trabalho como biólogo e faço pesquisa e consultoria na área de meio ambiente. Desde há 5 anos estou actuando na reabilitação de reservas e parques naturais que ficaram destruídos durante a guerra. Os meus amigos acreditam que o foco do meu trabalho são elefantes e leões e outros bichos, mas o centro é sempre o homem, a rede de relações sociais que condiciona a existência de fauna bravia, como ilhas no meio de realidade cuja lógica é outra.
• Há algo de biologia em sua literatura?
Não vejo essa fronteira, a biologia não é tanto uma disciplina, mas uma indisciplina científica trazendo inquietações e dúvidas e não certezas. É como se a biologia fosse apenas uma língua para poder entrar em diálogo com entidades que me fascinam. No fundo, há aqui uma comunhão com aquilo que busco na literatura: uma viagem para fora de mim, um descentramento, um gosto de perder o pé e procurar um outro chão.
• Há algo de literatura em sua biologia?
Por vezes, a explicação das coisas vem da aproximação poética. A biologia interessa-me na medida em que me está propondo uma história. A mais encantadora dessas narrativas é a evolução da Vida, o percurso dos seres vivos, a sua capacidade de adaptação e, sobretudo, a sua capacidade de produzir variedade, de sugerir novas formas, novos conteúdos.
• Seus personagens começam tímidos e tornam-se fortes. De repente eles crescem, ganham vida, sobrepondo-se até ao enredo. Isto é intencional? Você já tem toda a trajetória do personagem em sua cabeça, ou, como me parece, eles vão ganhando vida com o texto, à medida que você escreve, tornaram-se até maiores do que o previsto?
Não começo pela narrativa, começo pelos personagens. São eles que surgem como o grão de poeira quase invisível à volta do qual se vai criar a gota de chuva. Eles têm que surgir com suficiente magnetismo para que me conduzam na revelação da história. Esse é o meu método: partir sem saber para onde, deixar-me conduzir por luzes fugazes e sentir que, para mim mesmo, o desfecho da história é um mistério. Eu sei que esta é uma forma de romantizar o acto de criação. Mas não me importo. Prefiro sentir assim porque me sugere uma postura mais humilde: a escrita é que inventa o escritor.
• Seus enredos são muito interessantes, fantásticos, como os soldados que explodem (O último voo do Flamingo) ou mortos que não estão mortos, mas não estão vivos e a quem a terra se fecha impedindo o enterro (Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra). Mesmo assim, em grande parte de sua ficção o enredo parece que é deixado de lado em muitos instantes e os personagens ganham força, crescem e tornam-se até mais importantes que o enredo. Isto é uma preferência pelo humano, pelas pessoas (apesar do fantástico)? Seria uma influência de quem, como biólogo, dedica-se ao estudo da vida?
Não somos nós que preferimos o “humano”. Nós somos, sim, preferidos pelo apelo de sermos, ao mesmo tempo, indivíduo e humanidade. Eu creio que toda a escrita está sempre centrada nessa procura do que chamamos o “humano”. Não penso que o facto de exercer biologia tenha a ver com isso. Mas o facto de ser africano, de vivido e bebido influências diversas de Moçambique me tenha dado uma sensibilidade particular na procura das redes que nos humanizam por vezes e nos desumanizam tantas vezes.
• Seus romances têm uma prosa poética sutilmente encaixada no texto e na linguagem. Mas se percebe uma bela poesia em pequenos trechos que fazem as aberturas de capítulos, poemas bem definidos. Ali está o poeta à espreita? É um desejo contido de sempre fazer poesia mas sem interferir muito na prosa?
Eu acho que sou um poeta que usa a prosa para contar estórias. A poesia não é tanto um gênero literário, é um modo de olhar e sentir o mundo.
• O senhor escreve sobre um pós-guerra e sobre ocupação por tropas de paz. São obras anteriores à guerra e à ocupação do Iraque, onde, de certa forma, capacetes azuis continuam explodindo. Mas suas obras não se ocupam da guerra e da ocupação, e sim como as pessoas sobrevivem em meio a esse caos. Seria essa visão que falta ao mundo? A visão das pessoas, e não de nações, partidos políticos, de cidades conquistadas em nome de uma “garantia” de paz futura (mas o corpo é feito de tempo)?
Mais de metade da minha vida se passou em guerra. Passei pela guerra de libertação nacional, pela guerra contra a Rodésia, pela guerra civil. Tudo isso somaram mais de 30 anos de vivências diversas. Aprendi os horrores da guerra, mas convivi também com a urgência de se fabricarem respostas humanas, de uma intensa ternura quando tudo era cruel, de uma desmedida esperança quando tudo era desespero. Os brasileiros produziram uma expressão que diz bem dessa capacidade de nos refazermos: levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. É um verso cantado por Maria Bethânia e poderia ser um emblema para a atitude dos nossos dois povos. No fundo, esta teimosia na esperança, a capacidade de produzir alegria mesmo no meio do mundo tão cinzento, é uma fonte de inspiração maior que a própria literatura.
• Em um desses trechos há um verso de João Cabral de Melo Neto. Qual a relação sua com ele ou com a literatura dele? É um escritor de sua admiração?
João Cabral de Melo e Neto exerceu e exerce para mim não apenas um fascínio enorme, mas cumpre o papel de um mestre. Existe nele o domínio absoluto da palavra, uma arte incomparável da contenção. Eu acho que uma das grandes habilidades que o escritor deve aprender é exactamente a contenção, o enxugar do texto. E João Cabral logrou uma poesia enxuta, onde tudo é essencial.
• Qual é sua relação com a literatura brasileira em geral, já que a língua-mãe é a mesma?
Já o disse inúmeras vezes: todo o escritor e toda a literatura moçambicana tem uma dívida enorme para com o Brasil. As influências que emanaram do Brasil foram fortíssimas na década de 50 e prolongaram-se depois por um tempo. Nomes como Jorge Amado, Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Mário de Andrade tiveram influências determinantes. Estranhamente é hoje que estamos mais distantes. Moçambique deixou de acompanhar a evolução da nova literatura brasileira. Talvez João Ubaldo Ribeiro seja o último dos nomes a viajarem sobre o Atlântico e a chegarem a este lado do Índico.
• Você tem criações interessantes, modernas, eu diria. O verbo “sozinhar-se”, por exemplo, é maravilhoso. Simplifica de maneira bela uma formação como “ficar sozinho”. É uma facilitação da linguagem, quando muitos tendem a complicá-la. Qual é o processo dessa criação? A intenção é mesmo a simplificação, mas com oralidade, ou é uma leitura que faz da língua das ruas, das misturas entre dialeto e português em Moçambique?
Moçambique é uma nação dominada pela oralidade. Mais de metade dos moçambicanos está completamente à margem do mundo da escrita. Sendo negativa (enquanto sinal de atraso) esta condição traz uma contribuição positiva: nos ajuda a mestiçar modos de olhar o mundo. A oralidade não é apenas a ausência da escrita: é como a poesia uma forma de estar em sintonia com outras dimensões. Ao converter-se numa sensibilidade hegemônica, a escrita fechou janelas e nos isolou. Falamos de um mundo oculto, mas somos nós que estamos fabricando um novo tipo de cegueira. A minha escrita é contaminada por esse poder da oralidade que se preserva em Moçambique. A oralidade por fracturar a parede da escrita, abrir frestas por entra uma outra luminosidade. Nesse sentido, ela é muito próxima da poesia.