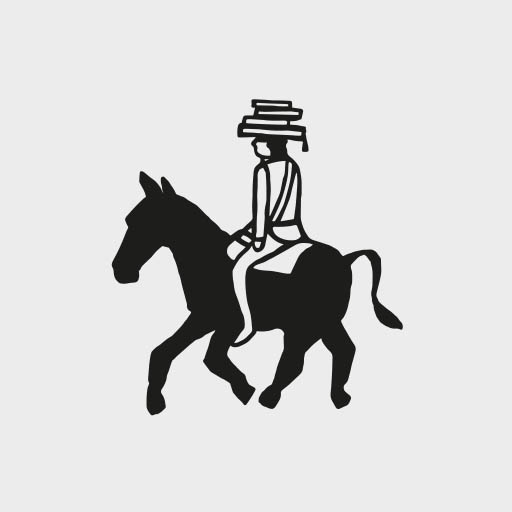“Se alguém vir um asno comendo um figo ou um figo comendo um asno (essas duas circunstâncias não se apresentam com freqüência, a não ser na poesia), estais seguros que, após ter refletido por dois ou três minutos para saber qual a conduta a tomar, abandonará o caminho da virtude e se porá a rir como um galo!” (Conde de Lautréamont)
Hoje é o dia da festa onde matam. Não sei se onças ou formigas, mas matam. Nós, mulheres azuis, não podemos entrar nesta festa. As mulheres brancas e os homens azuis entram. Também entram os homens amarelos, brancos e negros. As mulheres negras e amarelas. Mas nós, as mulheres azuis, não podemos. Nunca nos disseram quem realmente morre, mas intuímos que a morte está presente, porque se não fosse assim, a festa não seria chamada de festa onde matam.
O começo da tradição da festa onde matam faz tanto tempo que nem nós lembramos ao certo — se é que houve realmente um início — pois achamos que tudo data de tão antigamente que é anterior até à nossa própria existência. Assim, a festa onde matam seria tão remota que talvez existisse antes mesmo das mulheres azuis existirem e não poderem freqüentá-las. Nós pressentimos que se existiu um dia a festa onde matam e não existiam ainda as mulheres azuis, a festa não fazia sentido, pois tudo o que existe precisa do seu oposto, complemento que se manifesta através de limites, de proibições, de regras inexoráveis. Desta forma, imaginamos que somos nós que legitimamos a existência da festa onde matam, pois, para matar, eles necessitam das mulheres azuis. Ou não. Também não podemos tirar conclusões nossas porque conclusões de mulheres azuis sobre festas onde matam não valem coisa alguma. Ainda que tirar conclusões seja o que nos resta, a nós, que não freqüentamos a festa.
Nunca nos disseram o que fazem por lá, quem é que realmente morre, como se morre e por que morre. Eles matam: só sabemos disso. E nem temos certeza, ao certo, se realmente matam, pois nunca vimos nem ouvimos nada. Perguntamos, em outras épocas — e na nossa época também continuamos a perguntar — por que é que se chama festa o que eles fazem. Eles não respondem nunca às nossas perguntas: não nos ofendem, nem sorriem de nós, entretanto não respondem. Festa não seria uma reunião alegre para um divertimento? Não parecem que se divertem os que entram na festa onde matam. Festa não seria uma solenidade? Não parecem solenes os que saem da festa onde matam. Não há pompas, não há formalidades ditadas por leis ou costumes além daquela que já sabemos: a das mulheres azuis não poderem participar da festa. Festa não seria uma confraternização? Não parecem celebrar juntos uma recordação, um ato lembrado ou trazer à memória algum acontecimento, eles entram e saem da festa como se estivessem vazios de lembranças ou de comprometimentos: todos eles se enfastiam por estarem na festa onde matam. Festa também não poderia ser uma comemoração de um dia santo? Não parecem que cultivam amor a nenhum santo matador. Conhecemos eles, são nossos vizinhos, nossos filhos e nossos homens: não ensinamos o culto aos santos maus. Mas festa é, acreditamos nós, um ato de comemoração com o outro. Sem o outro não haveria a festa e se eles nunca comemoram, por que chamam de festa aquilo que fazem? E quem foi que, um dia, nomeou aquele evento de festa onde matam? Mais perguntas para nós que nunca teremos respostas. Mas cabe a nós continuar perguntando. E mais e mais e sempre. O que seríamos de nós se nunca perguntássemos? As perguntas foram criadas para serem feitas: não somos nós que vamos contrariar as leis das perguntas, mesmo que todos os outros contrariem as leis das respostas, deixando-nos ignorantes nos assuntos que dizem respeito ao entendimento da festa onde matam.
Há alguns meses, chegamos a pensar que a festa era algum tipo de conspiração contra nós, porque somente nós é que não podíamos freqüentá-las. Mas soubemos logo que não: eles ficaram muito tristes quando revelamos isso. E até disseram que nós somos felizardas por não entrarmos na festa. Convivemos — assim como nossas ancestrais, que já ouviram dos seus contemporâneos as mesmas ressalvas — longas datas com uma ilusória felicidade de que éramos especiais, que a exceção é sempre uma dádiva, mas não. Há exceções felizes e exceções tristes. Mas não sabemos se participar da festa onde matam é uma exceção alegre ou triste.
Seria uma exceção triste se na festa matassem formigas. Porque nós, mulheres azuis, gostaríamos de fazer parte de um ritual onde se matam formigas. Falamos sobre rituais há poucos dias com alguns deles e eles entristeceram-se. E como, às vezes, também respondem às mulheres azuis, disseram: “gostamos dos rituais de escovar os dentes depois das refeições”. Aquela resposta foi o bastante para fazer com que nós nos reuníssemos para desvendar o oculto da frase. Não conseguimos e deduzimos que também aqueles que freqüentam a festa onde matam, assim como nós, que não freqüentamos, gostamos do ritual de escovar os dentes. Somos um povo higiênico.
E seria uma exceção alegre se na festa matassem onças. Não somos exterminadoras de espécies. Não apoiamos este tipo de sacrifícios. Será que é pela falta do nosso apoio que não nos convidam para a festa onde matam? E por que eles continuam a freqüentar a festa onde matam, se também não se sentem alegres com isso? Novas perguntas, que nós, mulheres azuis, fazemos constantemente ao observar os olhos sorumbáticos daqueles que presenciam a festa onde matam. Eles se calam. Olham para os nossos olhos e dizem apenas com suas bocas “tem que ser assim” e nós seguimos com mais perguntas, que passam a soar como rebeldes questionamentos. Não nos sentimos privilegiadas por não participar na festa onde matam. Tudo o que queremos é poder fazer parte da festa, mesmo que não saiamos felizes dela. Dissemos isso e agora eles sorriem e falam que não sabemos de absolutamente nada, que desconhecemos. Que desconhecemos, já sabemos. E finalmente dizem algo, que para nós, que estamos tão afoitas por respostas, nos vem como uma revelação: “A questão não é estarmos felizes ou não na festa onde matam. Somos felizes ou não somos. Estamos felizes e logo depois já não estamos. Fazer parte da festa ou não, não mudará isso”. E nós, que nunca entramos na festa e nem nunca entraremos, não soubemos comensurar a porção de verdade e lucidez daquela afirmação advinda daqueles que freqüentam a festa onde matam. Por que eles seriam leais conosco?
Que eles matam onças ou formigas são apenas suposições nossas. Idealizamos um referencial de crenças. Na verdade, já criamos manifestos e libelos a respeito da festa onde matam. Acho que nós fundamentamos, teorizamos e refletimos mais sobre a festa do que eles próprios. Fizemos compêndios e tratados. E não afastamos a hipótese de que eles também possam matar bichos maiores do que as onças. Na verdade, eles podem até matar pessoas. E sofríamos nas nossas reuniões quando percebíamos que podíamos enquadrá-los como potenciais assassinos. Porém o sofrimento se esvaía quando lembrávamos que eles podiam talvez matar bichos bem menores do que as formigas, aqueles insetos que não vemos e aí não sabíamos mais como enquadrá-los, já que achávamos, todas nós, que matar formigas era irrelevante, e que merecia isenção quem matasse aquilo que nem vemos. Hoje, pensamos muito diferente, sabemos que a morte é igual para as onças e para as formigas. E já não importa para nós o que eles matam, se porcos, gafanhotos, velhos, bebês, protozoários ou elefantes, queremos é fazer parte desta festa e poder matar também, seja qual espécie seja.
O que nos intrigou durante longos períodos da nossa vida é a completa e absoluta indiferença pela qual eles entram e saem das festas. Não nos dão absolutamente nenhuma pista do que eventualmente possam fazer lá dentro. Eles entram e saem e entram. E nós, de todas as maneiras possíveis, tentamos captar uma razão sequer — através de um olhar, de um sorriso, de uma testa que franze ou de um lábio que se morde — e nada, absolutamente nada, nos revela o sentido daquela festa.
Não ouvimos sons que vêm da festa. Nenhum som, nem de exaltação, nem de sofrimento. Nas roupas que eles usam, nem sangue, nem suor, nem nada deixam-se transparecer. São roupas cotidianas que eles usariam em qualquer outro lugar, sem absolutamente nada que as diferencie. Não falam em códigos, nem sinalizam nada. Apenas, quando chega o dia e a hora da festa onde matam, eles deixam suas casas, seus trabalhos, seus motivos de lazer e se dirigem ao local da festa. Não sabemos de nada mais que acontece naquele espaço fechado situado naquela rua aberta a todos e que nós, as mulheres azuis, inúmeras vezes passamos, incontáveis vezes olhamos. São tantos os planos para adentrarmos naquele espaço onde se dá a festa onde matam, que se tentássemos rememorar todas as estratégias planejadas levaríamos mais do que um dia para descrevê-las, durariam todo o tempo de um mês, de um ano até. Foram centenas de métodos, milhares de projetos, milhões de intentos, jamais poderíamos narrá-los todos. Nunca conseguimos entrar, é verdade. Não que eles vigiem com demasiado rigor a entrada da festa onde matam. Mas existe uma força maior, que nós, mulheres azuis, nos rendemos, e mesmo quando estamos perto de conseguir atingir o nosso alvo, recuamos sem nem mesmo saber o porquê. Pensamos ser uma sina nossa, a de nunca entrar na festa onde matam.
Hoje é mais um dia em que acontece a festa. O dia tão esperado por nós. Parece-nos, inclusive, que somente nós aguardamos tão ansiosamente por ele. Por este dia que nos causa tanto sofrimento e passividade, mas que também nos mantém vivas, unidas. Nós, mulheres azuis, sabemos que somos diferentes por causa da nossa impossibilidade de entrar na festa onde matam. E isto nos causa sorte e pavor. Descobrimos somente hoje, depois de longos discursos e minuciosos propósitos, que talvez sejamos nós que morremos por não estarmos lá dentro, matando quem quer que seja que está aqui fora.