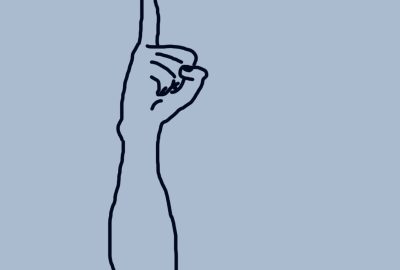Tendo como principal público os próprios produtores, a literatura de vanguarda sofre uma seleção natural mais violenta no curso da história. O risco das apostas, para esses escritores, é sempre maior — ou o livro se mantém interessante, apesar das rupturas dos contratos de leitura, ou ele ganha lugar no museu das aberrações literárias, freqüentado apenas por especialistas. Com grande importância na trajetória de Sérgio Sant’Anna, o romance-teatro A tragédia brasileira (1987) aparece agora em edição revista, sem perder seu poder de surpresa.
Um dos personagens dessa ficção anfíbia (que funciona em dois elementos, como romance e como teatro), o Autor-Diretor, falando sobre música, revela uma opção extrema:
O problema de Keith Jarret é que há nele uma espécie de virtuosismo e concessões melodiosas, discursivas demais para quem se pretende um inovador. Não existe meio-termo em Arte: ou se parte decididamente para a experimentação, ou se produz para o público, que não passa de uma cambada de imbecis. (pág.101)
O drama deste diretor é que ele percebe a fragilidade do teatro, cuja permanência depende da memória deste mesmo público.
Tal limitação, em A tragédia brasileira, é superada pela apropriação das técnicas do romance. Assim, a narrativa dentro da narrativa conta com recursos romanescos e teatrais, criando um gênero intermediário extremamente original. A recusa ao discursivo melódico coloca o sentido do romance na sua forma. A ficção não cresce seguindo o processo de causa-efeito, mas embaralhando identidades ao longo de uma história dividida em três atos, uma digressão do autor, abertura e epílogo. Mesmo com autonomia, essas partes estabelecem vínculos entre si mais pela proposta narrativa do que pelo desdobramento das ações.
Na Abertura, é apresentada a célula-máter do drama — a morte da menina Jacira (1950-1962) e seu reaparecimento ao lado do Poeta num cenário escuro, que desfaz o real, cindindo o tempo: a morta volta e se reencontra com o amado. Jacira (nome tupi, que significa abelha noturna) é personagem mas também metáfora da obra do Poeta, denunciando que Sérgio Sant’Anna não se fixará nas trajetórias biográficas, mas na discussão do próprio código. Tudo se estratifica nessa abertura em que tempos antagônicos convivem contemporaneamente, sabotando a linearidade.
Logo, o recurso teatral é usado por permitir uma maleabilidade narrativa impossível no romance. No teatro, o real é muito mais fluido. É antes uma questão de mudança de cenários do que de fidelidade naturalista. A gramática teatral dá uma liberdade criativa total ao romancista, enfim livre dos compromissos de verossimilhança. E como o texto não foi feito para um palco tradicional, mas para ser acompanhado imaginariamente pelo leitor, ele não precisa ser encenável. Assim Sérgio Sant’Anna pode transgredir, a um só tempo, as regras do romance e as do teatro.
O primeiro ato gira em torno da morte de Jacira, atropelada em Botafogo, e está ligada a um período e a um local da história pessoal do autor. Temos sua infância e suas imagens funcionando como ponto de partida para uma história que recusará qualquer visão ingênua.
Esse acidente vem carregado de perversões latentes. O motorista acusado pelo crime vai se enredando em sua tara pela sexualidade púbere, extravasando uma energia erótica corruptora, segundo o julgamento dos que o responsabilizam não só pela morte da menina mas também por conspurcar-lhe o corpo. Na menina recém-entrada na adolescência ele exercita uma pedofilia escamoteada, encontrando uma satisfação sexual contemplativa. O caráter sexual é reafirmado pelo espectro de um negro, estereótipo do estuprador, cuja existência é incerta, aparecendo mais na projeção dos preconceitos das testemunhas, que querem creditar a desgraça de Jacira a uma violação anterior ao acidente. A morte da menina carrega três pontos de conflito: com o Poeta, o Motorista e o Negro, mas sem dizer exatamente qual o culpado, se é que ele existe.
Essa situação duvidosa atinge o tempo, que se torna estratificado. O leitor-espectador vê fatos do passado e do presente disputando o palco, em substituições de cenários e no fato de os mesmos atores desempenharem papéis múltiplos. Escancara-se assim a duplicidade do humano, para chegar à composição de uma imagem ambígua de Jacira, símbolo do êxtase sagrado (na visão do Poeta romântico, que se mata por ela) e profano — na visão do motorista que a atropela e experimenta o prazer ao percorrer com os olhos e com as mãos o corpo adolescido.
Sobre essa pretensa violação da infância recai a voz da repressão. Um homem de terno, surgido no tumulto do acidente, diz: “Sabem o que deveria haver no país para quem faz mal às garotinhas? Pena de morte” (pág. 33). Assim, o drama da menina, que desfez a idéia de identidades estanques, passa a ter um significado político maior, pois aponta para um momento do país, o governo João Goulart, em que o aparelho repressor é convocado para separar o joio do trigo. A repressão a toda forma de desvio passa a ser a bandeira dos conservadores, que dão legitimidade aos desmandos militares.
Com a entrada desse ponto de vista repressor, Jacira é vista como símbolo de uma pretensa pureza (de uma unidade) que corre perigo. Dentro dessa lógica, ela é tragada pela legenda de Santa Maria Goretti, a menina morta pelo rapaz que tenta violá-la, figurando assim como monumento à castidade. Tornando-se milagreira, Jacira recebe romeiros que contrariam a idéia de santidade, pedindo coisas terríveis, embora oficialmente continue sendo sinônimo da inocência, coroada por uma auréola mística.
Metalinguagem
O segundo ato é um instante metalingüístico. A partir desse primeiro núcleo, começam os retornos da história de Jacira. O centro do capítulo é o Autor-Diretor, que vive na vida real as mesmas obsessões dos personagens de sua peça. Estamos agora nos bastidores do teatro, mas dentro da mesma lógica teatral. Ele ama na atriz que faz o papel de Jacira o corpo púbere, defendendo uma paixão inerte, em que não ocorre o ato, pondo-se numa situação mais contemplativa.
Iniciam-se as metamorfoses: o diretor busca Jacira em outras mulheres, como numa das meninas que vai entrevistá-lo. Tudo retorna em novas circunstâncias, mas guardando a mesma mecânica. Nesse espaço, nesse período histórico e nessa classe social, a inocência e o culto à pureza são impossíveis, eles só podem ser experimentados como representação. A mulher agora goza de uma liberdade sexual muito grande, mas o Autor-Diretor, ainda embalado pela peça e pela recordação dos tempos matinais, não consegue ultrapassar a idéia fixa: o corpo quase infantil de uma menina, no qual todos conjugamos pela primeira vez o desejo.
Uma das entrevistadoras, a mais arrogante, lembra ao Autor-Diretor que o desejo sentido pelo Poeta, que se mata por amor, nunca findará. Continuará latente, pronto para outras manifestações. Ela desvenda o motor da narrativa. Desde a cena de 1962, há um ímpeto erótico que não estava apenas no Motorista e no Negro, mas no próprio Poeta, tido como romântico e puro. Nada faz com que esse impulso cesse. Diz a menina: “Um desejo assim tão absoluto talvez possa pairar para sempre, numa espécie de limbo cósmico, à espera de novamente manifestar-se” (pág. 70). Anterior à tragédia de Jacira, tal anseio já estava no drama de Maria Goretti. Fiel a esse episódio, o Autor-Diretor se deita com as mulheres à procura de uma “sensualidade casta”, de um “ato nunca consumado” e de um “permanente orgasmo” — como desvenda a menina que o entrevista.
A não-conclusão do orgasmo tem uma correspondência direta com a não-conclusão da peça, que permanece aberta, e com o próprio romance, que oferece, em cada cena, uma versão diferente do mesmo e imorredouro desejo. Sérgio Sant’Anna cria, assim, cenas en abisme, numa sucessão infinita.
Ainda centrado na figura do Autor-Diretor, mas agora fora do espaço do teatro, o terceiro capítulo vê os temas do desejo e da duplicidade na cidade dos homens. O Autor vive isolado do mundo, no seu pequeno cosmos doméstico, um apartamento de solteiro. Como ele confunde programaticamente vida e ficção, o seu “lar” vai ser também palco de uma peça mais íntima, a de seus encontros eróticos com a vizinha, na qual projeta a mesma figura ficcional: “É que você me faz lembrar de alguém imaginário. E, com esses óculos, fica com a aparência de uma colegial séria e estudiosa, embora eu a faça comportar-se como uma prostituta” (pág. 83). Persistem o culto da passividade e uma fixação em Jacira, conjunção de pureza e perdição, que desempenha o papel de antídoto em relação às muitas e fáceis aventuras eróticas do Diretor nas “coxias do teatro”. Diante de tantas mulheres nuas e disponíveis, resta-lhe a criação de um mito ou a possessão de um desejo mítico, que o empurrará para relacionamentos em que há, mesmo de forma ilusória, uma interdição violenta: “Para mim o sexo sempre teve que envolver uma atmosfera de pecado” (pág. 84). Nestes tempos de liberalidade, ele só encontra essa transgressão em relações artisticamente montadas.
O mesmo mecanismo teatral se manifesta num jantar com os atores num restaurante chinês. Aqui, o ambiente oriental, seus rituais e suas comidas reforçam o fingimento, a duplicidade, a encenação. Entra-se num terreno imaginário, de representação, mostrando que esta é a natureza última de tudo. Estamos sempre vivendo personagens. O que ele diz sobre o restaurante serve para qualquer cena cotidiana: “É nessa falsidade que se acha o encanto dos restaurantes chineses do Ocidente, como se estivéssemos num Teatro” (pág. 90). Assim, ele leva a sua peça para fora do palco, continua recriando indefinidamente na sua imaginação, desfazendo a distância entre palco e vida e ensaiando continuidades sucessivas, numa alternância esquizofrênica de papéis.
Ele tenta dirigir Sílvia, uma das convivas do jantar chinês, ao levá-la a seu apartamento-palco, mas, altiva e despachada, ela domina a cena, obrigando o Autor-Diretor a mudar de lado e se tornar a parte dirigida. Assim, o “coroa devasso, o voyeur fantasma, o hipnotizador de moçoilas, o fabricante de realidades, o encenador de visões” (termos que ele usa para se definir) é capturado por Sílvia, que o desarma sexualmente, sem ceder a seus transes contemplativos ou à sua necessidade de perversão. Somente no final, ele retoma o poder pelo uso da palavra.
Na lógica derivativa deste romance-peça, as cenas não param de sofrer alterações, com as mudanças de cenários. O terceiro ato (quarto capítulo) representa o retorno do mundo do palco, depois do interregno centrado na vida do Autor-Diretor. Da primeira encenação resta apenas a figura do Motorista, metamorfoseada em caminhoneiro, que percorre a rota Belém-Brasília, já em outro momento histórico. Ele ainda guarda a imagem de Jacira, mas na beira da estrada, em um bar de mulheres, tudo que encontra são personagens deteriorados — um malandro, uma bicha e uma puta, para quem ele relata sua história, o amor pela virgem, a morte dela e seu êxtase. Outros personagens aparecem, como o astrônomo, discutindo a natureza das estrelas e o conceito de tempo. Este apresenta uma visão distanciada do drama do caminhoneiro, que procura agora uma menina em que possa experimentar os velhos sentimentos.
Ao saber que a prostituta (Maria Imaculada) tem uma irmã no início da puberdade (Maria Altamira), ele parte em busca desta para efetuar a reprise da cena fundadora, o atropelamento da virgem. Neste último lance, ele consegue enfim uma ejaculação precoce, num momento de erupção de Eros e Tanatos. Esta potência dupla, desejo e morte, é frisada no enterro da menina, em que sua irmã (a prostituta tornada noiva, dentro da lógica de superposição do romance) casa, numa cena gótica, em pleno cemitério, misturando a benção derradeira ao corpo erotizado de Altamira com o rito matrimonial.
O Caos e o Verbo
No epílogo, o desejo latente por Jacira, que já teve tantas variantes, conhece a mais extrema manifestação. Num novo cenário, a eternidade, aparecem Buda (hermafrodita, portador do Bem e do Mal), um pajé amazônico e Cristo em posições complementares. Descobre-se que um está contido no outro, pois há uma equivalência apesar das diferenças de cada um. O romance finda com a paixão de Cristo por uma garotinha, monitorada sarcasticamente por Freud, numa referência à sensualidade que preside todas as coisas e à circularidade do desejo, que não conhece descanso. A sensualidade despertada em Cristo o leva a uma epifania: “O momento em que todo homem, compreendendo todas as suas origens, desde o grande útero primeiro, torna-se íntegro e uno com o princípio e o fim circulares de todas as coisas” (pág. 146). Embora o tom seja de farsa, como em todo o romance, é extremamente convincente quanto à idéia dos “ciclos de reencarnações” do prazer, presente até nesta dimensão.
O livro, que começa falando do “Caos que antecede o Verbo”, termina com a mesma frase, reforçando sua natureza cíclica, não só quanto à sua temática, mas também quanto à sua estrutura. O que move a ficção de Sérgio Sant’Anna é o Caos, onde inexiste um Verbo ordenador, deixando o homem ao acaso de suas obsessões.
Ponto alto de nossa ficção, A tragédia brasileira encontra em Macunaíma (1928) o seu grande ancestral. Assim como no romance-rapsódia de Mario de Andrade, temos uma alegoria do país, em que as várias camadas humanas convivem em tumulto, só que agora dentro de uma perspectiva teatral, com uma estratificação de tempos, espaços e identidades muito mais radical do que a de Mario, incorporando um universo erudito de referências. Em Macunaíma, as metamorfoses se ligam a uma visão mágico-primitiva introduzida pelos modernistas para destacar a diversidade brasileira, em ritmo de deslumbramento maquinal. No romance de Sérgio Sant’Anna, as metamorfoses se dão segundo um princípio estético, de questionamento da gramática realista do narrar e da intensificação do caráter artificial do teatro. O Brasil revelado por Sérgio Sant’Anna é este espaço melancólico de frustrações e taras, obcecado pelo fetiche da virgindade infantil, que se busca sempre violar, numa tradução de nossa essência corruptora, plasmada esteticamente pela anarquização dos espaços narrativos.
Cinco pontos
• Seu livro Um crime delicado foi roteirizado por Marçal Aquino, Maurício Paroni de Castro e Beto Brant — que também dirigiu sua recente versão cinematográfica. Como a literatura se beneficia dessa transposição para as telas? A adaptação de A senhorita Simpson lhe trouxe alguma vantagem?
O filme Crime delicado foi exibido no Festival do Rio de Janeiro e na Mostra de São Paulo. Beto Brant ganhou o prêmio de melhor diretor na competição carioca (todos filmes inéditos brasileiros), e o filme ganhou um prêmio especial da Imprensa Internacional nesse mesmo Festival do Rio. Quanto à crítica, houve bastante polêmica. Em São Paulo, no dia 27 de outubro, arrancou grandes elogios do crítico José Geraldo Couto, da Folha de S. Paulo, enquanto que, no Estadão, Luiz Carlos Merten mostrava seu desgosto pela obra, sendo contraditado no mesmo jornal, na coluna ao lado, pelo também crítico Luiz Zanin Oricchio. Pessoalmente acho Crime delicado um filme belo e muito perturbador, e realizado com grande ousadia formal. E acho que todos concordam com isso. É claro que fui muito traído, mas quem dera que todas as traições fossem desse tipo. Já no que toca a Bossa nova, nome que ganhou A senhorita Simpson, no cinema, sob a direção de Bruno Barreto, não achei nada. É um cartão-postal de Ipanema, que nada tem a ver comigo.
• O Brasil merece um Nobel de literatura? O Brasil precisa de um Nobel?
Acho essa discussão sobre um Nobel de Literatura brasileiro meio provinciana, e me lembra os tempos áureos dos concursos de misses. Mas quantos autores brasileiros já não mereceram o prêmio? Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral. Se eu fosse votar num brasileiro agora, votaria num conterrâneo de vocês: Dalton Trevisan. Inclusive por um de seus méritos — entre tantos outros, como o de criar uma nova forma para o conto —, que é o de não dar a mínima para o prêmio Nobel.
• De acordo com uma pesquisa divulgada recentemente, os personagens literários brasileiros seriam, em sua maioria, homens brancos, urbanos e de classe média. Esses dados são significativos e relevantes? Ou preocupar-se com eles é entregar-se à patrulha do politicamente correto?
Eu ouvi falar nessa pesquisa, mas de uma outra forma. Que os personagens negros apareciam em situação inferior na literatura brasileira. A verdade crua é que as pessoas de raça negra vieram como escravas para este país e, num determinado sentido, sofrem influência dessa condição inicial até hoje. Mas quero crer que está melhorando. E a gente também não pode esquecer que três dos maiores escritores brasileiros tinham sangue negro nas veias: Machado, Cruz e Souza e Lima Barreto. Mas Machado queria agradar a classe média branca, o que era natural, pois nela estavam os leitores. Agora tivemos o fenômeno Paulo Lins e seu Cidade de Deus, que ganhou o mundo. Mas também os personagens de Paulo vivem uma condição social trágica, como grande parte das pessoas de sua raça. Já nos filmes de Jorge Furtado, como no delicioso O homem que copiava, e no interessante Meu tio matou um cara, os personagens principais, masculinos, são de raça negra, e o ator que os encarnou, Lázaro Ramos, vem alcançando um êxito crescente, inclusive como uma espécie de galã moderno. E, para falar de mim, em alguns textos meus há uma forte carga de erotismo provocada pela atração entre raças diferentes. Para terminar, esperemos que uma verdadeira democracia racial e cultural traga cada vez mais personagens não-brancos à nossa literatura, e não simplesmente como empregados ou empregadas.
• Harold Bloom, em seu último lançamento no Brasil (Onde encontrar a sabedoria?), defende que certos livros, produzindo significação, podem colocar os leitores no bom caminho da sabedoria. Sua literatura tem esse objetivo?
Seria muita pretensão minha dizer que meus livros têm como objetivo colocar os leitores no caminho da sabedoria. Só posso dizer que sempre procuro mergulhar fundo no poético, no trágico, no cômico, e tenho pelo menos a ilusão de que os leitores se enriquecem um pouco lendo meus livros. E, paradoxalmente, começo a levar a literatura cada vez menos a sério.
• Com que se preocupa a nova literatura brasileira?
A pergunta é abrangente demais para que eu possa respondê-la, ainda mais por todos os escritores. Mas quero crer que, mesmo sem uma premeditação, a nova literatura reage às provocações da realidade brasileira e de uma realidade global. Além disso, há a preocupação, ou melhor, o desejo de cada autor de empreender sua viagem, muito pessoal, no mundo e de escrever sobre ela. Mais ou menos isso, mas é uma resposta muito imperfeita.