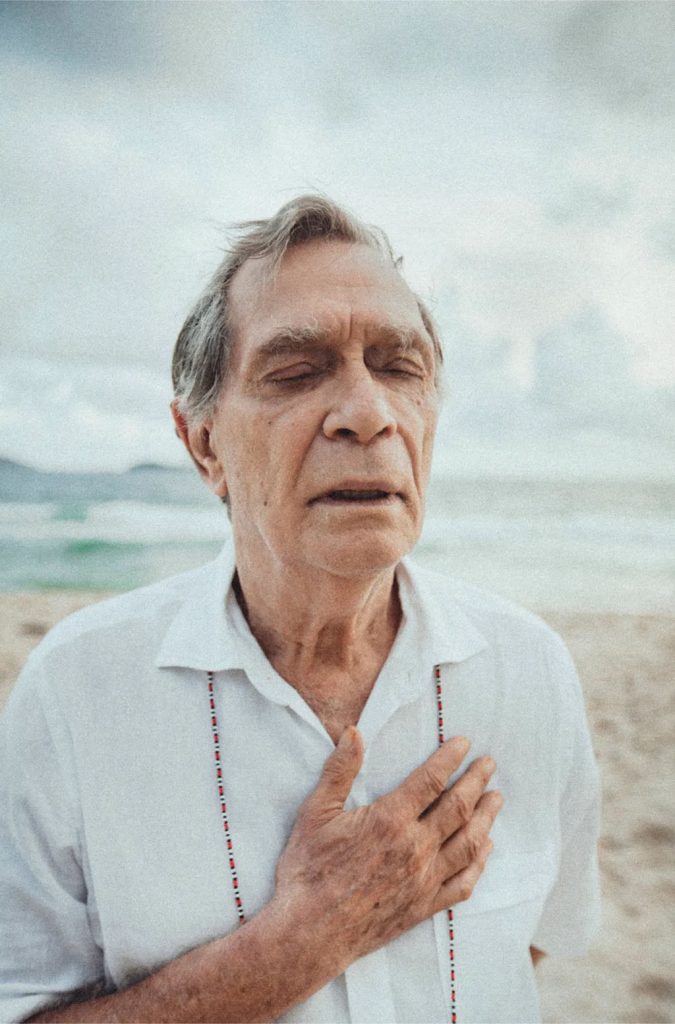Como vimos anteriormente, Jorge, o feiticeiro neófito, tem uma estreia desastrosa na arte vigarista ao aplicar mais amor do que o necessário à doente e acabar por matá-la de emoção. A aflição de Jorge, nesse momento crucial, se formula da seguinte maneira: “E eu poeta lírico idiota o que fiz? Matei-a com calor, com amor. Com poesia”. É um mix de nonsense e cafonice que gera uma das páginas mais hilariantes da literatura nacional. Qualquer pessoa de bom senso faria bem em despedir-se do livro aqui, quando a paciente é morta por um golpe de excesso de poesia & amor. Mas não foi o meu caso, quando o li pela primeira vez. Nem agora quando já perdi a conta das releituras que fiz.
Eu fiquei intrigado, na verdade. É difícil imaginar que alguém fosse capaz de escrever algo tão bobo (hoje se diria “fofo”) sem querer fazer rir. A falta de ajuste no texto entre uma narrativa implícita mais realista e outra, mais próxima de um conto de fadas infantil, já nem digo livre de realismo, mas de verossimilhança interna mínima, apenas aguçou o meu interesse pela literatura de Mautner. Que a novela seja ruim, não há dúvida, mas nunca me convenci de que se tratasse de uma ruindade trivial. É mesmo uma ruindade excepcional!
Prosseguindo então no meu esforço de coligir uma intriga do texto, na sequência, ficamos sabendo que Jorge cumpre o que prometeu à moribunda e adota o menino ressuscitado. Ou seja, desde que começou a narrativa (e mal se passaram dez páginas), Jorge já adotou informalmente um casal de crianças. O que será que o Jorge tem? Espírito paternal incontido, desejo de denunciar a quantidade de crianças brasileiras abandonadas, ou talvez de imitar o Jesus de “deixai vir a mim os pequeninos, pois aos iguais a eles pertence o Reino dos Céus”? Para uma imagem perfeita de família, porém, faltaria nela a presença da Josefina, a mulher com quem Jorge sonhava.
Seja como for, a partir daí, como titular do posto de feiticeiro, Jorge passa a ajudar os carentes segundo o método “vigarista da miséria”: ou seja, contando uma lorota benéfica aos coitados, ofertando-lhes uma ficção com função análoga à de placebo, que os fazia então recuperar a esperança e a saúde.
Um dia, contudo, quando a fama do novo feiticeiro já se tornara tão grande como a de Xorin, um “guarda” irrompe na casinha deles, prende-os, e os leva para a delegacia, onde todos são torturados. Xorin então é dado como morto, à perfeita imagem dos “desaparecidos” da ditadura, ou seja, os membros da resistência democrática que eram mortos na tortura e depois dados pela repressão como tendo fugido e desaparecido.
Aqui convém prestar atenção às datas: o romance é publicado em 1965, um ano depois do golpe de 64, e qualquer relato a propósito de tortura e de sumiço de pessoas em delegacias de polícia seria tido como um ataque ao regime militar, e, portanto, passível não apenas de censura como de prisão do autor, tratado como “subversivo”. O que falta à novela, portanto, não é ousadia em relação a seu contexto reacionário e repressivo. Mautner está longe de ser prudente em relação às circunstâncias externas de publicação, o que não deixa de aludir a uma notícia autobiográfica incorporada pelo romance. De acordo com o próprio Mautner — o que me parece incrível, nos dois sentidos do termo —, ele se filia ao Partido Comunista, levado por Mário Schenberg. Ignoro se houve de fato a filiação, mas é certo que Mautner foi preso em 1964, sendo libertado pouco tempo depois. Reaparece aqui, portanto, a ideia de autoficção, ou de narrativa com muitos elementos autobiográficos disseminados ao longo dela. Na novela, como na vida real, Jorge também é solto em seguida, sem maiores explicações (“Depois me soltaram”). Jorge então volta para a estrada, aparentemente a mesma estrada em que se encontrava no início da novela, quando ainda procurava o feiticeiro, e que, numa leitura simbólica básica, referia à sua própria vida. Ao contrário de Dante, porém, Jorge não segue em frente, mas vai e volta, sempre reaparecendo no meio do caminho, como num looping sem fim.
O estranho é que, desta vez, ao retornar à estrada, ele está sozinho: nem sinal do casal de filhos adotados. A se descartar a ideia — eu não descartaria! — de que o narrador tenha se esquecido dos dois, a narrativa sempre revela uma estrutura de delírio, na qual uma mudança de cenário ou um evento secundário podem acarretar mudanças em tudo o mais. Ou seja, o relato incorpora dentro de si um cenário de viagem mental, que, naquele momento histórico, sobretudo nos termos da contracultura de influência norte-americana, está associado ao efeito das drogas psicodélicas.
Assim, de volta à cena inicial da estrada depois do caso policial que encerrou esse primeiro lance narrativo em torno da feitiçaria filantrópica, é como se o romance recomeçasse, e uma nova viagem se abrisse para ele. E então, como da primeira vez na estrada, o protagonista tem um encontro. Agora, contudo, Jorge já não busca um feiticeiro, mas um “guerrilheiro”, termo que, naquele momento, refere-se compulsoriamente a um membro da luta armada levada a cabo em boa parte da América Latina, mas sobretudo centrada no imaginário heroico da revolução cubana, cujo ícone maior é Che Guevara. Aliás, vale lembrar que, no ano de 1965, o Che deixara Cuba para exportar a revolução para o Congo e depois para a Bolívia, onde seria assassinado em circunstâncias miseráveis. O Brasil, sob ditadura militar, estava no itinerário plausível de um líder revolucionário, e nada impediria que Mautner o colocasse na sua estrada da vida.
Por outro lado, dado que Mautner alegava manter relações com o Partido Comunista, caberia notar que, enquanto organização política que tenta pensar a situação histórica de forma realista, o Partidão foi historicamente contrário à luta armada, considerando com razão que não havia recursos materiais e humanos para que ela se fizesse de forma exitosa — o que não impediu que os militares, depois de destruir as facções revolucionárias, se voltassem também contra o PC e promovessem igual perseguição, prisão, tortura e morte entre os seus membros.
Do encontro de Jorge com o guerrilheiro, segue-se o convite para que Jorge ingresse na luta armada, a qual, de resto, não tem qualquer especificação ideológica a não ser a de confrontar “o golpe de direita”. E como nada mais é explicado, temos de interpretar o episódio segundo a situação da luta armada estudantil, sobreposta talvez a uma ideia de revolução internacional da juventude, ideia cada vez mais pop (“you say you want a Revolution”), vale dizer, mais apropriada pela indústria cultural ao longo da década de 1960. E é nesse ponto que, pela primeira vez, o narrador se lembra de seus “filhos” e pergunta o que será deles, recebendo uma resposta tranquilizadora do líder guerrilheiro (“nós cuidaremos deles”). É o bastante para o protagonista receber com alegria uma metralhadora, instrumento menos bélico do que simbólico a marcar a sua iniciação no mundo da guerrilha.