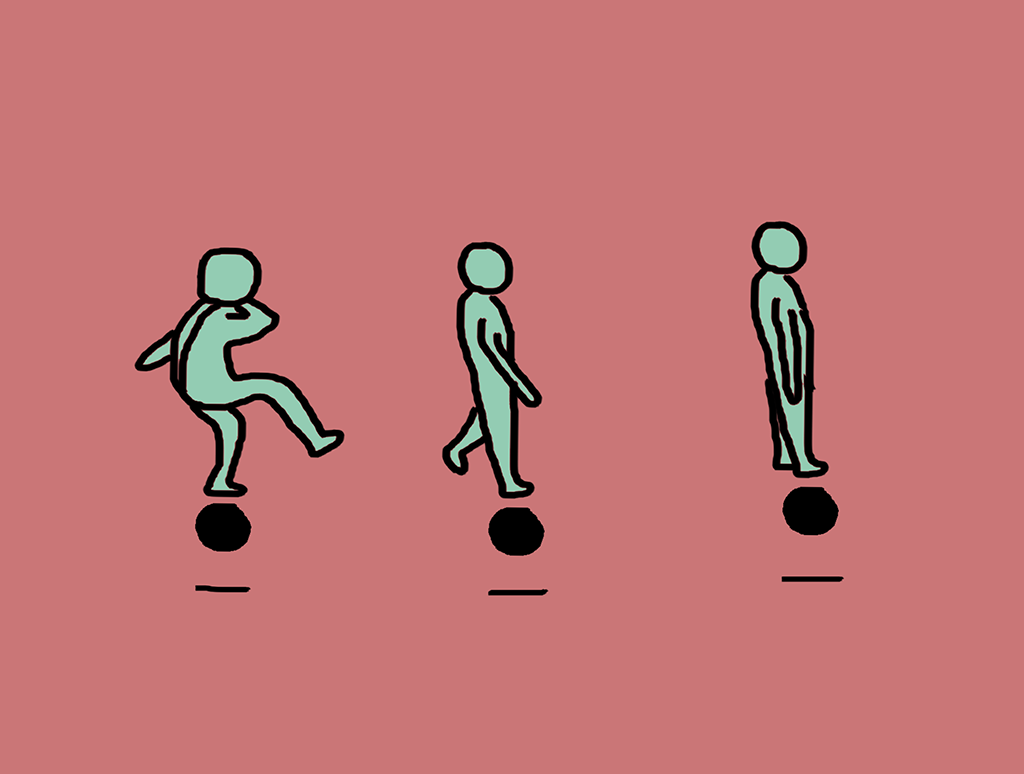Você tem que encontrar a sua voz, meu caro. Não a do outro.
(Frase atribuída a Dalton Trevisan, quando comia uma broinha de fubá com Flores Dias, antes de 2004)
Em 2005, meu pai, o professor e poeta Flores Dias (Curitiba, 1940 – Curitiba, 2010), lançou seu único livro de poesia: Pequenos contos escritos em guardanapos de papel, com uma tiragem artesanal (Filha, para que editora?, dizia ele) de 50 cópias (e uma nota de rodapé na Gazeta do Povo, 8 de agosto de 2004). Algumas pessoas, como o escritor curitibano Carlos Machado (em seu prefácio no livro Era o vento, ed. Patuá, 2019), afirmam que compareceram cerca de 30 alunos e 5 amigos no lançamento que aconteceu no restaurante dançante Gato Preto, lendário bar da capital paranaense. Porém, o que falava meu pai é que todas as 50 cópias foram vendidas naquela noite.
Carlos Machado era um de seus alunos, havia acabado de lançar seu primeiro livro de contos (A voz do outro, ed. 7letras, 2004), mas outros alunos que se tornaram grandes nomes da ficção curitibana também o prestigiaram: Paulo Sandrini, Marcio Renato dos Santos, Assionara Souza, Fernando Koproski, Luiz Felipe Leprevost, entre outros. Eu tinha apenas 8 anos e todos esses autores em início de carreira estavam com seus vinte e poucos anos.
Já os amigos mais próximos de meu pai, como Dalton Trevisan (de quem mimetiza o estilo e rouba meu nome), Roberto Gomes, Wilson Martins (o grande crítico literário), o simpático Manoel Carlos Karam, Cristovão Tezza, nosso maior romancista, e a querida e inventiva Luci Collin, foram cumprimentar o professor Flores Dias naquela noite. Assim sempre me dizia ele, para cada amigo ou amiga, escreveu uma dedicatória usando seus estilos. Nessa época, Leminski já tinha feito sombra sobre poetas maiores.
Enquanto muitos desses escritores e escritoras ainda andam pelos paralelepípedos soltos da Praça Osório, mesmo se em apenas palavras, Flores Dias ficou esquecido e desapareceu por completo quando perdeu o ar engasgado com um pedaço de osso do frango assado que comia com exasperação. Era um homem muito ansioso. Nesse dia, foi a única vez que me chamou de filho.
Em algum momento, Carlos Machado me convenceu a revisitar os poemas soltos nas páginas já amareladas do Pequenos contos escritos em guardanapos de papel, puxar uma perna por sobre a outra, arrancar a fórceps outras tantas vírgulas, pontos finais e letras. E decidi que os textos deveriam ser jogados para outras gerações, soltar os versos em um balão a gás e se deixar perder. E, portanto, reinventar o que já era uma invenção, quem sabe assim torná-los, de certa forma, reais. Mas um real invisível.
Não importa se foi um homem, uma mulher, um pai, uma filha ou um filho quem escreveu os poemas que se seguem, mas sim que o centro de tudo é o silêncio das palavras, o ruído surdo que elas fazem quando se encontram com o vazio.
Gotas de apresentação}
Sou Dinorá.
Não sou uma mulher.
Sou Dinorá.
Nem menos um homem,
talvez um meio-homem-uma meia-mulher,
Quem sabe apenas vinte e cinco por cento somente de um ou de outro,
de uma ou de outra.
Sou Dinorá
Dinorá Flores.
Lembro-me do espelho da casa de minha avó chorando as lágrimas que nunca se enxugam, passando a toalha, mas que não impede que voltem efusivas, aos cântaros. Sempre depois que os meninos me chamavam para jogar bola e eu queria jogar meus anéis dentro da caixinha de joias e escolher a mais bonita. Chorava quando diziam que meus cabelos se confundiam com os de suas irmãs.
Chorava quando, em dúvida, ficava por segundos, minutos, horas em frente das portas: apertando as pernas, cruzando os joelhos, para cá ou para lá? Saíram as meninas, saíram os meninos. Entravam as meninas, entravam os meninos e eu ali sem poder escolher para qual ir, puxar a fechadura e entrar. Simples assim.
Cada semana essa decisão se degringolava. Até meus versos se cansaram: dizer todos para todos, todas para todas, mas dizer todos para todas não se podia. Em qual me enquadra? Onde me visto. Se é que sou, de fato, visto, vista.
Apenas doze anos, os pelos arranhando o embaixo do braço, coçando na virilha. Despir-me. Olhar para o espelho. Ruborizar-se de mim mesmo, de mim mesma, praticamente.
Sou Dinorá, a que escreve com os carrinhos de ferro, sou Dinorá, o que dança com uma abertura total de uma ponta a outra e que anda nas pontas dos dedos.
Posso amar a mulher sensual, com os peitinhos rosados, como João. Posso arder de vontade pelo cheiro do trabalho, do suor do estivador que para no botequim para tomar a saideira, estonteando com o cheiro de macho, como Maria.
Sou Dinorá.
Não sou uma mulher.
Sou Dinorá.
Nem menos um homem,
talvez um meio-homem-uma meia-mulher,
Quem sabe apenas vinte e cinco por cento somente de um ou de outro,
de uma ou de outra.
Sou Dinorá
Dinorá Flores.
Todas e todos no mesmo suspiro do sorriso estalado de uma face à outra de um ser que não se identifica e que se perde na não formalidade dos versos, do amor. porque versos são invenções de (da?) vida, inconsequentes em sua inocência.
Versos não têm cheiros. nem cores. sem sons. nossos versos são estalos surdo-mudo-insossos, mas que gritam, esperneiam-se com todas as letras em CAIXA-ALTA:
SOU DINORÁ FLORES e ponto final.
Se você veio aqui em busca de uma história arrebatadora, virou na esquina errada.
Posso apenas, malemá, pintar um quadro e desenhar algumas notas, gotas de chocolate por todo o papel.
Quem disse que as pessoas têm algo para dizer? O silêncio não basta? Estar escondido entre as sacas de algodão colhidas às pressas antes da chuva e estocadas debaixo da casa de palafitas não é suficiente para você querer ser invisível?
Eu posso ser visível apenas quando procuro o ar por cima do branco encardido dessa planta.
Isso me lembra os peixes do lago no Passeio Público: os bicos para fora da água puxando o oxigênio para dentro, cuspido em forma de bolhas para que, depois de estouradas, tornarem-se comida. Nada mais. O dia inteiro fazendo isso. Comer, dormir, nadar, comer, nadar, dormir.
E peixe dorme?
Acho que não, Dinorá, caso contrário, os gatos teriam devorado todos. Não acha?
Não. Não tenho nada para dizer, minha história começa e termina quando nasci. Natimorto.
A sensação do Hospital Oswaldo Cruz, naquele ano de 1997. O mundo estava para acabar, bastava girar a chave para 1998, 1999 e voilà: 2000. Era dezembro. Dezembro de 1997. E fiquei em estado-árvore assim que nasci.
Natimorto tem sexo?
A evolução está baseada nas necessidades de sobrevivência, não é mesmo? E se não se sobrevive, evolui-se?
Nasci peixe.
E, por isso, não tenho história para contar e duvido que alguém consiga relatar os meus primeiros anos de não-vida, quando eu estava natimorto, apenas abrindo a boca para fazer bolinhas de sabão, enquanto as outras crianças jogavam bola e construíam casinhas na maternidade do Hospital São Vicente.
Batismo com água benta não tive.
Me deram o nome de Dinorá porque alguém disse: deixapralá. Ignora. Por aglutinação, me chamaram Dinorá. Só chora esse bebê, mesmo em silêncio e sem se mexer.
Nasci natimorto.
Morri semivivo ou semiviva, ninguém nunca soube.
E assim acaba minha história, quem nem começo e meio teve.
Apenas fim.
A pessoa deve escrever o nome, a data de nascimento, a data da suposta morte e o número do CPF, mesmo se ainda não tiver. Essa é a regra. Simples. Basta digitar. Deve trazer consigo todos os certificados dos cursos não cursados, já que os terminados não têm graça, todos fazem o mesmo, tem que ter o diferencial. E o x da questão é este: mostre tudo o que você não fez.
Até aí tudo bem, muito simples.
O problema foi quando me pediram para marcar o quadrinho referente à minha cor. Não tinha a cor prisma, apenas a cor transparente.
Pensei, pensei, pensei e achei que estivesse na página errada.
Olhei para o sol com os olhos abertos. Fiquei assim por cinco minutos e trinta segundos, fechei os olhos e abaixei a cabeça. Preparei a caneta na posição correta para marcar minha cor no papel, então abri a íris. Decidi que, a primeira cor que me viesse na memória seria a minha cor.
Prisma.
Mas não tinha essa cor para marcar.
Então o que foi que eu fiz?
Desenhei um quadrinho ao lado da cor transparente e marquei com a caneta. Ao lado escrevi: arco-íris.
E se eu fingisse ser alguém que não sou?
Não seria assim que deveríamos fazer?
Chove no molhado, Dinorá, é assim que fazemos diariamente.
E quando somos quem somos?
Nunca. Já que nunca somos quem somos, pelo simples fato de não sabermos quem somos quando achamos ser alguém.
A licença poética tem limite e acaba quando a liberdade do outro é interrompida.
Não adianta bater no umbigo e dizer: minha vida.
Não existe sua vida.
A não ser que seu egoísmo te lance para as montanhas e de lá não saia nunca mais.
Morrerá com medo de altura.
O máximo que poderá fazer é correr uma maratona (mas para isso tem que ser invisível e não conversar com estranhos), subir em algumas árvores, balançar em um galho verde até escorregar. Salve-se quem puder.
Suas unhas são grandes o suficiente para se apoiar no caule?
Não.
Então, faça como a lesma: siga adiante e finja que não foi com você.
…
apenas desvie seu corpo da rajada de sal grosso que pode cair nas suas costas, porque caso contrário terminará sua vida como fosse uma gosma nojenta estatelada na pedrinha embaixo de uma folha seca.
Obs.: se for fazer a maratona em Curitiba, use um corta-ventos. por aqui faz muito frio à noite.
Intervenções
(…)
Resolvi deixar essa última parte em branco e transformar o livro em um livreto, desses que podemos distribuir para os amigos, como faz Dalton Trevisan, amigo de meu pai.
Um livreto apenas com muitas vozes invisíveis. Coletivamente vale como se fosse um romance de formação como se fossem elucubrações inventadas.
Certa vez, ouvi meu pai falando com o Carlos Machado que o Dalton Trevisan lhe disse: você tem que encontrar a sua voz, meu caro. Não a do outro. (E foi daí que o Carlos tirou o título de seu primeiro livro de contos, A voz do outro, o pastiche do pastiche).
Dessa forma, posso encerrar meu destino como escritor ou escritora no mesmo dia em que iniciei. O fim pressupõe-se em pequenos atos de ociosidade de luta contra a vida. E no final das contas, todas as palavras são pastiches de outras palavras e todos vão para debaixo da terra, o nome será esquecido sem ao menos outra opção. E é um fim definitivo, mesmo o ponto final.
Fiquemos com as reticências. Pois elas são invisibilidades libertadoras!
…
Curitiba, inverno de 2021.
Dinorá Dias.
>>>
NOTA
Pequenos contos escritos em guardanapos de papel integra o livro Invisibilidade coletiva, que será lançado em maio pela Patuá.