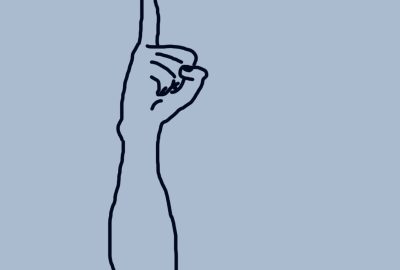Li a primeira página de Bandeira negra, amor, de Fernando Molica, torcendo o nariz. Meus preconceitos todos entraram em ebulição. Então se tratava de mais um livro sobre favela, marginais, bandidos vítimas e policiais algozes? Insisti. E fui recompensado com uma prosa que, a meu ver, nada tem a ver com a literatura contemporânea brasileira e seu umbiguismo extremo.
O livro conta a história a Fred, um advogado respeitado que, nas horas vagas, é militante do movimento negro. Ele investiga a execução de três jovens, evidentemente negros, numa favela do Rio de Janeiro. Tudo indica que a polícia tenha executado os jovens. O problema é que Fred está envolvido com Beatriz, justamente a porta-voz da Polícia Militar, responsável por explicar os casos envolvendo a corporação.
Seria apenas mais um enfadonho livro sobre bandidos bonzinhos e policiais mauzinhos, negros vítimas e brancos algozes, não fosse a intolerância que o autor dedica às obviedades. Não, os bandidos não são bonzinhos e nem os policiais mauzinhos; não são os negros vítimas e os brancos algozes. Fernando Molica não se rende ao maniqueísmo fácil. O resultado disso é uma prosa envolvente, com personagens bem construídos e dramas que vão muito além da caçada aos culpados pela execução dos três jovens.
O grande trunfo do livro é mesmo Fred. Ou melhor, Frederico Cavalcanti de Souza. O personagem é a melhor expressão das contradições que fazem parte da vida do negro mais ou menos politizado no Brasil. Na infância, Fred foi ensinado pelos pais a negar sua raça. A despeito de sua cor, “venceu na vida”. Hoje, esquecendo os ensinamentos de seus pais e ignorando o sucesso numa carreira teoricamente conservadora e, por extensão, racista, Fred dá expediente numa ONG de defesa dos negros.
Molica monta, assim, um mosaico complexo da questão racial brasileira, que não aceita simplificações grosseiras. Fred é o negro que namora uma mulher branca; é o advogado de sucesso que também é parado numa blitz por causa de sua cor, aparentemente incompatível com o carro que dirige; por fim, é o militante de uma causa que, na infância, aprendeu a ignorar à força do ferro quente que lhe alisava o cabelo ruim.
No meio desse conflito individual, a prosa de Molica se rende à violência urbana como temática paralela. E, neste ponto, o ponto alto é Beatriz, porta-voz de Polícia Militar, ao que tudo indica, honesta e idealista, mas não ingênua. Cabe a ela despistar a imprensa no caso dos negros executados, mas também cabe a ela dar garantias à mesma imprensa de que o caso será investigado com rigor. Beatriz é linda em sua farda. É mulher que não se rende à masculinidade inerente ao caso. É sutilmente ambígua.
Bandeira negra, amor não teme se entregar à linguagem contemporânea. Enfrenta esse desafio com competência, ainda que eu considere tal expediente perigoso, porque tende a envelhecer o romance. De qualquer modo, a inclusão de pequenos trechos de conversas de internet (msn) no romance é um achado, se não pela originalidade, pela contextualização do artifício. Enquanto outros autores tentam criar obras cuja essência é a linguagem supostamente revolucionária, Molica preferiu inseri-la numa narrativa mais conservadora. Faz muito mais sentido.
Se o desfecho do livro oferece surpresas que não pretendo revelar aqui, por outro lado não posso deixar de mencionar a resignação com que Beatriz e Fred encaram seus destinos. Em meio a tantos personagens cheios de uma coragem malfadada, destinados a se tornarem santos ou mártires, sem espaço algum para a sutileza, estes dois se revelam mais humanos e, por isso mesmo, admiráveis. Fernando Molica parece dar de ombros para o espírito quixotesco dessa literatura urbana maniqueísta. A humanidade de seus personagens é a maior qualidade de Bandeira negra, amor.