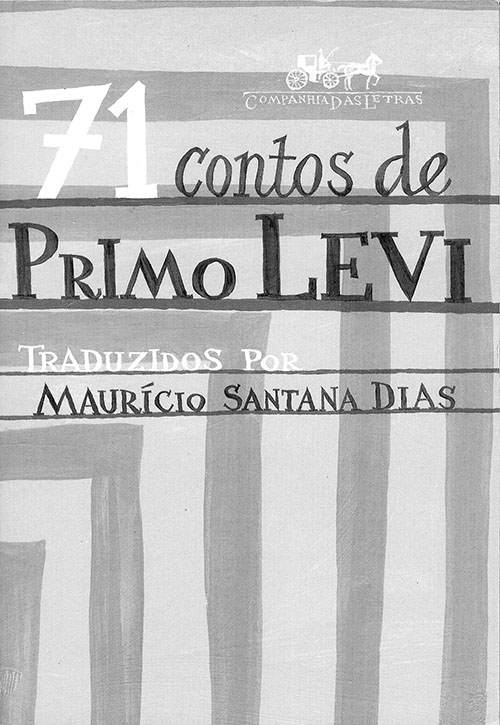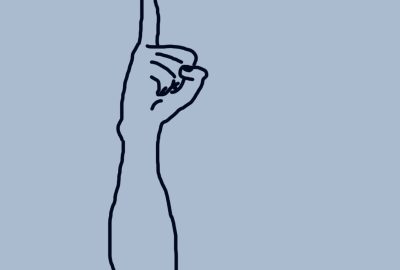O nome do autor é mais ou menos familiar ao leitor brasileiro. Primo Levi, judeu italiano, ou, como ele mesmo disse em circunstância de total risco, “italiano da raça judia”, nasceu em 1919 e morreu em 1987. Quanto a este último fato de sua vida (a dele e a de qualquer um de nós, a morte), pairam dúvidas significativas: ele foi encontrado morto no poço da escada do edifício onde viveu a maior parte sua vida, em sua cidade natal, Turim. Matou-se?
É possível. Mas contra essa hipótese pesam vários fatores, a começar pelo mais gritante de todos: Levi foi um químico de grande capacidade, literalmente doutor na matéria (título obtido em 1941, em Turim mesmo, e por sinal num tempo em que os judeus já eram explicitamente segregados em seu país natal, o que sublinha o aspecto casual de sua trajetória, neste caso amparada por um orientador que desprezou as ameaças anti-semitas e acolheu o jovem estudante); ora, teria sido mais fácil a ele misturar uns pozinhos com umas gotinhas de sabe-se lá quais coisas daquelas que atendem por nomes compridos e indecifráveis para o comum dos não-químicos, como o prezado leitor e eu. Misturar e meter na boca. Morte tranqüila.
Mas não: ele aparece morto, inopinadamente, numa idade nem tão avançada assim. Alguns intérpretes fazem questão de atar mais um laço biográfico em sua vida e dizer que ali e então, Turim e 1987, Auschwitz é que o teria matado.
Auschwitz
Auschwitz: porque Primo Levi esteve lá por quase um ano, trabalhando como escravo, primeiro em serviços braçais e depois, quando souberam de sua titulação, como químico numa das várias fábricas alemãs que usaram a mão-de-obra dos presos. A dele fazia plástico sintético. Por que foi levado para lá? Porque era judeu, e isso, naquela altura, como se sabe, mas não custa nunca repetir, era crime aos olhos dos estados nazista e fascista. A perseguição foi maior entre os judeus de língua alemã ou línguas eslavas, certo, mas entre os que falavam o singelo e caloroso italiano a coisa também rolou, valendo a pena lembrar o oscarizado A vida é bela, com aquele magnífico clown que é Roberto Benigni.
Levi, já doutor e vivendo sem ser incomodado para além da segregação civil, resolve, como homem de bem que foi, aderir a um grupo de partigiani, de combatentes antifascistas, em 1943. Com nulo preparo, ele e seu pessoal foram presos logo, mandados a uma prisão italiana mesmo, a qual, para sua desgraça, foi tomada por uma tropa alemã (tudo isso se passa lá no norte da Itália atual, é bom lembrar: pertíssimo dos domínios do maldito Führer); daí, ele, entre 650 pessoas dali, é mandado para Auschwitz, o malditíssimo campo de trabalhos forçados e extermínio. Era 22 de fevereiro de 1944. Dos 650, quase um ano depois, quando tropas russas libertaram os prisioneiros, num dos lances finais da Segunda Guerra, sobraram pouco mais de 20 para contar a história.
Contar a história: Levi sobreviveu e resolveu contar o que experimentara. Depois de, na vida real e dura, demorar de janeiro a outubro de 1945 voltando para sua cidade (passou uns meses num campo de refugiados na Rússia, mais outros meses com o pé na estrada), ele se bota a escrever, coisa que até então nem cogitara. E sai desse esforço um livro que devia constar de toda biblioteca civilizada, para nunca mais esquecer: É isto um homem? (edição brasileira pela Rocco, 1988, tradução de Luigi del Re). Era 1947: apenas um ano e meio depois de chegar em casa e a Segunda Guerra ter encerrado, Primo Levi oferece ao mundo suas lembranças e suas reflexões sobre o que foi aquilo, aquela coisa inominável. (Editoras recusaram o livro, porque muita gente preferia, até por motivos humanitários, não falar do horror naquela hora em que as feridas ainda vertiam sangue e água.)
Esquecer ou lembrar? A resposta de Levi é “Lembrar”. “Cedo ou tarde, na vida — diz Levi —, cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é irrealizável; poucos, porém, atentam para a reflexão oposta: que também é irrealizável a infelicidade completa”. Essas verdades banais e indesmentíveis estão por todo o livro, impondo ao leitor uma desacomodação cheia de humanidade. Ao relatar a despedida de seus companheiros de infortúnio ainda em Turim, quando as mães prepararam as fraldinhas, os travesseiros e os brinquedinhos para levar junto com os filhos pequenos para o inferno de Auschwitz, cena patética a que se soma outra, a das mesmas fraldinhas, já no campo, penduradas para secar em medonhas cercas de arame farpado, ele nos pergunta: “Será que vocês não fariam o mesmo? Se estivessem para ser mortos, amanhã, junto com seus filhos, será que hoje não lhes dariam de comer?”
Ao fim do primeiro dia no campo, Levi conta que os presos olhavam para o chão, sem levantar os olhos para qualquer dos outros conhecidos, tal a humilhação que até ali já tinha sido praticada contra eles. Além das ofensas verbais e morais e das agressões físicas, haviam já tirado de cada um as roupas, os sapatos, os cabelos. No parágrafo imediato, levanta-se sua voz mansa e profunda: “Bem sei que, contando isso, dificilmente seremos compreendidos, e talvez seja bom assim. Mas que cada um reflita sobre o significado que se encerra mesmo em nossos pequenos hábitos de todos os dias, em todos esses objetos nossos, que até o mendigo mais humilde possui: um lenço, uma velha carta, a fotografia de um ser amado. Essas coisas fazem parte de nós, são algo como os órgãos de nosso corpo”.
Os contos
Levi nunca mais parou de escrever relatos e reflexões, sozinho ou coletivamente, sobre sua transcendental experiência. Um dos exemplos é A trégua (edição brasileira pela Companhia das Letras, 1997, tradução de Marco Lucchesi), que narra os últimos dias no campo de extermínio alemão, a ida em trem para o campo de refugiados russo, depois o retorno à Itália, tudo mediado com relatos de grande sabor humano, com amizades, mesquinharias e o velho e conhecido Azar, sobrepairando.
Só que — e aqui entramos na matéria desta torta resenha — Levi escreveu muito mais coisas, especialmente contos, que vão além desse tema que ele escolheu, ou melhor, que o escolheu, que se impôs a ele. Contos que estão publicados numa antologia imperdível chamada, singelamente, 71 contos de Primo Levi (Companhia das Letras, tradução e prefácio de Maurício Santana Dias). Dessa sua arte especifica, tínhamos tido uma notícia recente por O último Natal da guerra, contos que o próprio Levi não alcançou reunir em livro (morreu antes), tendo sido lançados em jornais e revistas, edição brasileira da ótima série da Berlendis & Vertecchia dedicada à literatura italiana do século 20 em 2002 (tradução de Maria do Rosário Toschi Aguiar).
Nessa antologia que tem Natal no título, aliás, já dá para ler os vários estilos de narrativa que Levi pratica, quando se trata de conto: há o relato realista puro e simples, em que o narrador assume a voz do próprio autor, sem mediações, há o conto alegórico de estilo por assim dizer kafkiano (que é na verdade da antiqüíssima tradição bíblica), mas há também os contos escritos em forma de puro diálogo, como pequenas peças de teatro, algumas vezes como fábulas, com personagens animais interagindo com humanos em pé de igualdade racional, por assim dizer: conversam, trocam impressões, discutem, ponderam.
Nos 71 contos, aparece de tudo, em escala e realização superiores. É uma verdadeira maravilha. Como descrever isso aqui? Primeiro de tudo, é preciso dizer que não sei como dizer as enormes e profundas sensações da leitura. Se fosse o caso de procurar um ponto em comum entre os contos, cuja temática varia bastante, tanto quanto as estratégias de narração, eu arriscaria uma hipótese: os contos de Levi se afastam da tradição do conto moderno ao estilo de Poe e de imensa parte dos contistas ocidentais, aquele estilo que faz convergirem todas as tensões do enredo e da linguagem para um final apoteótico, em geral alcançando o patético. Sobre o conto de Levi, melhor descrição talvez seja aquela famosa passagem de The waste land, de Eliot: o mundo, como as histórias de Levi, acaba não num estrondo, mas num suspiro.
Vamos a um caso, dos mais espetaculares. O conto Quaestio de centauris, assim mesmo em latim (Questão de centauros), é narrado em primeira pessoa por um sujeito que conta, já nas primeiras linhas, que seu pai mantinha no estábulo um centauro. Toda a família convivia na boa com o estranho ser, metade cavalo e metade homem, como se sabe. O centauro tinha aprendido a língua dali com facilidade, ele que já falava outras, como o grego, porque era natural lá nas bandas da Tessália.
E aí, sem muita mediação, este mesmo conto começa a relatar lendas do mundo segundo a tradição dos centauros, tal como contadas ao narrador em várias conversas pelo próprio centauro que é personagem, por sinal com um nome específico, Trachi. O mito do dilúvio universal, por exemplo, é diferente naquela tradição: não havia sido salvo um casal de cada espécie, numa arca como a de Noé, mas apenas arquétipos — o homem, mas não o macaco; o cavalo, mas não o asno. E como então nasceram as espécies, após o fim do dilúvio?
Simples, diz Trachi: ficou uma lama enorme, com os restos de todos os seres que morreram, e desse barro apareceram os outros seres todos, dada a fertilidade do material, dada a fornicação universal e total de tudo com tudo e todos: “Foi um tempo que jamais se repetiu, de fecundidade delirante, furibunda, em que o universo inteiro sentiu amor, tanto que por pouco não se retornou ao caos”. Não é uma maravilha de fábula, disfarçada de mito fundador? Misturando percepção humana racional (a oposição entre a ordem e o caos) com uma visada semicientífica (a lama podre e fértil) e com o animismo mais singelo (o centauro, que de resto ainda ainda engata na tradição mitológica clássica), Levi nos eleva a vários palmos do chão. E nos faz ver melhor esta vida cá de baixo.
Nessa mesma seqüência se explica, segundo o texto adequadamente, a existência de seres aparentemente disparatados. Como houve essa transa sexual sem limites, as espécies se cruzaram de modos insuspeitáveis para o que o narrador chama de “ciência oficial, ainda hoje embebida de aristotelismo”, que nega tais cruzamentos. (Sendo o autor um químico de verdade, a ironia cresce de tom.) E da suruba irrefreada nasceram seres que assim se explicam: o delfim é como é, semelhante a um peixe mas amamentando os filhotes, porque é filho de um atum com uma vaca; a borboleta nasceu do conúbio de uma mosca com uma flor; o morcego, da mistura de uma coruja com um rato. E por aí se chega ao nascimento do primeiro centauro, filho de Cam, um homem, com uma égua tessaliana.
Segue o conto, e aí o narrador vai entrar num relato mais delicado. Em sua adolescência, descobriu-se apaixonado por uma moça da vizinhança, cuja família, aliás, sabia do centauro e convivia com Trachi, também na boa. Uma noite, saem os três, e Trachi (que, por sinal, era bastante mais maduro, com seus 250 anos), inspiradíssimo, canta coisas lindas numa língua incompreensível aos jovens, que pedem que ele traduza o que canta. Trachi se recusa, mas depois, quando está a sós com o narrador, confessa: está apaixonado pela menina, Tereza. Faria qualquer coisa para agradá-la, conquistaria reinos, devastaria campos e plantações, correria até o fim do mundo. O narrador, que estava apaixonado mas não contara nada ao centauro, cala sua dor, neste misterioso e radical triângulo amoroso.
Ocorre que o centauro tem uma particular percepção da fecundidade do mundo. Sempre que um bicho qualquer dá à luz, sempre que uma flor brota, sempre que uma camada da terra se mexe, ele sente arrepios, numa solidariedade radical com a vida em renovação. E ocorre que num dado dia o personagem-narrador sai com Tereza, que parecia tímida mas que se revela na hora uma mulher decidida: “Soaram as sete no sino do vale, e ela se achegou a mim de um modo que não deixou dúvidas” — e essa frase delicada é tudo o que sabemos do amor dos dois. Nesta mesma hora, Trachi estava num ferreiro, consertando as ferraduras; e seu corpo se arrepiou de um modo fulminante, de tal forma que ele saiu arrebentando portas e cercas, atrás de uma égua com que satisfizesse sua sede de amor.
Como acaba o conto? Com um suspiro, que nada explica só faz aumentar nossa perplexidade: o narrador diz que Trachi nunca mais voltou, mas ficou sabendo que houve seis casos de éguas e jumentas atropeladas por um centauro fogoso, e que depois disso nada mais se ouviu. Até que bem longe dali uns marinheiros relataram ter visto “um homem cavalgando um golfinho”; os marujos o interpelaram, mas nada conseguiram saber, e a estranha dupla sumiu da vista.
Realidade mais intensa
Esse é um bom exemplo da força narrativa e do patético alegórico dos contos de Levi contidos na recente antologia, imperdível antologia. Naturalmente, como ficou dito atrás, há relatos realistas, muitos dos quais lidam diretamente com uma visão sarcástica da sociedade de mercado, esta que nos leva para dentro de suas entranhas sem pudor — circunstância esta, aliás, marcada com muita propriedade no excelente prefácio da edição, atento que é ao plano da vida real representada nos contos, mesmo nos mais delirantes.
Por exemplo: há em vários contos a presença de um personagem reiterado, um certo Sr. Simpson, norte-americano, engenheiro de formação mas vendedor por gosto e ofício, que a cada tanto tem nas mãos uma nova máquina para vender, uma nova suposta maravilha da tecnologia a passar para os incautos, uma nova invenção de necessidade. O Versificador é o primeiro: uma máquina que compõe poesia em qualquer estilo e metro, sobre qualquer tema, desde que bem instruído. O Mimete, aparelho que duplica coisas em três dimensões, tecnologia que leva o incauto Gilberto a duplicar sua mulher, numa história de fim engenhoso. Um medidor de beleza, devidamente ajustado ao gosto da moda, o Calômetro. O processo de congelamento de gente viva, de comprovada eficácia, que permite a uma moça chamada Patrícia passar uns dois séculos e chegar a 2115 com 25 anos, frescos e jovens.
Como então resumir numa resenha estas maravilhas todas, e ainda dizer que faltou enumerar cenas tão ou mais sensacionais? Não sei como, nem pretendo. Quero é seguir lendo Primo Levi, nesta edição que é uma verdadeira bênção para a leitura inteligente: ficção mezzo científica, mezzo fabular e outro impossível mezzo crítica da vida reificada do mundo do mercado.