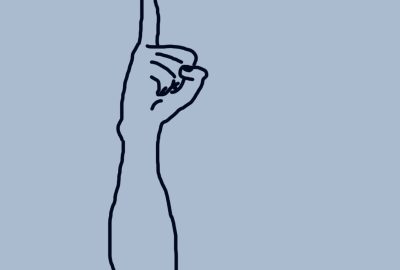A notícia é recente. O governo cubano decidiu reformar o bote pesqueiro “Pilar”, que o escritor norte-americano Ernest Hemingway usava em suas viagens pelo mar do Caribe e que está guardado em uma praia da ilha. A casa que o escritor comprou a leste de Havana, onde ele viveu entre 1949 e 1960 e em cujos porões foram descobertos os manuscritos de O velho e o mar, conhecida como Finca Vigia, passará também por uma restauração. Depois da morte do escritor, em 1961, ela foi cedida pela viúva ao governo cubano e transformada em museu. Recentemente, um furacão destruiu parte dos telhados e das paredes.
O pesqueiro de Hemingway, a casa de Hemingway — tudo isso costuma ser arrolado na lista, exótica, do folclore literário. Curiosidades jornalísticas, fofocas de biógrafos, relíquias para turistas, objetos de exploração comercial, pensa-se — coisas, enfim, que nenhuma relação importante teriam com a literatura. O mesmo desprezo afeta, por exemplo, as três famosas casas que o poeta Pablo Neruda deixou no Chile — La Chascona, em Santiago, La Sebastiana, em Valparaíso, e a casa mais célebre de Isla Negra. Visitam-se as casas, rendem-se homenagens, tiram-se fotografias, compram-se suvenires, ou livros. Está bem, que seja assim. Mas a literatura, se diz, está em outro lugar, muito longe dali.
Mas será? Esse desprezo pelos objetos, pelos restos existenciais, pelas circunstâncias, pelos vestígios da história pessoal, desprezo enfim pelo modo como o escritor se situa no mundo e na história, e pelos embates reais que travou para chegar a escrever, isso não significaria, na verdade, outra coisa? Podemos tomá-lo como o reflexo de uma maneira “técnica” e “profissional” de ler a literatura. Uma visão purista do literário. Até porque escritores estão sempre contaminados pelo real. “Ó vos, homens sem sol, que vos dizeis os Puros/ E em cujos olhos queima um lento fogo frio/ Vós de nervos de nylon e de músculos duros/ Capaz de não rir durante anos a fio”, escreveu Vinicius de Moraes em sua célebre Carta aos puros, poema dos anos 50, em Montevidéu. “Ó vós que só viveis nos vórtices da morte/ E vos enclausurais no instinto que vos ceva/ Vós que vedes na luz o antônimo da treva/ E acreditais que o amor é o túmulo do forte”. Vinicius falava do homem “comum”, de qualquer homem — mas é claro que falava na posição de poeta. Falava daquilo que, para o poeta, é essencial, e que grande parte dos homens que estão fora não podem compreender. Sujar-se na inconstância da vida, fazer da escrita um instrumento de escavação do real, não deixar que escape o vínculo difícil que une a literatura ao mundo. Apegar-se a ele, sempre.
Esta contaminação de que fala Vinicius de Moraes não é um defeito, uma fraqueza, ou uma deficiência; ao contrário, é dela e através dela que a literatura se encorpa e se faz. Mais ainda: esse contágio é, também, um efeito do modo como a literatura, quando lida com liberdade, se derrama sobre a vida e arrasta, no roldão das palavras, todo um mundo. Só uma leitura dogmática, só leitores insensíveis e pernósticos poderiam imaginar que o pesqueiro de Hemingway, onde ele rascunhou o extraordinário O velho e o mar, ou a casa em que se refugiou do mundo, até retornar aos EUA para cometer suicídio, são apenas curiosidades, ou relíquias de um morto. São bem mais que isso: são lugares do literário.
Mas quem observa a literatura desde a perspectiva fria dos escritórios não consegue ver isso. Voltar à experiência íntima e direta da literatura, sem o apoio de intermediários, sem manuais de leitura, sem muletas, ou precauções. Regressar à leitura dos grandes livros, retomar a experiência — prazerosa, mas atordoante — do puro prazer de ler. Recuperar o impacto, a desordem íntima, a devastação interior que a leitura de um grande livro sempre provoca. Expor-se: entender que ler é, também, ser lido. Nada se assemelha ao contato silencioso e misterioso, mas intenso, que liga o leitor a um livro. Trata-se de uma experiência íntima, secreta, em que a inteligência e a sensibilidade se expandem, mas também se apequenam. Hoje, infelizmente, a idéia desta colisão com o real, do impacto contido nesta experiência particular, da exposição sem defesas ao calor do texto, parece perdida. As leituras, hoje em dia, ou são técnicas, ou burocráticas, ou didáticas, isso quando não geridas pelos modismos, pelas agências literárias e pelo marketing.
Vivemos, nesse início de século, em um universo literário dominado pelas teorias, pelas leituras dirigidas, pela especialização, pela luta de prestígio entre as várias escolas de interpretação. Universo ocupado pela figura do leitor especialista, do erudito, do doutor de escola, daquele que “sabe o que lê”, a literatura se apequena. Ela é transferida para a esfera do conhecimento — mas, na literatura, não é do conhecimento que se trata. Esfera do saber — mas, na literatura, é bem mais importante não saber. Nesse cenário hiperespecializado, muitos leitores não se julgam prontos, ou capacitados, para ler um grande autor como Pessoa, ou Kafka, ou Rosa, ou Clarice. Esses grandes escritores parecem estar acima, ou além, de suas possibilidades; como se eles, leitores, não estivessem autorizados para o ato da leitura. No entanto, quem pode ser dizer preparado para ler um livro? Quem está realmente pronto para ler O castelo, de Kafka, ou O livro do desassossego, de Pessoa, ou A paixão segundo G. H., de Clarice, ou o Ulisses, de Joyce? Se tais leitores existem, eles não interessam à literatura. Se é que existem, se é que podem existir, pois parece que não.
Houvesse uma sincronia perfeita entre o grande livro e o grande leitor, e só chegaríamos a leituras previsíveis, a releituras, e com isso afundaríamos na repetição. Ficaria de fora, assim, aquilo que a leitura de um grande livro guarda de mais fundamental: o susto. Tanto na leitura, como na escrita, existem muitos elementos fora de controle. O despreparo, a insuficiência, o vazio não são obstáculos, ao contrário, são condições fundamentais para a aventura da leitura. Não só para a leitura, mas para a escrita. São peças chaves na construção da literatura.
Os escritores conhecem isso muito bem. No ato da escrita, fatores incertos, invisíveis, não detectáveis, dominam a frente da cena. Não existe também o escritor preparado para escrever — e justamente por isso que não existem escolas, ou universidades para a formação de escritores. Não há “ciência da literatura” e, por isso, já no século 19, Edgar Allan Paul, no conhecido soneto À ciência, escreveu: “Ciência! Do velho Tempo és filha predileta!/ Tudo alteras, com o olhar que tudo inquire e invade!/ Por que rasgas assim o coração do poeta,/ abutre, que asas tens de triste Realidade?” Nada contra a ciência, é claro; mas que ela não ocupe, não se aposse, de um lugar que não é o seu.
Adélia Prado em sua cozinha católica de Divinópolis. Nelson Rodrigues, em meio à zoeira da redação de O Globo, concentrado em sua dramaturgia. Clarice atônita, a máquina de escrever no colo, escrevendo enquanto vigia as crianças. Franz Kafka abatido em sua mesa de burocrata no ministério de Seguros Gerais, em Praga. Pessoa, metido em uma capa preta, um corvo no balcão de um café do Chiado. Hemingway em seu barco navegando, cheio de bravatas, pela costa de Havana. Ricardo Piglia em um intervalo de aula nos Estados Unidos, ou em um seminário em La Plata. João Gilberto Noll, em pleno inverno, solitário, caminhando por uma praia deserta do norte do Rio Grande. Virginia Woolf, apavorada, ouvindo vozes em seu quarto. João Cabral, de paletó e gravata, despachando em um consulado na África. Qual deles está na situação ideal para escrever?
Todos estão, e nenhum está, já que a literatura é, antes de tudo, o universo do particular. E é também o lugar das experiências incompletas, das situações deficitárias, dos grandes transtornos, das palavras que não dão conta do real mas que, ainda assim, ou por isso, se tornam preciosas. É uma tolice julgar que o ideal para um escritor seria trabalhar das oito ao meio-dia, ou ler as obras completas dos grandes autores, ou se preparar numa especialização antes de enfrentar a página em branco. Há algo de íntimo e intransferível que, por fim, é o que sustenta a literatura. Algo que escapa aos dois lados do jogo literário, escapa ao leitor e escapa ao escritor. “Se a obra de arte proviesse da intenção de fazê-la, podia ser produto da vontade”, escreveu Fernando Pessoa. “Como não provém, só pode ser, essencialmente, produto do instinto.”
Há toda uma parte fluida e disforme que, para além das estratégias narrativas ou poéticas, muito além da sofisticação técnica e da influência das tradições literárias, comanda o ato de escrever. Muitos, sem levar isso em conta, tomam a literatura como uma experiência elevada e especializada, um ofício para escolhidos, ou bem adestrados. Voltando a Pessoa. Depois de dizer que a arte média eleva, enquanto a arte superior liberta, ele faz a distinção: “Elevar e libertar não são a mesma coisa. (…) A libertação é uma elevação para dentro, como se crescêssemos em vez de nos alçarmos”. Está marcada aí a diferença que delimita o literário. A literatura não é só o que se escreve, é um mergulho interior.
Grandes escritores conhecem bem essa zona cinzenta e disforme, que só se manifesta através de vestígios imprecisos, como o impacto que uma história é capaz de provocar no leitor. Os escritores mais sábios, como o argentino Adolfo Bioy Casares, em vez de temê-la, dela tiram partido. Já velho e doente, recolhido em seu apartamento de Buenos Aires e cercado de criados e enfermeiras, Bioy Casares, já sem forças para enfrentar a escrita de longos romances, dedicou-se exclusivamente ao conto — ele que, desde jovem, foi um estupendo contista. Toda manhã, logo após o café, vestia seu terno e gravata, barbeava-se, perfumava-se, não para sair, mas para pular da cama de doente para uma poltrona colocada bem a seus pés. Ali, escrevendo à mão, em cadernos de espiral, como um escolar, ele rascunhava um novo conto. Mas como saber se o que escrevia ainda prestava? Como ter certeza de que, apesar da doença e das limitações físicas, Adolfo Bioy Casares continuava a ser Adolfo Bioy Casares?
Nessas horas, em que temia já não ser capaz de fazer o que sempre soube fazer, Bioy não recorria a nenhum leitor especializado, a nenhum crítico literário de renome, ou especialista competente — como, nas horas graves, se procura um médico especialista no fígado, ou nos pulmões. Isso embora tivesse muitos amigos, em Buenos Aires, que se encaixavam nessas categorias. Bioy Casares preferia, em vez deles, os leitores comuns, os leitores “despreparados”. Quase sempre, mulheres, que ele julgava menos dogmáticas e mais abertas ao novo. Ao fim da manhã, Bioy pegava sua agenda e, ao acaso, escolhia o nome de uma amiga. Telefonava e a convidava para almoçar em um pequeno restaurante de bairro, a três passos de seu apartamento. Sorvia esses momentos de intimidade com elegância e prazer, tomava seu cálice de vinho mas, em vez da sobremesa, encerrava o encontro, sempre, com uma leitura. Serenamente, Bioy abria o caderno e se punha a ler em voz alta o conto que rascunhara naquela manhã. Lia lentamente, fazendo muitas pausas para observar o semblante, a atenção, as reações faciais, os rumores da amiga. Ao fim da leitura, esperava um comentário, qualquer comentário. Contudo, não era exatamente ele que o interessava, mas sim os sinais mais discretos e invisíveis do impacto que aquela história provocara em sua ouvinte. Se a reação era forte, apaixonada, o conto valia a pena e ele o guardava para continuar a escrever em outra ocasião. Se, ao contrário, recebia em troca o silêncio e a apatia, ao voltar para seu quarto de velho, limitava-se a arrancar a página do caderno e atirá-la no lixo, entre restos de esparadrapos e caixas vazias de remédio.
O impacto, sua presença, ou ausência: isso era tudo o que interessava a Bioy Casares. Muitos críticos o descrevem como um escritor cerebral e dotado de técnica impecável, o que de fato foi. Mas, muito mais que isso, Bioy foi um escritor atento às sutilezas e imprecisões que cercam o ato de escrever. O que se perdeu, na trilha da literatura especializada, é justamente este contato com o imprevisto, que Bioy Casares prezava tanto e que, por fim, define a própria literatura — e demarca a diferença entre ela e outros escritos. Perdido este elo, desprezado, a literatura passou a ser observada a distância, como um objeto gelado ou, ao contrário, um objeto ameaçador. Romper com essa separação, desvencilhar-se da perspectiva especializada e voltar à força sedutora dos livros, é, hoje, a grande subversão. Basta lembrar de Bioy, em sua mesa de restaurante, lendo e sorvendo as reações da amiga, para entender que, na literatura, o que interessa mesmo é muito pouco, e é quase invisível, e é absolutamente secreto.
Há uma imagem que ajuda a entender o que aconteceu. Imaginemos que, depois dos anos 50, com a expansão das teorias literárias, dos estudos em semiologia e lingüística, das escolas estruturalistas, da semântica e da análise genética, a literatura — pobre literatura — foi levada, como os célebres neuróticos que batiam à porta de Sigmund Freud, a se deitar em um divã. Ela se tornou, desde então, matéria de análise — objeto (e vítima, podemos acrescentar) de um sofisticado processo de dissecação. Desde então, uma plêiade de especialistas, de formação e prestígio variados — lingüistas, semiólogos, historiadores, sociólogos, psicanalistas, críticos literários, doutores em teoria, biógrafos, resenhistas de jornal, etc. — se acha autorizada a interpretar, a dissecar, a “analisar” a literatura. Romances, contos, poemas se tornaram, a partir daí, e mais que nunca, objetos de investigação e de inquirição, figuras passivas e submissas diante de seus sofisticados interrogadores. Objetos nobres, e enobrecedores, de análise, de comentário e de explicação.
Pois é hora de pedir à literatura que se erga, que abandone a passividade, e que volte a ocupar o lugar que, de fato, lhe cabe; que renuncie ao divã e venha se sentar, ela sim, na poltrona do analista. Que volte ao barco de Hemingway, aos delírios de Virginia, ao escritório de Kafka, à cozinha de Adélia, ao balcão de Pessoa. Que volte a viver — e a dar as cartas. E que simplesmente esqueça de nós, intérpretes bem treinados, arrogantes com nossos títulos e nossas referências, interrogadores e investigadores profissionais. E que nós tenhamos a coragem de retomar nosso posto, mais humilde e mais perturbador, de leitores; que tenhamos a humildade, e mais que isso, a ousadia, de deitar no divã, deixando que grandes ficções e grandes poemas nos interpretem, e não o contrário. A nós, enquanto sujeitos, e à realidade que habitamos, ao mundo de que fazemos parte, ao real.
Não somos nós que analisamos a literatura, que a interpretamos. É ela que nos analisa e nos interpreta. Se lemos o Doutor Fausto, de Goethe, ou Madame Bovary, de Flaubert, ou o Hamlet de Shakespeare, ou o Quixote, ou os poemas de um John Ashbery, de um Rimbaud, de um Neruda, de um João Cabral, na verdade não somos nós que lemos; são esses escritos extraordinários que nos lêem e nos decifram. São eles que nos arrancam de nossos sonhos e ilusões, onde estamos imobilizados pela rotina e pela preguiça, para nos confrontar com o grande rombo, o grande escândalo da vida, que a palavra sintetiza, metaforiza e carrega. Para que possamos chegar àquele osso das coisas que, em um texto dos anos 70, Caio Fernando Abreu assim descreveu: “Depois de todas as tempestades e naufrágios, o que fica de mim em mim é cada vez mais essencial e verdadeiro”. O naufrágio, a tempestade: é a literatura.
São esses grandes livros que, lidos, de nosso modo particular, secreto e íntimo, vêm deslocar nossas visões de mundo, são eles que abalam nossa sensibilidade, que descortinam novas perspectivas e novas misérias, são eles que nos lêem. Nós, leitores, somos abalados e devassados pela experiência dessa leitura. Nós, sim, se é que alguém pode ser reduzido a isso, nos tornamos objetos. Nós sim somos lidos. Como sair ileso da leitura de G. H.? Como retornar sereno da leitura de Perturbação, de Thomas Bernhard, ou de Molloy, de Samuel Beckett, ou dos contos de Roberto Arlt, dos poemas de Herberto Helder, das narrativas de Jorge Luis Borges? Quem acha que sai, é porque realmente não entrou.
Aqueles que, como Lucia Cherem, uma das mais sensíveis leitoras de Clarice Lispector, freqüentaram em Paris os seminários de Hélène Cixous — a mais importante leitora francesa de Clarice — puderam entender, um pouco melhor, o que realmente se passa. Nos anos 80, Lúcia participou dos círculos de leitura de Clarice Lispector coordenados por Cixous. Neles, a francesa pedia a seus parceiros que, depois de ler um trecho qualquer da escritora, se esforçasse para reproduzir o impacto pessoal, o golpe — as “facadas”, podemos sugerir — que a literatura de Clarice neles provocara. Alguns choravam, outros se desesperavam, muitos se afundavam em recordações antigas, ou em meditações perigosas. Nessas horas, Clarice neles se encarnava. A literatura, que está nos livros, estava muito além dos livros. Ali, sob a regência de Cixous, se reproduzia o choque que a literatura vem promover. Ali a literatura tomava corpo — tomava um corpo, vários corpos — e se mostrava viva. Ali a coisa se encenava, o “isso” de que Clarice falava, aquilo que, ainda que estando dentro de um livro, não pode ser lido.
É essa relação visceral com a literatura, relação secreta e não-especializada, que agora devemos recuperar. Na era dos best sellers, das listas de mais vendidos, dos livros de auto-ajuda, dos manuais do bem viver, dos escritores “de cinema”, dos bajuladores de críticos, dos livros “de escritor para escritor”, nessa época insuportável, é isso que precisamos reencontrar. A leitura é um ato silencioso, íntimo e intraduzível. O Grande sertão que eu leio não é o Grande sertão que você lê; nem as Ficções do interlúdio, ou o Bartleby & Cia, ou o Coração das trevas, ou o Harmada. Livros, grandes ou pequenos livros, só existem na cabeça do leitor — sempre no singular. Mais ainda: existem, em cada cabeça, de uma maneira. Daí que cada leitor “lê” um livro diferente, ainda que leia o mesmo livro. Cada livro, para cada leitor, é um livro. Essa experiência secreta se ampara nos instrumentos — afetivos, intelectuais, pessoais, culturais, psicológicos — que cada um de nós carrega consigo. E é por definição e continua a ser, sempre, secreta. Secreta e inalienável.
Ninguém precisa conhecer teoria do cinema para se emocionar, para se deixar abalar por um grande filme. Não é preciso conhecer teoria musical, nem mesmo saber a existência de fusas e semifusas, para “embarcar” em uma sinfonia de Malher, ou numa fuga de Bach. A experiência estética é secreta porque é interior; ela é pessoal porque a literatura só toma corpo na mente e nos nervos de cada leitor. Submetido ao impacto de um livro, cada leitor a ele se abre (ou se fecha) e permite (ou recusa) que ele o abale. Por muito tempo, li José Saramago com grande desinteresse; seus romances me pareciam artificiais e cansativos; eu avançava com grande desânimo e só porque me parecia obrigatório (mas uma leitura pode ser obrigatória?) ler. Até que um dia, pouco antes de embarcar em uma longa viagem aérea, ganhei de presente o Ensaio sobre a cegueira, que Saramago publicou em 1995. Sem pensar muito no que fazia, atirei-o em minha mala de mão. Após a decolagem, sem coisa melhor para fazer, comecei a lê-lo — e não o larguei mais. Naquele dia, naquele vôo, naquela leitura (e não em outra) alguma coisa se rompeu dentro de mim. Em mim, e não no livro, que sempre esteve ali à minha espera. Alguma coisa se desarticulou, e dessa ruptura, através dela, consegui — enfim! — entrar na obra fabulosa de Saramago. De volta para casa, retomei livros que havia largado pelo meio, como O ano da morte de Ricardo Reis, ou O evangelho segundo Jesus Cristo. E cada um deles me pareceu melhor que o outro.
Se relato essa pequena experiência pessoal, não é porque ela seja emblemática, ou especular, mas só porque ela ilustra, penso, o modo como um livro bate — ou rebate — em nós. Para um mesmo leitor, em momentos diferentes, um livro é um outro livro. A literatura (a arte) é um terreno instável, movediço, que não suporta medições. É o terreno da complexidade, como num puzzle em que as peças nunca se encaixam e, mais que isso, em vez de permanecerem imóveis à espera de nossa ação, se deslocam, se tragam, se anulam. Para cada livro, um leitor é um leitor diferente. Não existe O Leitor, nem existe O Livro, existem leitores e livros. Um, e outro, e outro — e nada mais.
Ainda assim, a partir da segunda metade do século 20, com a expansão da teoria literária, a literatura se converteu em um objeto “de” e “para” especialistas. Existem hoje muitos escritores que declaram, serenamente, que escrevem “para outros escritores”. Existem ficcionistas e poetas, alguns de sucesso e prestígio, que escrevem para os críticos — isto é, para responder a suas expectativas e para seduzi-los com aquilo que supostamente desejam ler. Em palavras simples: que escrevem para agradar. Muitos escritores, sobretudo aqueles formados nos bancos das faculdades de Letras, tendem a achar que a literatura é matéria de conhecimento. Matéria fria e impessoal, que deve ser manipulada, classificada e vigiada. Ela se tornou, assim, um mundo fechado em que poetas dialogam com outros poetas, tradições influenciam e interferem em outras tradições, vozes especializadas se comunicam e disputam espaços de prestígio — enquanto o leitor, o leitor comum de romances e poemas, o sujeito miserável (porque ele se torna miserável em sua solidão) fica simplesmente de fora.
No entanto, a leitura é tudo aquilo que resta não só para muitos leitores, mas também para muitos personagens, como a célebre Emma Bovary. Ocorre que a entrega de Bovary aos livros, o modo que ela se deixa afetar, enlouquecer mesmo por eles, costumam ser tratados como uma doença, ou ao menos um mal psíquico. Até o dicionário já se refere ao “bovarismo” como a tendência de certos espíritos a se deixarem invadir por ficções — quer dizer (assim se pensa), por mentiras. Mas é claro que ficções e mentiras não são a mesma coisa. E, no entanto, se as ficções e os poemas não nos invadissem, se não nos agitassem e tumultuassem nosso interior, para que mais poderiam servir? Para render direitos autorais? Para enriquecer editores e editoras? Para alimentar a fome da crítica e da imprensa literária? Para a felicidade dos livreiros?
Vem-me aqui, é inevitável — pois a literatura é mesmo o lugar da intimidade —, uma outra história pessoal. Lembro-me quando, aos dezessete anos de idade, por mero acaso, li pela primeira vez A paixão segundo G. H., o grande romance de Clarice. A primeira vez em que li uma novela de João Gilberto Noll, um grande poema de Pessoa, a primeira vez em que li um romance de Virginia Woolf, ou um poema de João Cabral. Todos nos lembramos da situação em que estávamos quando recebemos uma notícia forte — como, para nós que vivemos em um mundo norte-americano, foram o assassinato de Kennedy, ou o ataque ao World Trade Center. No primeiro caso, eu estava na casa de meus pais, em meu quarto de menino, montado sobre um banquinho de cozinha, procurando um livro em uma prateleira mais alta. No segundo, saía de uma sessão de psicanálise e entrei em uma farmácia para comprar um medicamento; na fila do caixa, vi na TV aqueles aviões que se chocavam contra as torres, e perguntei ao atendente, só por perguntar, que filme espantoso era aquele.
Também me lembro que comecei a ler G. H., e não parei mais, em uma tarde de sol que passei, sozinho, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Li pela primeira vez uma novela de Noll, Hotel Atlântico, num fôlego só, durante uma noite de chuva forte, em meu apartamento em Botafogo, no Rio. O primeiro romance de Virginia Woolf que li foi Orlando, em uma praia de Santa Catarina, durante um estranho carnaval. O primeiro poema de João Cabral, O cão sem plumas — até hoje meu poema preferido entre tantos que ele escreveu —, que li nos bancos do Colégio Santo Inácio, no Rio, onde estudei. Foram, todas elas, experiências marcantes e devastadoras, tão inesperadas quanto saber que um presidente foi assassinado, ou um grande edifício destruído por aviões.
A leitura é uma experiência misteriosa, de que participam não só o texto que se lê, mas a imaginação, a memória, a história, a sensibilidade de quem lê. Na “decifração” de um escrito, mesmo entre especialistas, não entram em jogo apenas a bagagem literária, a erudição acumulada e a perícia técnica, mas também o rasto existencial. Cada um lê com o que tem, lê com o que é, lê como pode. Não existe leitura perfeita, nem completa; muita coisa, mesmo para os leitores treinados, sempre fica de fora. É esse aspecto inesgotável da literatura que lhe confere um caráter mágico. Não é preciso fazer “realismo mágico”, ou “literatura fantástica” para estar brincando com fogo quando se escreve.
Voltando a Pessoa — agora encarnado em Alberto Caeiro, seu heterônimo mais forte. Em um de seus fabulosos poemas, ele diz: “Assim como falham as palavras quando queremos exprimir qualquer pensamento,/ Assim faltam os pensamentos quando queremos pensar qualquer realidade”. É nessa falha que a literatura se impõe; é dessa falha, dessa lacuna inevitável, que sempre se trata. Toda leitura é feita de mal-entendidos. Isto é, de imagens trocadas, de falhas, de imprecisões, de suposições. Toda literatura se faz disso também. Clarice Lispector dizia: “Não sou eu quem escrevo, é o livro que me escreve”. Podemos dar um salto e pensar em um conto de Frans Kafka, O abutre: “Era um abutre que me dava grandes picadas nos pés. Tinha já dilacerado sapatos e meias e penetrava-me a carne. De vez em quando, inquieto, esvoaçava à minha volta e depois regressava à faina”. Esse abutre, que escava e dilacera, mas fascina, é a literatura.
Tudo aquilo que julgamos “entender bem”, quer dizer, finalizar, dominar, possuir, está fora do literário. A leitura de um grande livro mexe com o que temos de mais instável e de mais buliçoso, pois joga com o inacessível e o remoto. Não é fácil ler um grande livro, mas é inesquecível. Que a literatura volte para a poltrona, e que, expostos à sua força, nos sobre coragem para suportar, mas também para sorver, a grande devastação.