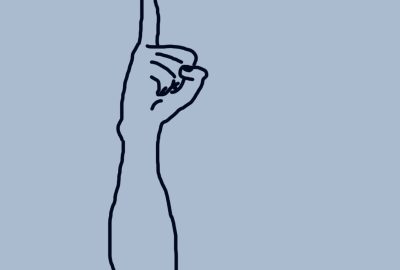Alberto Caeiro, o autor do célebre O guardador de rebanhos, é o filho do meio entre os três mais conhecidos heterônimos de Fernando Pessoa. Nascido em 1887, o médico Ricardo Reis, com sua estatura clássica e sua concisão, autor de 250 odes, é dois anos mais velho. Já o engenheiro Álvaro de Campos, o autor do clássico Tabacaria, modernista e prolixo, é um ano mais moço. Dos três — dos quatro, se considerarmos que Pessoa “ele mesmo” é só outra máscara — Caeiro é tido como o mais ingênuo e, também, o mais puro. Seus exercícios espirituais de desaprendizagem e sua religião pagã sustentam essa idéia.
O que nos diz Pessoa de Caeiro? Nascido em 1889, ele morreu cedo, em 1915, de tuberculose. Foi, para usar a expressão célebre de Robert Musil, um homem sem qualidades. Só teve instrução primária e não chegou a exercer uma profissão. De estatura média, era, diz Pessoa, um “louro sem cor”. Ficou órfão, de pai e mãe, muito cedo, e nunca resolveu sua solidão. Sobreviveu à base de trocados, amparado, quase sempre, por uma tia-avó.
Pois esse homem sem atributos, quase um pobre coitado, deixou uma poesia que, um século depois, ganha uma inacreditável força. Poesia que se coloca no coração dos debates contemporâneos, oferecendo-se, assim, como um guia precioso para a travessia do novo século. Mestre Caeiro, assim o chamavam. Não professor, ou doutor, ou orientador, mas mestre — do improviso, da palavra plena, simples e sedutor (como devem ser, na exata medida, os grandes mestres), comparado muitas vezes, pela espontaneidade e fluência, a Sócrates, ou a Jesus.
Contudo, nem a religião, nem a filosofia o interessaram. Caeiro foi o poeta da realidade — mas não entendam errado, não o poeta do realismo. Foi um poeta sem ilusões (e os realistas são homens cheios de ilusões, que tratam o real como um cãozinho a domesticar). Seu interesse se dirigiu, quase só, aos aspectos imprevisíveis e fora de controle da vida. Um homem que se colocou no centro da realidade, sem desejar adulterá-la, ou dela tirar vantagens, e sem pretender dominá-la também. Poeta do mundo tal qual ele é — e foi dessa leitura despojada da existência, dessa absoluta crença nas coisas existentes e em mais nada, que tirou sua poesia.
“Bendito seja eu por tudo quanto não sei”, Caeiro escreveu, cunhando assim o lema de uma poesia antidogmática, poesia da incerteza e do imprevisível, poesia que os poetas, em vez de comandar, sofrem. Poesia que hoje, se engrandece, em contraste com um mundo, o nosso, que se pauta pelas idéias prontas e armadas até os dentes, pelos dogmas cada vez mais cerrados e audaciosos, os intermináveis acessos de onipotência, as religiões monolíticas e o pragmatismo.
Ao nosso confuso século 21, Alberto Caeiro se oferece como um doce pastor. Um guia, estranho guia, que não sabe dizer em que direção caminha, não sabe para aonde nos leva, nem mesmo tem a vocação para comandar. “Eu nunca guardei rebanhos,/ Mas é como se os guardasse./ Minha alma é como um pastor”, assim começa seu poema mais célebre. A figura do pastor — pastor de rebanhos, e não de almas, é bom enfatizar — ganha, nesses versos, um sentido invertido. Não o pastor que guia, mas o que se deixa guiar; não o que ordena e dita direções, mas o que sabe escutar e mudar de rumo.
Em outros versos, Caeiro deixa mais clara, ainda, a postura de pastor que advoga para si. “Eu não tenho filosofia; tenho sentidos…/ Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,/ Mas por que a amo”. Pastor, não porque conhece o mundo natural, não porque sabe de que mundo fala, mas só porque o ama. Em vez da severidade das ideologias e das religiões — dogmas, sistemas fechados, verdades imutáveis — ele prefere a fluidez dos sentidos, quer dizer, a inconstância do presente. Preserva-se no real. Contudo, sem ilusões, Caeiro nos diz que se apegar ao real não é saber o que ele é. É apenas amá-lo. Preso ao mundo, o pastor dispensa o medo. “O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério!”, diz. “O único mistério é haver quem pense no mistério”.
Provar da solidão
Se nos guia, a poesia de Caeiro leva a uma posição de recolhimento e de respeito pelo que é, e mais nada. “A mim ensinou-me tudo./ Ensinou-me a olhar para as coisas”. Tal apego à realidade é uma espécie de mergulho, de mergulho e nado — deixar-se arrastar pelas coisas e sofrer com elas, com cada uma delas (pois cada coisa é uma coisa diferente), sem preconceitos, ou esperanças. “Não tenho ambições nem desejos./ Ser poeta não é uma ambição minha./ É a minha maneira de estar sozinho”. Pastorear não para acompanhar, mas para provar da solidão.
Em outros versos célebres, Alberto Caeiro manifesta, mais uma vez, seu apego ao que tem, ao que está próximo, ao que lhe cabe. Grandes esperanças, sonhos magníficos, projetos ambiciosos, fantasias fabulosas: nada disso o atrai. Ao contrário, são coisas que o repugnam. Diz ele: “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,/ Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia/ Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”. Mais à frente, o poeta resume: “Porque tudo é como é e assim é que é”. O amor, em Caeiro, não é uma idealização, um arrebatamento; nem comporta o fogo da carne, ou a entrega cega. Em vez de um sentimento que nos eleva, que nos “tira de si”, é, ao contrário, um sentimento que nos apazigua e que devolve o homem a si.
Poeta da imobilidade? Sim, mas não do imobilismo. Faz-se, muitas vezes, uma leitura rancorosa de Caeiro, leitura que o reduz a uma mente agrária — como aqueles idealistas do campo em que Martin Heidegger viu a pureza e a verdade, e em que se inspirou para aderir ao Nazismo. Poeta do “Ser”? Não, não do “Ser”, mas poeta “do que é”. Caeiro tem a consciência de que a existência é móvel, é fluida, é inconstante. Daí sua aposta no valor da ignorância: é muito perigoso dar um nome ao que está sempre mudando. Se a coisa muda, o nome deve também mudar; mas aí deixa de ser nome.
Em vez de poeta do imobilismo, Caeiro é, na verdade, o poeta da mudança. Só que de uma mudança que, em grande parte, se faz em silêncio, sobre a qual não temos controle, mudança que se instala sem alardes e sem arrogância, e ainda sem grandes sustos, ou revelações. “Os poetas místicos são filósofos doentes”, ele escreve. “E os filósofos são homens doidos”. Os primeiros, aprisionados em corpos cheios de signos, afundam na histeria. Os segundos, no delírio. A filosofia só é confiável quando se atém ao real; mas aí deixa de ser filosofia. Torna-se poesia.
Com a arrogância sob controle, o homem pode, enfim, aceitar sua condição passageira, parcial, pastoral — não no sentido da circular religiosa, mas daquilo que diz respeito apenas ao pastor, isto é, àquele que, no grande vazio e entre as grandes hordas, prossegue em seu caminho. Não tem rumo, mas aceita isso. “Procuro despir-me do que aprendi,/ Procuro esquecer-me do modo de me lembrar que me ensinaram”. Poesia, portanto, que suspeita da aprendizagem transmitida, do saber adquirido, que vê com maus olhos a erudição. E que recoloca o conhecimento na trilha original da instabilidade, isto é, em sintonia estreita com a vida e suas metamorfoses.
Mas o mundo é, hoje, regido pela paranóia — a perseguição implacável de terroristas, assaltantes e seqüestradores que nos espreitam nas esquinas, as câmeras secretas e os gravadores camuflados que registram nossa intimidade, os acontecimentos que, em velocidade irrefreável, vivem a nos pregar sustos. Há sempre alguma coisa atrás de outra coisa, e atrás de outra, e mais outra, daí a atmosfera de desconfiança, o clima de suspeita, o sentimento de perseguição; a síndrome do pânico, as neuroses obsessivas, os temores infundados, as paranóias, as fofocas. Pois Caeiro é claro quanto a isso: “O luar através dos altos ramos,/ Dizem os poetas todos que ele é mais/ Que o luar através dos altos ramos”, ele constata. “Mas para mim, que não sei o que penso,/ O que o luar através dos altos ramos/ É, além de ser/ O luar através dos altos ramos,/ É não ser mais/ Que o luar através dos altos ramos”.
Muitos críticos banalizam e dizem que a poesia de Caeiro está fundada em tautologias, vício de linguagem que consiste em repetir, de formas diversas, sempre a mesma coisa. Que é uma poesia circular e, portanto, ela sim, paranóica. Ao fazer uso da repetição, contudo, Caeiro traz seu leitor de volta, sempre, ao real. Ele trata de despi-lo das idealizações, das ilusões, dos adornos sobre os quais, em geral, todos nos amparamos, na esperança de suportar a desordem do mundo. Ele o desnuda: e o real (não a verdade, que é cheia de explicações e de argumentos) é essa nudez.
Fala-se, também, do paganismo de Caeiro, o que seria outra prova inequívoca de seu primitivismo, quem sabe até, de seu despreparo para a poesia (há quem diga que Caeiro não foi, de fato, poeta.). Paganismo, ausência de deus, sim, de qualquer personagem oculto, ou apenas a presença de deuses parciais e dispersos. “As cousas não têm significação: têm existência”, Caeiro escreve. “As cousas são o único sentido oculto das cousas”. Sua poesia se faz não só contra a ilusão, mas contra a perfeição, contra a certeza, contra a segurança. Combate, enfim, todas essas situações fechadas, acabadas, indiscutíveis, que hoje justificam atentados, fanatismos, dogmatismos, morte. “Triste das almas humanas, que põem tudo em ordem”, ele lamenta. E não esconde sua agonia.
Qual Natureza?
Caeiro, esforçam-se outros leitores a dizer, foi, na verdade, um naturalista. Um poeta da simplicidade, que crê na Natureza e apenas nela. Nesse caso, médicos, biólogos, cientistas, ecologistas logo se animam, julgando nele encontrar o “seu” poeta. Mas que Natureza é essa de que Caeiro fala em seus versos? Que Natureza é essa em que ele crê? Não é a Natureza submissa, que, crê a ciência, aos poucos, com grande esforço e perseverança, mas de modo implacável, conseguirá dominar, possuir. Não é, também, a Natureza modelar dos cientistas sociais e dos psiquiatras, que explica o mundo e a vida em sociedade através de “leis naturais” e, com isso, facilita, simplifica — e enjaula — a complexidade não só da vida social, mas da vida individual.
Não é a Natureza cordial dos manuais, a Natureza exuberante dos zoológicos, a Natureza cifrada e misteriosa da National Geographic, a Natureza indulgente dos homens de bem, a Natureza à moda de Walt Disney feita para a pureza das crianças. Nada disso. Para Alberto Caeiro, a Natureza é, ao contrário, a casa do caos, dos grandes sustos, das incoerências, do imprevisível. A Natureza, podemos dizer, é antinatural. Tem regras, mas para serem violadas. Cria rituais, para desvirtuá-los, ou liquidá-los. É ingênua, sem malícia, singela — porque isso permite que, sem culpas, sem indecisões, produza grandes violências. O mar azul e límpido pode guardar uma tsunami. O belo vulcão nevado, uma língua de fogo. A elegância e a beleza dos animais selvagens esconde a morte sangrenta.
Uma Natureza, ou várias Naturezas? Aqui começa, para Caeiro, o grande problema que, como poeta, ele se determina a enfrentar. “Vi que não há Natureza,/ Que Natureza não existe”, ele mesmo nos diz. “A Natureza é partes sem todo./ Isto é talvez o tal mistério de que falam”. Se não é uma unidade, se não forma um conjunto fechado e coerente capaz de explicar o mundo; se é, em vez disso, só incoerência e perplexidade, a Natureza não é estável, não é calculável e não é confiável. Logo, Natureza, com N maiúsculo não há, existem apenas naturezas (e o n minúsculo é um bom indicador disso). Natureza fragmentária e que se move aos choques (como os meteoros que, de repente, podem despencar dos céus e arrasar um planeta), natureza desprovida de identidade, uma coisa aqui, outra ali, e nada mais.
Caeiro nunca se importou com essa desordem que a natureza, sempre, oferece. É verdade, sua poesia propõe um desejo de ordem, mas de uma ordem móvel, inconstante —e, sobretudo, não humana, uma ordem para além, ou aquém, da linguagem. É ele quem diz: “Passar a limpo a Matéria/ Repor no seu lugar as cousas que os homens desarrumaram/ Por não perceberem para que serviam/Endireitar, como uma boa dona de casa da Realidade/ As cortinas nas janelas da Sensação/ E os capachos às portas da Percepção”. Movimentos que ele resume em um único verso: “E limpar o pé as idéias simples”.
À poesia cabe repor a complexidade ali onde a ordem humana, sempre ansiosa para nomear, classificar e domar, fixa etiquetas e estabelece normas. A poesia não suporta manuais do tipo “como fazer”. Ele nos sugere que abramos as janelas para o acaso e o caos, ali onde a ordem humana, sempre sofrendo do pânico de se perder, do medo dos grandes espaços abertos e da repulsa ao instável, lanças suas cortinas pesadas.
“Cada coisa é o que é,/ E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra,/ E quanto isso me basta”, ele escreve. “Basta existir para ser completo”. Ao poeta, resta — basta — sentir. Basta estar em sintonia com o mundo, mesmo sem compreendê-lo, mesmo sem nomeá-lo e, sobretudo, mesmo sem aceitá-lo. “Sentir é estar distraído”, ele resume. Desleixo? Desinteresse? Apatia? Alienação? Fuga? A todas essas dúvidas, Caeiro responde com franqueza e alguma dor: “A realidade não precisa de mim”.
Fuga da repetição
As interpretações simplistas vêem nessa atitude um tanto de desistência, ou até, de decadência. Mas não. O problema, para Caeiro, é fugir do igual, fugir da repetição — que a tudo iguala e assim, pensando que vê, nada vê. Para ele, o pensamento endurece e iguala, ao contrário da sensibilidade, que sombreia e distingue. “Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras”, o poeta nos diz. “Compreendi isto com os olhos, não com o pensamento./ Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais.”
Até porque, afirma Caeiro, “tudo o que existe simplesmente existe”. E conclui: “O resto é uma espécie de sono que temos”. Por isso, é um engano imaginar que Alberto Caeiro tenha sido um místico, como os que habitam as lendas religiosas e os manuais de catecismo. É o próprio Caeiro quem trata de fazer a distinção: “Tu, místico, vês uma significação em todas as cousas./ Para ti tudo tem um sentido velado”. Para marcar, em seguida, sua diferença: “Eu vejo ausência de significação em todas as cousas/ (…)/ ser uma cousa é não significar nada”.
Daí, em outro poema, demonstrar seu assombro com São Francisco de Assis. “Leram-me hoje S. Francisco de Assis./ Leram-me e pasmei”, ele diz. Não aceita que o santo, de quem se diz ser um amante da Natureza, chame a água de “irmã”. “Para que hei-de chamar minha irmã à água, se ela não é minha irmã?”, pergunta-se. E, versos à frente, Caeiro explica melhor: “A água é a água e é bela por isso./ Se eu lhe chamar minha irmã,/ Ao chamar-lhe minha irmã, vejo o que não é”.
Alberto Caeiro prefere a realidade, que “não tem desejos nem esperanças”. Prefere confrontar-se com ela, partir dela, em vez de lhe impor essa ou aquela direção, em vez de asfixiá-la. A ênfase no particular, na escuta (visão) atenta do que é, sem adornos, sem adjetivos, é a chave que Caeiro oferece para a decifração de nosso mundo. “Falaram-me em homens, em humanidade”, ele escreve, “Mas eu nunca vi homens nem vi humanidade”. E resume o que viu: “Vi vários homens (…) diferentes entre si,/ Cada um separado do outro por um espaço sem homens”.
A poesia de Alberto Caeiro abre caminho para pensar o mundo (e a nós mesmos) em um século que já começa endurecido. Esquecer das idéias prontas (herdadas, ou criadas, não importa). Voltar ao real e suas imprecisões. Suportar a impossibilidade de conhecê-lo, aceitar as fagulhas de saber que nos concede, conviver com suas turbulências e imprevistos, não correr em busca de explicações rápidas, de sínteses, de dogmas. Aceitar o que está em movimento e em movimento vai continuar.
Mas, em seus extraordinários poemas, Alberto Caeiro também aponta um caminho para a literatura. Dividida em gêneros, em fórmulas de mercado, em grupos aparelhados, em seitas teóricas, a literatura se tornou artefato, se fez produto, rendeu-se ao gueto. Tornou-se um mundo mecânico, que se põe a cuspir etiquetas e mais etiquetas sobre a face do real. Perdeu, com isso, a suavidade dos grandes campos, a sinuosidade dos destinos incertos, trilhas em que vagueamos e vagueamos, esquecidos do desejo de chegar. Caeiro propõe, ao contrário, que os escritores reencontrem a incerteza. Até porque, se quase nada podem dizer a respeito de seu ofício, menos ainda sobre o destino do que escrevem. “Quem sabe quem os lerá?/ Quem sabe a que mãos irão?”, ele se pergunta. E é na ausência de respostas que a literatura começa.