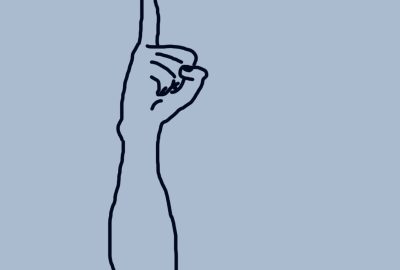Em A cinza das horas, seu primeiro livro, de 1917, o poeta Manuel Bandeira nos oferece uma pequena jóia de doze versos, o poema Versos escritos nágua. As quatro primeiras linhas são cruciais. “Os poucos versos que aí vão/ Em lugar de outros é que os ponho./ Tu que me lês, deixo ao teu sonho/ Imaginar como serão”.
Aí está, no “deixo ao teu sonho”, o mais corajoso, e também mais sedutor convite que um poeta, um escritor pode fazer a seu leitor: que ele se veja como um cúmplice, que se engaje como “co-autor” do que lê. Na verdade, não se trata de uma gentileza, ou um ato nobre, de Bandeira. Ao contrário, essa oferta é, a rigor, uma resignação.
Toda a poesia de Bandeira, toda a sua lírica, se baseia nesta decisão categórica: a de trazer o leitor para dentro do poema, a de incluí-lo em sua aventura; até porque, sem o leitor, a poesia nada é. Sem leitor, não há poesia, não há nada. E o poeta a isso se conforma. Nisso vê seu limite.
No mesmo A cinza das horas há outro poema, Voz de fora, que complementa este primeiro. Escrito há exatamente um século, em Teresópolis, ele convida o leitor a acompanhá-lo em uma caminhada de poeta, avançar que é, ao mesmo tempo, um deixar-se levar. “Deixa-te assim também derivar pela vida,/ Que é como um largo, ondeante e misterioso rio…”, ele diz.
Há um Bandeira grego escondido sob o jovem Bandeira pernambucano. Há algo mais que poesia? Não. Há aquilo que, na verdade, define a poesia: a capacidade de transformar sentimentos em idéias. Uma outra maneira de pensar, desorganizada, impulsiva, cheia de afetos, sobrecarregada pelo peso da imaginação. Lírica, se dirá, quase sempre com algum desdém.
Avançamos pela obra de Bandeira e, num salto, chegamos a Libertinagem, livro de 1930, que reúne o trabalho escrito nos seis anos anteriores. Lá, ao esboçar os fundamentos de sua escrita no decisivo Poética, ele, logo de saída, adverte: “Estou farto do lirismo comedido”. E, versos à frente (como o Vinicius de Moraes que, sem papas na língua, e cheio de fúria, escreveu a Carta aos puros), diz simplesmente, não precisa mais do que três palavras para dizer: “Abaixo os puristas”. E, com isso, define um lugar, uma posição. Marca outro limite, para que não o tomem pelo que não é, pelo que não deseja ser.
Em sua poética, Bandeira equipara o lirismo à libertação. Idéia que hoje, entreouvida nas mesas pedantes dos poetas formalistas, parecerá, por certo, um barbarismo, ou uma atitude romântica e fora de época. Mas é o próprio Bandeira quem diz desejar “todas as palavras sobretudo os barbarismos universais”. Faz poesia para sujar-se — lição seguida não só por Vinicius de Moraes, mas ainda por um poeta forte como Ferreira Gullar, o autor do belo Poema sujo.
Diz o clichê que o Recife, com seus canais e suas pontes, é a “Veneza americana”. Bandeira afirma o contrário, que a “Veneza americana” é o canal do Mangue, no Rio de Janeiro. Lugar suspeito e inadequado. Lugar de “gente que vive porque é teimosa”. Lugar sujo, mas que, por isso sim, interessa ao poeta lírico. Lirismo que não dispensa, mas incorpora, a brutalidade do real. “Passam estivadores de torso nu suando facas de ponta”, ele escreve. Lirismo que é também indignado e combatente, sem ser tolo; sem reduzir a poesia a uma bandeira.
Só o beco
Damos um salto. Em Estrela da manhã, livro que saiu em 1936, em uma pequena edição de apenas 47 exemplares, porque não houve papel suficiente para os projetados 50. Nele, encontramos um pequeno poema, poema mínimo, Poema do beco, escrito em 1933, que merece ser lembrado: “Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?/ — O que eu vejo é o beco”. Em duas frases, uma pergunta (de homem apaixonado pelo Rio de Janeiro), uma resposta (de homem resignado), ele resume sua opção pela via estreita, mas fértil, do real.
É no trato direto da realidade que o poeta lírico se faz. Lirismo que é assim, não só subjetivismo, mas também maneira de viver. Lirismo que (como em Vinicius) extrapola o poema, ou o antecede, tanto faz. A valorização do pequeno, do mínimo, se exerce em contraposição à pompa e à suposta grandeza dos grandes poetas.
Aqui vale recorrer a Lira dos cinquent’anos, livro de 1940, que apareceu como parte inédita da primeira edição de suas Poesias completas. Nele encontramos um poema, A morte absoluta, que busca não só o mínimo, mas o nada. O nada absoluto, a completa não existência. “Morrer./ Morrer de corpo e de alma./ Completamente.”, ele deseja. “Morrer sem deixar por ventura uma alma errante.” Sem rastos, sem pegadas, lembranças, sem deixar atrás de si, nem mesmo, uma memória. “Morrer tão completamente/ Que um dia ao lerem teu nome num papel/ Perguntem: “Quem foi?…”, diz. “Morrer mais completamente ainda,/ — Sem deixar sequer esse nome.”
Para além do nome, muito depois das palavras, ou antes delas, muito além da poesia enquanto gênero literário, o corpo. A existência que existe, e logo em seguida já não mais existe. O corpo: último reduto, para Bandeira, da poesia. A vida que um nome, uma palavra, não segura, de que a língua não dá conta. Primazia da vida, do cotidiano, sobre a palavra, sobre a literatura. A literatura como conseqüência, da emoção, da intensidade, do trabalho de artesão, do pensamento afiado; não como princípio, não como começo ou núcleo.
Eis uma idéia que hoje parece estranha, mas que é muito fértil. Que diminui os escritores e a literatura, sim, e ao mesmo tempo os torna mais heróicos, pois tudo o que fazem, poemas, romances, livros, nada disso retém o que importa, sequer toca o que importa. Apenas circunda. A serpente que rodeia a sua presa, sem jamais conseguir o bote. Este andar à volta, este rodear, é a literatura. Ela não apaga, mais valoriza, aquilo que circunda. Sublinha, destaca, amplia, enriquece.
Falta de sincronia
Outro salto, e estamos em Petrópolis, em fevereiro de 1947, e chegamos a Belo belo, poema que empresta o título a um novo livro, de 1948 — que, repetindo a experiência anterior, sai como acréscimo inédito a uma nova edição da Poesia completa. Poema célebre, em especial, por dois versos: “Tenho tudo que não quero/ Não tenho nada que quero”. É a discordância, a falta de sincronia entre desejo e real que o poeta enfrenta.
Mais: é a percepção desse desencontro, é seu acolhimento, que dele faz um poeta. Poesia, campo do desejo ou campo em que o real, aos trancos, se deixa devassar? Pergunta tola porque, feita desse modo, centrada em um “ou”, sempre exclui uma de suas respostas, quando o poeta deve ficar com as duas.“Mas basta de lero-lero/ Vida noves fora zero”, Bandeira responde, com humor, mas também sem disfarçar a irritação.
Exaltação em que ele, mais uma vez, se aproxima, se irmana a Vinicius de Moraes. Em Saudade de Manuel Bandeira, poema que escreveu em Londres, Vinicius diz: “Não foste apenas um segredo/ De poesia e de emoção/ Foste uma estrela em meu degredo/ Poeta, pai! Áspero irmão”. Também em Belo belo, Bandeira retruca com a formidável Resposta a Vinicius. É amoroso, mas duro: “Poeta sou; pai, pouco; irmão, mais./ Lúcido, sim; eleito, não”.
Ponto a ponto, ele responde a Vinicius esclarecendo (compartilhando) sua visão da poesia e dos poetas. Dois líricos, dois poetas incomodados e atingidos pela volúpia do real, a medir forças, a se confrontar amigavelmente, lealmente, dois companheiros exercitando uma elegante luta poética.
Ali, neste poema-resposta, Bandeira reconhece sua falha, sua ferida: “Este anseio infinito e vão/ De possuir o que me possui”. Reconhece não só seu limite, mas o limite da poesia — limite que não a diminui, que não é um problema ou um defeito, mas, ao contrário, é sua própria condição de existência. Dessa falha, nessa falha, só nela, a poesia surge. Condição primária de existência, condição primeira para o surgimento da palavra plena que a poesia sempre é.
Ainda no mesmo livro, em O rio, poema que escreveu em Petrópolis no ano de 1948, Bandeira avança mais um pouco. Escreve: “Ser como um rio que deflui/ Silencioso dentro da noite”. E ainda, como quem dita suas pré-condições: “Não temer as trevas da noite”. Que trevas exatamente? Em Nova poética, de 1949, ele esclarece: “Vou lançar a teoria do poeta sórdido./ Poeta sórdido:/ Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida”. Outro poema sujo, anterior ao poema sujo de Gullar.
Caminhar com Bandeira pelas trevas da noite dá nisso: nos leva a esbarrar em sentimentos e em coisas que nunca se completam. Em Opus 10, livro de 1952, em outro poema de aguda marca pessoal, Saudação a Murilo Mendes, ele deixa mais claro ainda: “Saudemos Murilo/ Grande poeta/ Conciliador de contrários/ Incorporador do eterno ao contingente”. É possível ser mais direto?
A poesia de Bandeira — para Vinicius também era assim — nasce naquele estreito beco em que circulam não só as palavras, mas também a vida, as mulheres, as amizades. A poesia tem por objeto, e é objeto, da experiência incompleta. A poesia busca completar o que não se completa.
Tudo se exacerba mais ainda em Mafuá do malungo, livro de 1948, que começa com uma exaltação ao amigo João Cabral de Melo Neto, sempre disposto a imprimir livros de amigos em sua prensa manual. “A João Cabral de Melo Neto,/ Impressor deste livro e magro,/ Poeta, como eu gosto, arquiteto,/ Oferto, dedico e consagro”.
O Mafuá é um livro absolutamente pessoal, é um livro sem ilusões. A poesia tem um objeto? A vida. Não a grande vida, mas a pequena vida, das amizades, das circunstâncias, do dia a dia. O novo livro reúne versos “de circunstância” e versos “de cortesia”, tudo aquilo que, em nossa poesia intelectualizada de hoje, poesia “para profissionais”, parece inocente e inoportuno. Versos a Keats, a Mário de Andrade, a Thiago de Mello, a Murilo Mendes, a Rodrigo M. F. de Andrade. Afetos, admirações. Terreno do estritamente pessoal, dos afetos, das intimidades. Poesia: coisa íntima.
Encontramos no Mafuá, entre tantas devoções e homenagens, um pequeno poema que Manuel dedica a si mesmo: Manuel Bandeira. Poema no qual ele medita a respeito de seu nome de batismo, seu nome inteiro, Manuel Carneiro de Sousa Bandeira. E nos motivos pelos quais o renegou, pelos quais resumiu o Carneiro de Sousa Bandeira em uma só palavra, em um só nome: Bandeira. Percebe, por certo, a ação da vaidade, o desejo de se esconder, a vontade de ser outro que, de fato, não é. Inquieta-se. E se censura: “Eu me interrogo:/ — Manuel Bandeira,/ Quanta besteira!”
Então, trazendo a poesia, mais uma vez, de volta para a rudeza das coisas brutas, ele pergunta a si mesmo: “Olha uma cousa:/ Por que não ousa/Assinar logo/ Manuel de Sousa?”