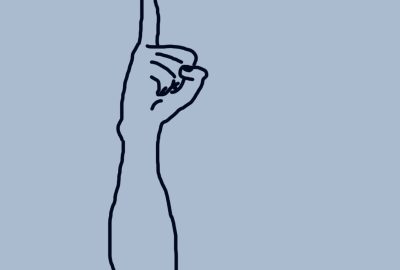Jornalista e escritora respeitada de 71 anos, Joan Didion tem um péssimo gosto para roupas. Usa saias armadas e curtas acima dos joelhos, mas não parece se importar. Depois da morte do marido, apesar de ser bastante racional — científica até — e de não ter qualquer tipo de fé religiosa ou crença no sobrenatural, Joan se surpreendeu esperando por ele.
Não esperava que se materializasse ou desse as caras como um fantasma, ou que tentasse se comunicar por meio do fenômeno poltergeist, fazendo objetos se moverem, ligando televisões, acendendo e apagando luzes. Ela o esperava como se nada tivesse acontecido. Sabia que estava morto, mas, nas entranhas, torcia para vê-lo chegar em casa depois do trabalho. Semelhante aos viúvos e viúvas que seguem pondo a mesa para dois, conversando com fotografias ou contemplando as roupas do armário, incapaz de se desfazer delas.
O estranhamento que sentiu (por ver que estava indo contra sua natureza racional) foi o de um darwinista diante de Adão e Eva. Para lidar com a perplexidade e o vazio que experimentou ao perder seu companheiro John Gregory Dunne em 30 de dezembro de 2003, decidiu apelar para a única forma que conhece de pensar o que sente: escrever. Pesquisar e escrever. Pelas idéias fantásticas de que o marido poderia voltar dos mortos, Joan deu ao livro o título de O ano do pensamento mágico.
A autora prepara uma adaptação para o teatro da obra que já vendeu mais de meio milhão de exemplares somente nos EUA. A peça, que teve mais de dez versões e segue sendo retrabalhada pela escritora, será um monólogo na Broadway dito por ninguém mais ninguém menos que Vanessa Redgrave, atriz-patrimônio do Reino Unido.
“A dor ocasionada pela perda de um ente querido é um estado que nenhum de nós conhece antes de termos passado por isso. Temos a expectativa (e sabemos) que alguém próximo de nós pode morrer, mas não conseguimos enxergar além dos poucos dias ou semanas imediatamente subseqüentes a uma tal morte imaginada.” O livro deixa claro que não há nada capaz de preparar alguém para a morte de uma pessoa querida. Ela pode ser velha e doente e, mesmo assim, a dor, o medo e a tristeza são indesviáveis.
Dunne tinha 69 anos de idade e um histórico longo de problemas cardíacos — usou inclusive um marcapasso. Ainda assim, quando morreu, pouco antes do jantar, devido a um acidente coronariano fulminante, a esposa ficou desolada. Ele e Joan completariam quatro décadas juntos no ano seguinte. Pouco depois de ter o livro publicado, ela perderia a filha (para uma septicemia), encerrando um sofrimento que havia começado quando o pai ainda estava vivo.
Impressiona o fato de Joan Didion ter sido capaz de lidar com uma dor tão íntima e tão intensa usando um texto seco e direto, além do poder analítico próprio de seus ensaios.
O sofrimento causado pela perda, quando ela realmente acontece, não é como a gente imaginava que fosse. […] A dor causada por esta perda é diferente. O sofrimento não pode ser medido em distâncias. Ele vem em ondas, como num acesso, um ataque, em súbitas apreensões que enfraquecem os joelhos, cegam os olhos e transtornam o cotidiano da vida da gente.
No fim, tentar entender a morte se revela uma tarefa tão improvável quanto a de explicar a vida. Embora “não compreender” seja também uma resposta.