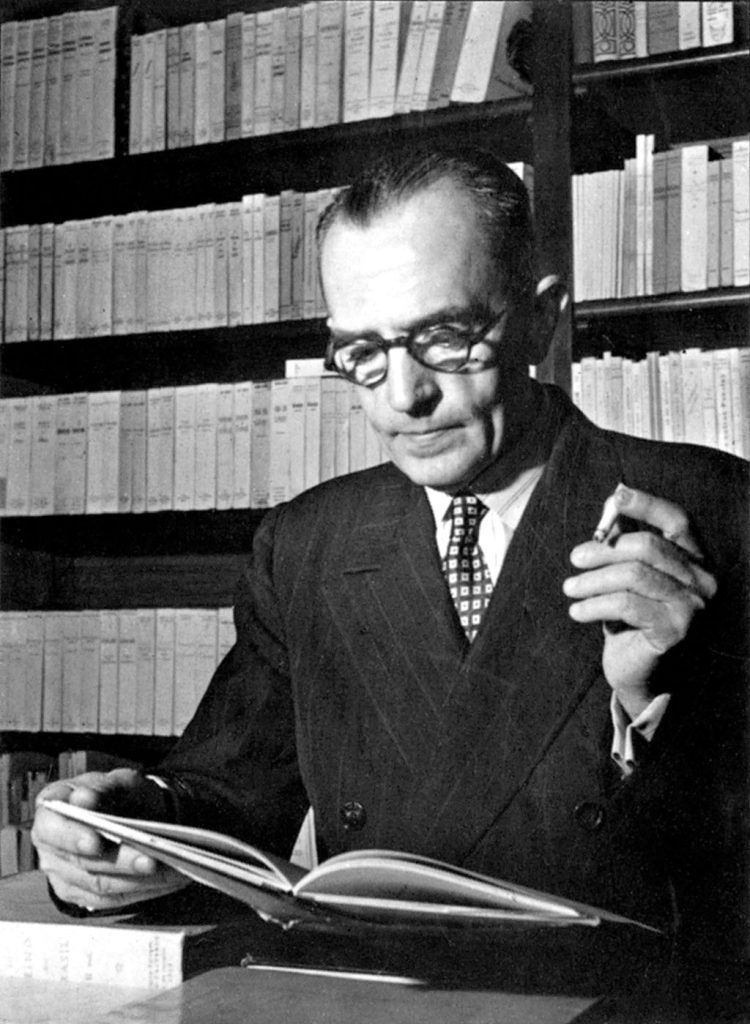A maneira clássica — e redutora — de ler Angústia, o romance de Graciliano Ramos, é tomá-lo como uma história sobre o ciúme doentio e as conseqüências funestas que este sentimento chega a produzir. Na terceira ponta do amor entre Luís da Silva e a vizinha Marina, aparece a figura de Julião Tavares, sujeito pomposo, cheio de poses e de palavras, que engravida mocinhas inocentes e ilude mulheres maduras, tornando-se a encarnação do Mal. Na mente frágil do pacato Luís da Silva, ele se transforma em uma obsessão.
Mas existem muitas maneiras de ler um livro, ainda mais um grande livro como Angústia. Por que não, em vez de ver Julião Tavares como um sedutor barato, não tomá-lo como uma metáfora da própria literatura, isto é, aquela presença sedutora, mas perigosa, que desestabiliza a inocência do mundo, abrindo portas para o desconhecido, para a perturbação e para o caos?
Todos conhecem a clássica história de Graciliano Ramos. Luís da Silva, um homem indiferente aos apelos do amor, se apaixona pela vizinha, Marina. Para não perdê-la, lhe propõe casamento. A decisão, contudo, em vez de se tornar uma garantia de solidez afetiva, tem efeito contrário: desestabiliza Marina, lançando-a na indiferença e na apatia. É neste intervalo afetivo que o escorregadio Julião Tavares aparece para seduzi-la e roubá-la de Luís da Silva. A ausência de amor se converte, logo, na obsessão para eliminar o culpado.
A chave do romance surge quando a leitura já está bastante avançada. No momento em que Luís, certo de que Julião Tavares destruiu não só seu amor por Marina, mas a própria Marina, decide matá-lo. Não se trata aqui de defender ou, ao contrário, de denegrir a figura de Julião. Mas, sim, de observá-lo em uma perspectiva que ultrapassa o psicológico: como a presença súbita e insuportável do imprevisto na vida do narrador de Graciliano.
Perseguido pela imagem de Julião Tavares, o infeliz Luís da Silva não vê alternativa: ou a suporta como uma condenação sem fim, ou a elimina — quer dizer, a enfrenta. Este Julião que seduz e abandona, que provoca e escapa, e que produz sentimentos incômodos na mente do pobre Luís, podemos pensar, é uma imagem perfeita para a literatura — é a própria literatura, ou aquele emaranhado de instabilidade e beleza, de perturbação e palavras, que a põe em movimento.
Escreve-se, em geral, na esperança de “matar” alguma coisa — um desejo vago, que aborrece, que apoquenta, que inquieta. Um desejo que não se suporta e que, com o desgaste, com a passagem do tempo, se quer apenas eliminar. Só que, na literatura, em vez de matar alguém na esperança de que a perplexidade enfim se aquiete, temos que criar. Em outras palavras: temos que transformar o espanto em outra coisa, mais suportável. E isso se faz com uma caneta, e não como uma corda (como fez Luís da Silva), ou com uma faca. Temos, como disse Freud, que “sublimar”, ou seremos destruídos. De qualquer forma, é matar ou morrer.
Este movimento primário, fundamento de toda a literatura que a crítica quase sempre despreza e sobre o qual os próprios escritores quase nunca se põem a pensar, é, no entanto, o motor da escrita. É sua fonte, sem a qual toda literatura se torna, só, uma tarefa burocrática, lição de casa, exercício de estilo, pose, afetação — nada que, de fato, interesse.
Força que os escritores desejam “matar”, mas para a qual, paradoxalmente, dirigem sua admiração e devoção. É Luís da Silva quem diz de Julião Tavares: “De repente senti uma piedade inexplicável, e qualquer coisa me esfriou mais as mãos. Julião Tavares era fraco e andava desprevenido, como uma criança, naquele ermo, sob ramos de árvores dos quintais mudos”. E, um pouco mais à frente, ele continua: “Julião Tavares era uma sombra, sem olhos, sem boca, sem roupa, sombra que se dissipava na poeira da água”. Matéria bruta e disforme, ponto de partida de que não se pode fugir.
A esperança
Difícil lidar com essa sombra, esse fantasma, que todo escritor é levado a enfrentar. Uma sombra que, se o escritor se esquiva, se dela foge, se transforma, quase sempre, em um perseguidor. Em plena crise (deve matar Julião Tavares, ou não? Deve ceder ao impulso, ou anular o impulso?), o narrador de Graciliano se recorda de José Baía, que “vinha me contar histórias no copiar, cantava mostrando os dentes tortos muito brancos”. Baía “era bom e ria sempre”. Acossado por visões e delírios que nada mais são que as histórias mal contadas, Luís da Silva se apoiava em Baía, que “dava-me explicações a respeito das visagens, mencionava as orações mais fortes”.
José Baía é a esperança de um controle pacífico, a esperança de uma vitória sem sangue — mas toda literatura, Graciliano Ramos nos leva a pensar, só se faz com derramamento de sangue. O primeiro desejo de Luís da Silva é livrar-se do que o atormenta, é eliminar a aflição. “Desejei que Julião Tavares fugisse e me livrasse daquele tormento”. Inverte as posições, e chega à idéia de que seria melhor se Julião (a literatura) dele pudesse escapar. “Era preciso que alguma coisa prevenisse Julião Tavares e o afastasse dali”, Luís pensa. “Ao mesmo tempo, encolerizei-me por ele estar pejando o caminho, a desafiar-me”, cede ao sentimento contrário. E é este choque de sentimentos que, mesmo o atolando, o move.
Luís da Silva se pergunta por que Julião Tavares não corre, não foge de seus “instintos ruins” — por que não o deixa em paz, quieto em seu canto, mudo, livre das palavras. Ainda assim, e por fim, ele o mata, com uma corda, na esperança de que “a obsessão ia desaparecer”. Mas os escritores conhecem essa danação: mesmo o ato extremo de nada serve, já que ela não desaparece. Ela cresce. Após um livro, impõe-se outro livro, após um relato, outro relato, após um poema, outro poema. A coisa não pára. Uma obsessão não se mata, ao contrário, ela se alimenta de sua própria destruição. “Inútil, tudo inútil”, Luís da Silva passa a repetir. E fica preso nisso, constatação que não o leva a nada, a não ser de volta ao próprio susto. “Tudo inútil”, ele repete, várias vezes.
Enquanto luta para erguer o cadáver de Julião Tavares sobre uma árvore, na esperança de simular um suicídio, o narrador de Graciliano Ramos começa a ouvir vozes. “As vozes cada vez mais distintas, grossas, finas”, ele descreve. Vozes que se multiplicam e que, quanto mais desprezadas, mais se fortalecem. É nesse momento que Luís da Silva se vê igualado a Julião Tavares, embora um esteja vivo, e o outro, bem morto. “Luís da Silva, Julião Tavares, isso não vale nada. Não faz mal que vocês desapareçam. Propriamente vocês nunca viveram”, diz.
As vozes se multiplicam, formam uma teia que o prende. A literatura se impõe — ela não é como a fome, que se “mata” e então nos dá uma trégua; não é como o perseguidor, que se mata e de quem, assim, nos livramos; é, ao contrário, um bicho que se alimenta de sua própria negação. Chega a achar, o pobre Luís da Silva, que a saída é ceder às forças da polícia e embrutecer-se. “Voltar, esperar tranqüilamente as grades úmidas e pegajosas. Embrutecer-me-ia detrás delas”. A esperança do retrocesso, da paralisia, da infertilidade. O desejo de impotência, a impotência como (falsa) solução.
Mas é a imaginação, na verdade, que o persegue, imaginação que tem no morto, Julião Tavares, só uma metáfora. É a imaginação que o leva a acreditar, precariamente, em certa técnica primitiva. “No sertão introduzem uma colher de prata na boca do homem assassinado — e o criminoso que não sabe orações fica preso: desorienta-se e acaba voltando para junto da vítima”. Quando, enfim, consegue voltar para casa, Luís da Silva luta para se limpar não só das imagens que o atormentam, da imaginação em fogo, mas também das pistas materiais deixadas pelo crime que cometeu. Mas já não pode se limpar do que viveu. “Um rumor enchia-me os ouvidos, burburinho que ia crescendo e me dava a impressão de que a casa, a cidade, tudo, caía lentamente. As paredes se desmoronavam como pastas de algodão”.
O delírio toma conta de Luís da Silva. “Ia cair de cama, delirar, morrer. A carne estremecia, os pés doíam-me.” Alucina com cavalos em desordem que o perseguem. “Era um tropel distante, rumor que se confundia com a cantiga dos sapos.” E diz mais: “O galope dos cavalos não me saía dos ouvidos, crescia, como se avançasse no paralelepípedo. Donde vinham aqueles cavalos?”. E então, em meio ao tremor, agarrando-se a ele como peça de salvação, Luís da Silva imagina um livro que escreveria na cadeia.
“A idéia do livro aparecia com regularidade. Tentei afastá-la, porque realmente era absurdo escrever um livro numa rede, numa esteira, nas pedras cobertas de lama, pus, escarro e sangue.” Mas continua a pensar no livro, e isso aumenta a sensação de um mundo que se desfaz em torno de si: “Os objetos deformavam-se”. Delira, mas sabe que delira — e isso, não consegue perceber ainda, já é o livro que se impõe. Diz: “Aborrecia-me saber que os cavalos não existiam, as carapanãs não existiam, os indivíduos que atravancavam as portas não existiam”. Não existir é a possibilidade do livro, é a possibilidade da literatura.
Bombardeio de letras
Aos poucos, enquanto Luís da Silva espera a condenação pelo crime que cometeu, o mundo toma a forma de uma grande dispersão. O tempo se detém, se contrai. “O relógio da sala de jantar tinha parado. Certamente fazia semanas que eu me estirava no colchão duro, longe de tudo.” Continua a ouvir vozes, vozes imprecisas. Figuras indefinidas intensificam sua presença. “O desconhecido continuava a falar. Eu subia a parede novamente e corria atrás da réstia. Cairia no tijolo outra vez, achatar-me-ia ouvindo o monólogo incompreensível.” A base da literatura: um sussurro. Um vozerio que não se pode entender, que só a muito custo se fixa, e logo depois se esvai. É preciso escrever rápido, ou as palavras se vão.
As visões de Luis da Silva continuam. “Um buraco ao pé de uma cerca. Eu tombava no buraco, ia descendo lentamente.” E na mesma página, logo à frente: “… eu tinha agora um livro aberto sobre o colchão. Não sabia quem me trouxera o livro, se ele surgira antes ou depois da visita. As letras saíam dos lugares, deixavam espaços em branco, espalhavam-se numa chuva silenciosa”. Bombardeio de letras, que o agridem e o desafiam. Como um escritor, inquieto e tenso, diante do caderno em branco.
Fora de si, Luís da Silva termina por se afogar em seu livro — já que a literatura é o oposto, a literatura é cair em si, é aprender a nadar e a sobreviver apesar de tudo. Mas toda literatura parte do incompreensível, o enigma é sua matéria — e o escritor escreve na esperança de decifrá-lo, ainda que nunca consiga isso, mesmo quando tiver o livro pronto. “Impossível adivinhar o sentido de uma palavra. Língua estrangeira, tão estrangeira quanto o solilóquio monótono.” Toda literatura é estrangeira, mesmo para aquele que escreve, já que não se pode dizer de onde ela vem, e nem mesmo o que ela pretende.
Língua pessoal, intransferível, que só o próprio escritor pode decifrar — e a literatura é essa decifração, ou a esperança de decifração. “Agarrava-me ao livro, compreendia vagamente o que estava escrito”, diz. Afora o livro que deve decifrar (um livro interior, que se apresenta como delírio), só os zumbidos. A zoeira que vem de fora, que o invade e o aprisiona. “O zumbido das carapanãs era insuportável.” Insiste em procurar o sentido das palavras, mas elas são apenas sombras, que não se deixam ler. “Por detrás das letras brancas, rostos medonhos arreganhavam os dentes e piscavam os olhos. As letras torciam-se.” Escrever é atravessar um inferno.
Depois do crime, quando a estabilidade do mundo se desmancha, Luís da Silva pode, enfim, voltar a si. Retorno doloroso, cheio de culpa, de remorso, que o lança em uma estrada precária, instável que, no entanto, e enfim, torna possível a existência do livro. Que torna possível a decifração de palavras e, assim, abre caminho para a literatura.
Não é preciso dizer: ninguém precisa se tornar um assassino, como Luis da Silva, para chegar a escrever. O crime aqui é outro: é a coragem de cometer o ato extremo, de sair de si, de perder-se, para só então ter a chance de retornar com outra face e, sobretudo, com outros olhos. O que se vê, em seguida, é pura neblina, imagens imperfeitas, pedaços de gente, vultos imprecisos. É a matéria da literatura, que não surge de projetos lúcidos e intenções claras, não provém do conhecimento, ou da preparação técnica, mas de um mergulho ali onde quase nada se conhece. É esta a angústia, enfim, de que sofre Luís da Silva, o personagem de Graciliano Ramos. Angústia (aflição sem remédio) que é a origem da literatura. Se, em vez de matar o infeliz Julião Tavares, Luís da Silva tivesse escrito um livro, teria ido, por certo, muito mais longe. Ali onde Luís da Silva cometeu um crime, Graciliano Ramos escreveu um grande romance.