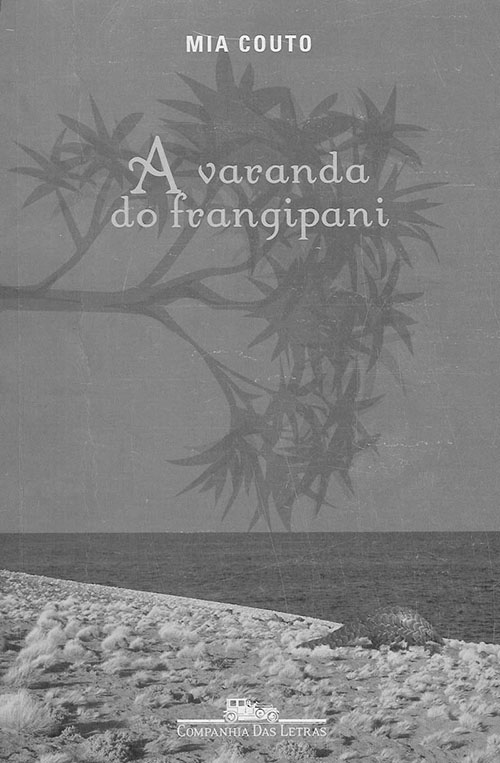A literatura de Mia Couto é uma das mais cultuadas dentre os países de língua portuguesa. Merecidamente. Carregada de elementos mágicos, sua ficção é reconhecida por muitos como uma alegoria dos conflitos de identidade e das contradições culturais e políticas vividas por Moçambique. Mia Couto recriou, literariamente, um país que renega o exotismo do olhar estrangeiro, lida com as urgências de um passado sanguinário ainda recente e se vê impelido a preservar suas tradições seculares, sob a constante ameaça da descaracterização cultural.
A varanda do frangipani (1996) é seu segundo romance e um de seus livros mais bem sucedidos. Em parte porque Mia Couto é bastante hábil ao manipular algumas convenções narrativas próprias de um gênero que, aparentemente, estaria muito distante de seu universo ficcional: o romance policial.
Historicamente, o romance policial é tido como um gênero literário “racionalista”, o que se deve, em grande parte, ao modelo clássico do romance de enigma: o crime é um acontecimento de exceção, uma mácula na ordem social estabelecida, que será restituída por meio do trabalho de investigação. Esta, por sua vez, é levada a cabo por um detetive cujos métodos são científicos e dedutivos: a lógica predomina sobre a barbárie.
É claro que, do século 19 para cá, muita coisa mudou, principalmente depois do romance noir norte-americano surgido nos anos 20. E, hoje em dia, é cada vez mais comum que detetives sejam mais intuitivos do que analíticos, e que muitas tramas e mistérios fiquem sem solução definitiva. Mas, ainda assim, podemos afirmar que o enredo policial é um modelo centrado na investigação de um crime, e no estabelecimento de suas causas e efeitos. O detetive é aquele que estabelece uma leitura racional do mundo (absurdo) que investiga.
Este modelo de romance não poderia estar mais distante do rótulo que se convencionou aplicar à ficção de Mia Couto, o do realismo mágico ou realismo maravilhoso, como preferem alguns. Mas a verdade é que a aliança entre dois estilos narrativos tão diversos resultou em uma eficiente e interessante representação do conflito entre o mundo mítico e fantástico das lendas moçambicanas e o olhar racionalista estrangeiro.
Insólito
O enredo de A varanda do frangipani é insólito, desde o início. O narrador abre o romance apresentando-se: “Sou o morto. Se eu tivesse cruz ou mármore neles estaria escrito: Ermelindo Mucanga”. A afirmação é literal: Ermelindo morreu às vésperas da independência de Moçambique, enquanto trabalhava nas reformas do forte de São Nicolau. É enterrado aos pés de um frangipani, uma bela árvore de “perfumosas flores”, e que dedica ao morto seus “nocturnos pensamentos”. Por não ter recebido um serviço funerário conveniente, Ermelindo transforma-se em um “xipoco”, uma dessas “almas que vagueiam de paradeiro em desparadeiro”. Certo dia, seus restos mortais são violados por agentes do governo em busca de um herói nacional. Resistente à idéia de ser um falso herói, e seguindo os conselhos de seu pangolim (um mamífero de escamas que “mora com os falecidos”), Ermelindo decide morrer novamente, a fim de descansar em paz. Para isso, precisa encarnar no corpo de alguém que esteja com os dias contados.
A escolha é o detetive Izidine Naíta, que está a caminho do forte de São Nicolau. Na verdade, finda a guerra, o forte foi transformado em um asilo, e o detetive foi enviado para investigar o assassinato de seu diretor, Vasto Excelêncio. Enfim, é através do ponto de vista do xipoco reencarnado que acompanhamos uma investigação policial. Um a um, são interrogados os pacientes bastante incomuns do asilo, todos suspeitos do crime. Entre eles, a feiticeira Nãozinha, e o “velho-criança” Navaia Caetano, que acumulam “estórias” de vida que são, também, as “estórias” do país. Como a de um senhor que alcançou a longevidade através do oferecimento calculado de sua perna ao ataque de certas cobras, cujo veneno “em doses, nos dá mais vivência”. Ou a da mulher condenada a dar à luz consecutivamente, sempre ao mesmo filho. Tais experiências não são passíveis de registro escrito, não são literatura. São oriundas de um saber ancestral, como explica Navaia ao detetive:
Enquanto ouvir estes relatos você se guarde quieto. O silêncio é que fabrica as janelas por onde o mundo se transparenta. Não escreva, deixe esse caderno no chão. Se comporte como água no vidro. Quem é gota sempre pinga, que é cacimbo se esvapora. Neste asilo, o senhor se aumente de muita orelha. É que nós aqui vivemos muito oralmente.
Izidine Naíta, como muitos outros personagens de Mia Couto, é moçambicano que foi estudar na Europa, e tal “afastamento limitava o seu conhecimento da cultura, das línguas, das pequenas coisas que figuram a alma de um povo (…). No campo, não passava de um estranho”. Essa condição faz de Izidine um forasteiro em seu próprio país, acusado de arrogância, por supor que sua autoridade e suas leis européias sejam reconhecidas naquele lugar. Estabelece-se uma clara oposição entre o mundo racionalista e o mundo do mito, do conhecimento ancestral moçambicano. Os personagens são mais do que testemunhas de um crime; “são guardiões de um mundo. É todo esse mundo que está sendo morto”. Frente a tamanho mistério, Izidine se sente impotente: “Desculpe, mas isso, para mim, é filosofia. Eu sou um simples polícia”.
O detetive precisa assumir que, naquele ambiente, o mágico e o sobrenatural são parte indissociável da realidade. O principal conflito, portanto, é de perspectiva. Guardadas as devidas proporções, é difícil não se lembrar de outros expoentes do chamado realismo mágico, e de suas comunidades, como a Macondo de Gabriel García Márquez, ou a Índia de Salman Rushdie. Nesses lugares, o mágico é real, e sob o ponto de vista de seus habitantes, isolados do olhar racionalista e da mentalidade positivista dos grandes centros urbanos, o diálogo com os mortos e a levitação dos corpos, por exemplo, são plenamente aceitáveis, enquanto elementos do cotidiano citadino são recebidos como objetos insólitos e fantásticos.
Em Mia Couto ocorre uma inversão semelhante. Para o moçambicano, é o branco que apresenta as histórias de vida mais estranhas e surpreendentes:
O português, coitado, mantinha aquela ilusão. Ele não entendia o passado. Não foram armas que nos derrotaram. O que aconteceu é que nós, moçambicanos, acreditamos que os espíritos dos que chegavam eram mais antigos que os nossos. Acreditamos que os feitiços dos portugueses eram mais poderosos. Por isso os deixamos governar. Quem sabe suas histórias eram mais de encantar? Também eu, no presente, gostava de escutar as histórias do velho português. Uma vez mais, lhe pedia que me entretivesse de fantasias.
Trata-se de outro modo de compreender o passado recente do país e a própria História, em sentido mais amplo. Deste modo, o modelo racionalista do romance policial surge apenas para ser derrotado, tornado ineficiente frente às “estórias” locais. O mágico predomina sobre o racional, e os mitos locais superam o olhar estrangeiro, supostamente “educado”, mas incapaz de compreender aquela realidade particular. Realidade que espelha, alegoricamente, todo o país. Não à toa, o título do livro resgata uma de suas epígrafes, de Eduardo Lourenço: “Moçambique: essa imensa varanda sobre o Índico”.
A varanda do frangipani ganha muito quando lido em conjunto com o romance seguinte de Mia Couto, O último voo do flamingo (2000). Desta vez, é um italiano, Massimo Risi, que é enviado à fictícia Tizangara para investigar as misteriosas mortes de soldados da força de paz da ONU. Novamente, não é o detetive que conta a história, mas alguém mais próximo ao universo local: o administrador Estevão Jonas, que atua como tradutor do agente europeu. Intérprete não apenas da língua, mas de todo o universo moçambicano.
Mas a trama policial serve ainda a uma última e decisiva metáfora. Mais de uma vez a imagem do leitor de literatura já foi associada à do detetive. Ricardo Piglia, por exemplo, em seu recente livro de ensaios, O último leitor, nos lembra que no conto que inaugurou o gênero policial, Os assassinatos da rua Morgue, o detetive Dupin é apresentado ao leitor em uma livraria, enquanto procurava por um livro raro. Edgar Allan Poe, que gostava de enigmas, já associava, portanto, a figura do detetive com a do leitor: ambos se comportam de maneira semelhante frente ao mundo, lendo suas pistas e interpretando-as.
Talvez possamos entender que o leitor, em A varanda do frangipani, precise cumprir tarefa semelhante à do detetive, e se desvencilhar das convenções fáceis da literatura dita realista e reaprender a “ouvir a noite”, como diz uma personagem. Neste sentido, não cabe ao leitor descobrir a resposta inequívoca de um enigma, e sim vivenciar um “penumbroso território de vultos, enganos e mentiras”, como é, afinal, toda boa literatura.