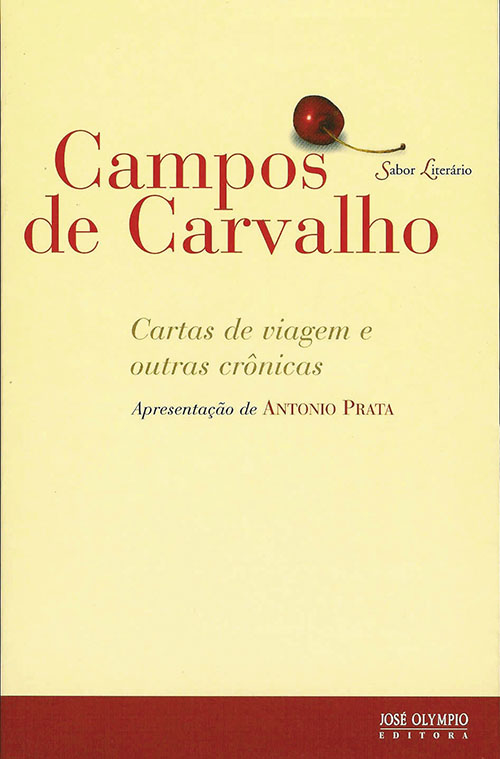Cometo a imprudência de resenhar este livro de crônicas do mineiro Campos de Carvalho (1916-1998) sem jamais ter lido uma linha dos seus principais livros: os romances A lua vem da Ásia (1956), Vaca de nariz sutil (1961), A chuva imóvel (1963) e O púcaro búlgaro (1964). Afinal, pelo que já li sobre ele — e as “crônicas passionais” de Nelson de Oliveira, reunidas no volume O século e outros sonhos provocados, são a minha principal referência sobre esse autor —, sua característica mais marcante não está presente neste volume: a da “voz raivosa”, que, segundo Oliveira, o colocaria numa tradição da literatura ocidental que ecoa em páginas dos bíblicos Jó e João (o do Apocalipse), passando por Bocaccio, Cervantes, até repercutir, de forma mais enfática, em Dostoiévski, sobretudo em suas Memórias do subterrâneo (ou do subsolo, como prefere Boris Schnaidermann).
O fato é que, nas vinte crônicas de Cartas de viagens e outras crônicas, o leitor não encontrará um Campos de Carvalho propriamente raivoso. Diversamente dos romances, não há cólera, mas há o niilismo do romancista, expresso aqui na forma de um humor negro e escrachado.
Parte delas escrita na forma de cartas “que enviava para si mesmo na viagem que fez a Lisboa, Londres e Paris”, conforme assinala Antonio Prata, no prefácio, as crônicas do volume foram, em sua maioria, publicadas no Pasquim em 1972. Nelas, Carvalho coloca impressões personalíssimas, através das quais o ficcionista se impõe, e, digamos, rouba a cena em relação ao mero “fotógrafo”. Para isto contribui trechos de impagável nonsense, através das quais se entrevê o iconoclasta pouco interessado numa suposta “realidade objetiva”.
Imagens desconstruídas
Em suas passagens mais hilárias, Cartas de viagens proporciona, ao incauto leitor, o risco de parecer doido. Por uma razão muito simples: não é comum ver-se pessoas dando risadas sem outro interlocutor que não um livro. Afora este pequeno volume, apenas duas outras obras me submeteram a semelhante vexame: o Romance d’A Pedra do Reino e do príncipe do sangue do vai-e-volta (que nada tem a ver, diga-se de passagem, com a minissérie da Globo, sofisticadíssima, mas totalmente infiel ao texto que a inspirou), de Ariano Suassuna, e a novela Os últimos tempos heróicos em Manacá da Serra, do baiano Ruy Espinheira Filho. Razão pela qual se deve evitar ler estes livros em público.
Nenhum dos símbolos londrinos escapam do humor cáustico de Carvalho: Sobre o fog, diz ele: “Tive sorte de enxergá-la [Londres] logo no segundo dia, pois tenho um amigo que ficou aqui três semanas e só conseguiu ver neblina, neblina, neblina: acabou indo ao oculista pensando que estava com catarata”. Do humor inglês: “Já deu também para perceber que o famoso sense of humour inglês está em vias de extinção, se é que realmente existiu algum dia: a novíssima geração londrina julga-se engraçadíssima (parece que o mal é universal) e morre de rir de tudo o que você faça ou deixe de fazer na rua: ser atropelado e morto, por exemplo”. Da pontualidade britânica: “Aliás, a única coisa que realmente funciona mal aqui em Londres, pelo que vi, são os relógios públicos: cada um marca uma hora diferente, e tem até os que não marcam hora nenhuma. A proverbial pontualidade britânica é uma pilhéria: ou então cada um é pontual mas dentro do seu próprio horário, e todos os horários são válidos. Meu pobre relógio brasileiro já ficou maluco”.
Assim, a imagem que o autor de O púcaro búlgaro constrói da capital inglesa, justamente no período áureo do psicodelismo, no início dos anos 70, é a de uma cidade-museu, gelada, perigosa e de mau gosto, conforme mostram os seguintes trechos:
Na véspera de vir para Londres comprei um livrinho desses de bolso cujo título me pareceu sugestivo: Comece a falar inglês hoje mesmo. De fato, já no dia seguinte eu falava o inglês correntemente, só que os ingleses aqui pareciam não entender muito bem, como ainda não continuam entendendo: em compensação, diga-se de passagem, eu os entendo ainda muito menos.
Os táxis em Londres têm, todos, cara de popô de mulher velha. Pertencem ao Serviço de Patrimônio Histórico e só saem à rua como atração turística — embora você possa entrar neles e ir de um lugar para o outro, pagando naturalmente o preço da viagem.
As paredes em Londres realmente falam e gemem à noite, pelo menos as do hotel onde estou. Você está tranqüilamente lendo o seu jornal quando dão três batidinhas ao lado da sua cama, tenha porta ou não tenha porta — e depois das batidinhas vêm uns estalidos que tanto parecem beijos como tampas de esquifes se abrindo, acompanhados de sussurros quase imperceptíveis e vozes que mais parecem vozes de baratas ou de aranhas. Posso garantir que não se trata nem da calefação nem de nenhum casal no quarto ao lado fazendo amor e, segundo minhas deduções metafísico-agnósticas, deve tratar-se mesmo é de autênticos fantasmas ingleses — do segundo time, evidentemente, pela modesta categoria do meu hotel.
Continuo sendo atropelado toda semana — e sempre pela esquerda, que aqui é a direita: só um canhoto consegue regressar são e salvo ao seu país, e assim mesmo ponho as minhas dúvidas.
Se o leitor questiona a veracidade das informações trazidas pelo cronista, certamente é porque não conseguiu ficar na postura adequada, isto é, de cabeça para baixo, como se verá adiante, para ler seus textos. Ou não perceberá que a crônica, como gênero literário, não precisa necessariamente ter a adesão ao real que lhe exigem os críticos.
Louco-saltimbanco
Não é difícil identificar, nas bem-humoradas páginas de Campos de Carvalho, alguns traços da sua biografia, mais especificamente o seu desencantamento ou pouco caso em relação aos homens e à “glória literária” — os mesmos, talvez, que o levariam a integrar o que Antonio Prata chama de “clube de desistentes”, dentre os quais se pode encontrar desde Rimbaud até Raduan Nassar, ou Carlos Anísio Melhor. Não passa despercebido, a um olhar mais atento, a amargura que se casa perfeitamente com o humor de suas tiradas geniais.
Essa amargura é mais perceptível na primeira parte do livro, quando Carvalho identifica nos “demônios do desespero” a razão de escrever cartas e mais cartas dirigidas a ele mesmo; e, na segunda parte do livro, que, como bem observou Prata, está mais impregnada da melancolia machadiana. Ali está presente, de forma inequívoca, sua declarada afinidade com o louco-saltimbanco, que se posta de ponta-cabeça (plantando bananeira) para ver, de forma mais lúcida, a realidade. Diz ele: “O mundo é tão de cabeça para baixo, os valores todos tão invertidos, que só se pondo de pernas para o ar você consegue pisar no chão e olhar o adversário nos olhos, medi-lo em sua insignificância, a ele e seus cânones — a ele e seus cânceres”.
Eis aí a senha para perceber e comungar devidamente o texto de Walter Campos de Carvalho: a sua crítica mais profunda à “deusa Razão inventada pela Revolução Francesa”, e o seu apelo à não-Razão. É por aí, talvez, que os neófitos na obra desse ficcionista, a exemplo do autor dessas linhas, poderão dar um segundo passo em direção aos romances do autor, adotando a máxima de que, afinal de contas, “só é doido quem não é”. Em sua plena solidão, no silêncio que envolveu sua pessoa durante mais de vinte e cinco anos, até a sua morte em 1998, Campos de Carvalho reafirmou sua convicção de que os loucos são como os tigres: “não costumam mesmo andar juntos”.