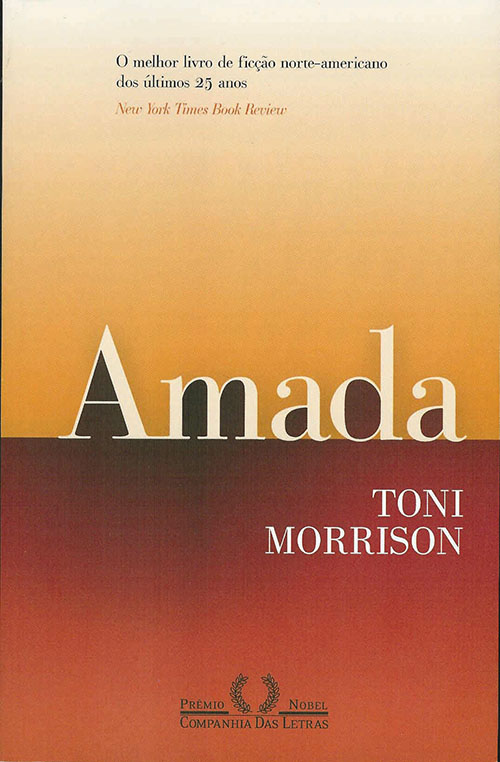Ao ser laureada com o Prêmio Nobel em 1993, Toni Morrison viu surgir uma ruidosa discussão sobre o merecimento ou não da honraria. Não foram poucos os que acusaram a Academia Sueca de praticar mais um de seus atos políticos, de cunho politicamente correto, ao premiar uma autora sem dúvida menor e ainda com uma obra relativamente curta, em construção. A politização, é lógico, advém do fato de Morrison ser negra e mulher. Um exemplo de benevolência da academia em relação a duas minorias, em detrimento de escritores muito mais importantes e influentes dos Estados Unidos, como Philip Roth, John Updike e Thomas Pynchon. Ano passado a discussão foi retomada quando o New York Times elegeu Amada o melhor romance norte-americano dos últimos 25 anos, à frente dos mesmíssimos autores citados acima e ainda outros, como Don DeLillo e Cormac McCarthy. O burburinho foi menor, visto que Amada venceu menos por seus méritos do que pelo fato de Roth e DeLillo terem tido votos divididos entre vários romances diferentes, o que não aconteceu com Morrison.
Ela definitivamente não é uma criadora do mesmo porte que esses outros, mas seu talento dispensa a suposta condescendência da Academia Sueca. Amada não é o melhor romance norte-americano dos últimos 25 anos. Longe disso. Porém Morrison também não pratica, como afirmou, venenoso, o ensaísta Harold Bloom, mera literatura de supermercado. Trata-se de uma obra vigorosa, de elogiável amplitude técnica e emocional, bem resolvida tanto no aspecto literário quanto no histórico. Morrison utiliza-se de vários recursos para fazer a narrativa progredir (devagar), desde o discurso indireto e pontos de vista alternados até idas e vindas no tempo e monólogos delirantes e obsessivos. No prefácio, ela explica seu curioso processo de criação: Amada surgiu da vontade de explorar literariamente um episódio que havia lido no jornal, mas só ganhou foco depois que a escritora “viu” uma mulher de chapéu no jardim.
A história que Toni Morrison leu no jornal era a de uma escrava fugitiva que cortou a garganta de sua filha para evitar que ela tivesse o mesmo destino. Em Amada, a escrava é Sethe, hoje uma mulher livre, trabalhadora, que vive com a filha Denver em uma casa (o “124”, uma entidade com vida própria, “cheio de um veneno de bebê”) afastada da cidade. Vivem isoladas, a ponto de Denver poder contar nos dedos as vezes em que foi além do jardim. Elas viviam com a sogra de Sethe, a carismática pregadora Baby Suggs, agora falecida, e com os dois filhos mais velhos de Sethe, que fugiram de casa ainda adolescentes. Seu marido havia sumido quando ela fugiu de Doce Lar, fazenda branca onde era escrava. O caso do assassinato do bebê, ocorrido pouco depois que Sethe chegou a Cincinnati, fez com que a cidade toda, mesmo a comunidade negra, evitasse qualquer contato com Sethe. O 124, dizia-se, era assombrado pelo fantasma da menina morta pela mãe. Certo dia aporta na casa uma visita inesperada: Paul D, também ex-escravo da Doce Lar, amigo de Sethe desde a infância dela. Os dois começam um caso despretensioso (para desgosto da ciumenta Denver) e vislumbram um futuro feliz, após décadas de violência, solidão e preconceito.
As coisas começam a mudar quando surge uma estranha e bela jovem vestindo roupas novas. Ela não sabe de onde veio ou como chegou ali. Sabe apenas o seu nome: Amada, a única palavra incluída na lápide do bebê morto de Sethe. Não demora a ficar claro que a moça é uma espécie de reencarnação da falecida, que voltou para acertar as contas. Foi a contribuição de Toni Morrison para a história da ex-escrava que havia lido no jornal: segundo ela, a personagem da reportagem “era fascinante, mas, para um romancista, era limitadora. Muito pouco espaço imaginativo para o que eu queria (…) A figura mais central da história teria de ser ela, a assassinada, não a assassina, aquela que perdeu tudo e não tivera nenhuma opção em casa”, assinala. Amada conquista o carinho e a confiança de Sethe e Denver e a desconfiança de Paul D, a quem logo expulsa da casa.
Riscos
A autora correu alguns riscos consideráveis em Amada. Ainda no prefácio, explica que queria relacionar a história de Sethe “com questões contemporâneas sobre a liberdade, a responsabilidade e o ‘lugar’ da mulher”. Não seria difícil, portanto, que o enredo caísse na autocomiseração, em um libelo político-feminista em defesa das pobres mulheres e dos pobres escravos. Morrison escapou da cilada: seus personagens possuem vida própria, independem da pena alheia — dos brancos e até dos leitores. Sethe, em especial, é uma figura memorável. Suas atitudes escorregadias e incoerentes não deixam o leitor decifrá-la com facilidade. Uma mãe exemplar, logo ela que degolou uma filha? De onde vem a força que ela parece assumir, se ao escapar de Doce Lar e chegar moribunda a Cincinnati parecia condenada a sucumbir por sua fraqueza de espírito? Embora saibamos que a culpa a corrói, Sethe nunca deixa isso claro, como se ela se orgulhasse por ter impedido a triste sina do bebê. O remorso só passa a dominá-la depois que Amada toma conta da casa e transforma o 124 em um campo de exorcismo sentimental.
O fantasma passa a controlar cada suspiro da mãe. Faz com que ela perca seu emprego, pare de comer e de tomar banho, sacrifique-se em favor da criança assassinada anos antes e que agora retorna para ganhar o que merecia:
Mais uma curva na estrada, e Sethe podia enxergar a chaminé de sua casa; não parecia mais solitária. A fita da fumaça era de um fogo que esquentava um corpo devolvido a ela — como se nunca tivesse ido embora, nunca tivesse precisado de uma lápide. E o coração que batia dentro dele nunca tivesse parado nem por um momento em suas mãos.
Sethe não precisa acertar contas com a filha, e sim consigo mesma. Perdoar-se pelo ato assombroso é a única maneira de levar adiante sua vida. Por isso quando Paul D estava a ponto de trazer a felicidade, o fantasma ocupou a casa, lembrando a mãe de seu pecado ainda não (auto) perdoado.
E se podemos sentir o desmanche psíquico de Sethe, o mesmo não pode ser dito da jovem Amada, e esse é um dos poucos problemas do texto. A impressão é de que Toni Morrison pretendia imbuí-la de ambigüidade, como a mãe, alternando um sádico e cego desejo de vingança com uma paixão obcecada por sua genitora e assassina. Não é convincente. Quando é agressiva e vingativa, Amada soa mimada e birrenta. Quando é amorosa, parece afetada e exagerada. Dos outros personagens, vale destacar Paul D e seus flashbacks dos tempos de escravidão, estranhamente conformado com seu destino de negro e inquieto com o passo que tomará no dia seguinte. Aliás, os homens de Amada são descritos com curiosa naturalidade. Como se disse, sem traços de feminismo ou de rancor sexista. Assim como há brancos bondosos e negros grosseiros, sem estereótipos.
Morrison só volta a errar no final, quando Amada é finalmente expulsa do 124. O desfecho se desenrola rápido demais, sem o devido confronto final entre mãe e filha. Sethe acaba redimida por outras mãos. O esperado mergulho interno que a libertaria dos próprios demônios é abortado — estranho, pois os conflitos são construídos aos poucos e encerrados tão às pressas. O defeito, todavia, não arranha a autoridade do livro, imerso em um intranqüilo, e por isso mesmo sedutor, clima de arrependimento e perda. Mesmo redimida, Sethe sabe que o tempo é traiçoeiro, melindroso: “Mesmo que eu não pense, mesmo que eu morra, a imagem do que eu fiz, ou do que eu sabia, ou vi, ainda fica lá. Bem no lugar onde a coisa aconteceu”.