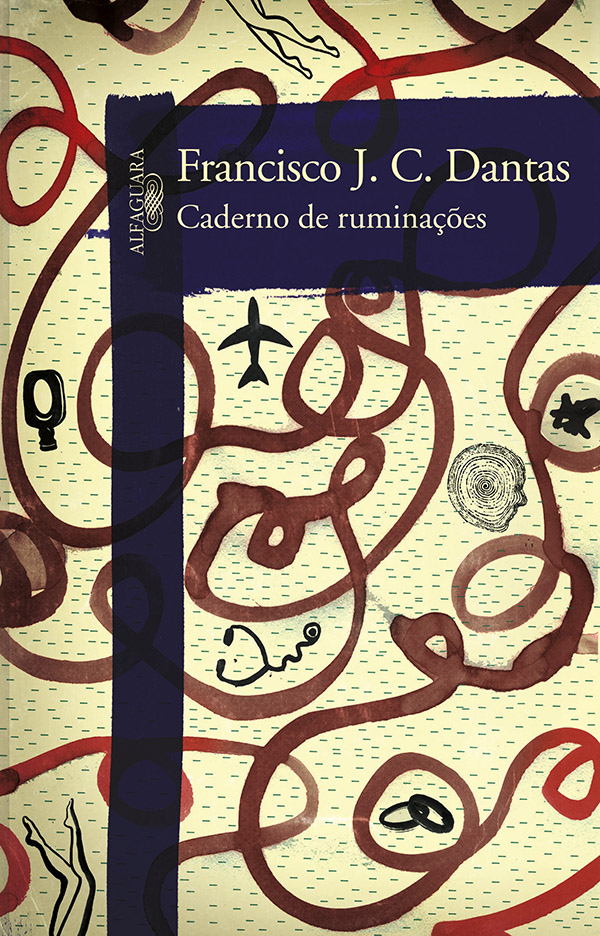Tradução: Rogério Pereira
A tradição aristotélico-tomista dizia da natureza que, ao não ter forças para fabricar um homem, produzia uma mulher. A triste opinião patriarcal ainda vale para pensar a escrita: na falta de forças para a literatura surge a crítica, flatus vocis indigesto da inteligência que se gasta em gostos e desgostos de resenhas.
A crítica literária é o ato miserável da literatura. Também o meu.
Para além da diferença entre homens e mulheres, antes a literatura é coisa de hermafroditas. Os críticos se referem à sua completude por meio do onanismo invejoso. Escritores são titãs cujos calcanhares o crítico, como um cão, vive para mordiscar. Cães, como os cínicos da antiguidade, hoje no entanto perdem a dentadura que usam na mordida.
Já os leitores, destes direi que, não sendo críticos, não devem estar a ler estas poucas notas, pois que quando se interessam pela crítica é que já não amam a literatura. A eles devo dizer que, senil como me encontro, deixei de ser cão desde que, dedicando-me à porcinocultura, percebo que estou mais próximo da natureza real da minha atividade de crítico.
Depois de todos estes anos resenhando para jornais e esnobes revistas internacionais, alcanço a triste conclusão de que não fiz mais do que o que agora faço. Há poucos meses tornei-me produtor porcino, sério participante das reuniões da associação nacional de criadores de cerdos. Isso tem me ensinado mais do que aprendi em toda a vida nas universidades deste país e dos países da língua portuguesa que tanto amo. Português era a língua de minha mãezinha que morreu aos 96 anos, deixando-me sozinho neste mundo. Enterrei-a com simplicidade em São Borja, onde conheceu meu pai e onde devo ter sido gestado, o que me faz meio brasileiro — ou seja, meio argentino, meio brasileiro, talvez que eu também seja, de algum modo, hermafrodita.
Dizem desde Confúcio que nos tornamos aquilo que contemplamos. Assim com a pocilga. Reino em que o sublime ato de fuçar nos leva à metafísica apesar do problema empírico que me vem à mente todos os dias: “vendo ou não os meus leitões para o abate?” é a tradução do “ser ou não ser” neste ponto da vida em que me encontro.
O procedimento da leitura de um livro é, desde então para mim, como a criação de um leitão. Imagino que seja assim também para o escritor. Esta aproximação poderá um dia mudar a relação entre a sujidade da crítica e a sublimidade da literatura. Sabemos desde as mais famosas teorias literárias do século 20, aquelas que lidam com o tema da recepção, que o leitor ajuda o escritor mesmo quando o escritor não ajuda o leitor. De qualquer modo, escritor e leitor são parceiros na vida dos livros, assim como eu e Noe, meu servo fiel, meu Sancho Pança, que me apóia na alimentação dos bichos. Foi Noe quem me trouxe o melhorador hepático, deixando meus animais mais animados, bem como o antibiótico para evitar a contaminação com o parvo que afeta a vizinhança. É preciso, além de todos os cuidados objetivos, observá-los em seu crescimento com um olhar de carinho, deixando surgir a verdadeira contemplação filosófica. Aos poucos, percebi que há criadores — como escritores — que não gostam de ver o animalzinho crescer e vendem o leitãozinho para a ceia do Natal, outros que esperam até que uma única pata de jamón seja suficiente para alimentar uma família inteira. Eu continuo fora disso, vendo a minha criação não caber em si.
Sobre a crítica, no entanto, as coisas ainda não mudaram o suficiente. Sabemos que o procedimento analítico é como a anatomia de um corpo, e para que não acabe sendo uma esfolação de um porco, vou tomar os devidos cuidados na separação da pele e dos músculos, das cartilagens e dos ossos. Aprendi carneando um porco quando era adolescente na propriedade rural de meus saudosos pais. Que a crítica seja para mim uma atividade culpada não é problema algum. Problema é ter que decidir sobre meus rosados chanchos.
Neste contexto é que li, na variedade de afetos providenciados a esta época madura, a obra de Francisco J. C. Dantas, um escritor brasileiro nascido no mesmo ano que eu e que agora me provoca alguns pensamentos, como ruminações, para lembrar já de sua empreitada. Lembro quando conheci Coivara da memória no ano de 1991. Naquela época eu estava no Brasil a convite de um amigo da universidade de Santa Catarina. Ganhei o livro de uma aluna que depois me ofereceu um vinho em sua casa e, por fim, algumas páginas depois, quase nos casamos, não fosse um problema com a tal coivara que quase me enlouqueceu. Naquela época eu era um etimólogo frustrado e trabalhava no projeto de uma gramática do portunhol. A palavra “coivara” e grande parte dos termos do livro do Dr. Dantas me deixaram muito nervoso. Minha frustração vinha de não conseguir achar a origem desta e de outras palavras, como se elas, apesar de castiças, fossem desclassificadas. Isso me deu vontade de escrever algo como um “Dicionário brasileiro de palavras mortas”, mas como crítico sou muito lento e vi que outro autor, Alberto Villas, acabou há pouco criando sua pequena versão (Pequeno dicionário brasileiro da língua morta. Editora Globo, 2012. 304 p.). Apesar de viver afastado do Brasil, continuo acompanhando a produção literária e paraliterária e cada vez mais impressionado com a profusão criativa dos brasileiros.
Vejo, depois de todos os livros do Dr. Dantas, que ele continua falando anacronicamente. Só que o que em Coivara e Os desvalidos era trabalho da linguagem tornou-se um colecionismo neste Caderno de ruminações que ora tenho para abrir com minha faca de matar porcos. O livro foi publicado este ano por uma editora estrangeira que chegou ao Brasil há pouco. Parece que as editoras andam muito interessadas no mercado brasileiro, bem mais do que no argentino, que tem sido melhor em produzir vinhos do que livros. Mas que me importa?! Só o mercado porcino move minhas paixões, ainda mais que estamos a fazer greve em combate ao aumento de impostos desta porquería de governo (aqui sugiro ao Rogério Pereira, meu gentil tradutor, que mantenha a expressão “porquería”, pois talvez já tenha se perdido no termo “porcaria” o sentido contundente da lama, da bagunça, da sujeira).
Posso dizer que sou um velho, mas não deixo de ser moderninho. Jogo fora com a facilidade de um turista visitando um campo de concentração a precária categoria de análise que é o gosto. Gostar e não gostar não são mais que o reto juízo que esconde a falta de repertório dos críticos. Eu gosto dos meus porcos e paro por aí. Por outro lado, 404 páginas não é coisa fácil para velhos como eu, que não contam com a fantasia de uma vida inteira pela frente. Minha secretária, dona Eneida, quase uma beata a quem Noe ainda não desistiu de seduzir, trouxe-me chá de macela, fez-me uma sopa de aspargos — verdade que tinha gosto de cérebro de vaca, mas comi feliz que não fosse com carne dos meus leitões. Além de todos estes mimos, ela anotou o que eu dizia e, por fim, graças a seus cuidados de madre, elaborei uma teoria sobre este último livro do Dr. Dantas.
Romance inabitável
Caderno de ruminações tem quatro partes desregradas — ainda que tudo comece um uma terça e acabe em uma sexta — subdivididas a esmo. Até aí nada demais, pois que não precisamos confundir literatura com matemática, muito menos com contabilidade. A marca do texto em si, da trama, é a frieza causada por um narrador tão oculto quanto onisciente que informa sobre os personagens reduzidos a marionetes. Como em Eça de Queiroz, cuja obra foi objeto de tese de doutoramento do autor, os personagens são sórdidos, precários materialmente, espiritualmente miseráveis. Mas, diferentemente do português, o que o brasileiro de Aracaju nos mostra são bonecos aviltados, verdadeiramente tripudiados por um narrador que não se mostra, ao mesmo tempo em que julga e projeta o patético em cada personagem sem lhes dar a chance de que nos surpreendam. Os personagens de Eça têm vida — são maus, estúpidos, interesseiros, mas vivos; em Dantas, parecem feitos de cera que derrete no mover das páginas pelas quais só avançamos porque não há outro jeito — comprometi-me com o Rascunho e minha tarefa melancólica de analista. A humilhação do narrador contra os personagens se apresenta na representação de cada um. O argumento enfraquece. Nada é mostrado e só podemos nos perguntar com que objetivo o livro teria sido escrito, à medida que vai parecendo uma história que virou outra que virou outra que virou outra, sem poesia, sem sentido. Dr. Dantas teria que explicar seu livro, mas será que se perguntou sobre ele? Também eu tenho que me perguntar por que crio meus porcos e por que até agora não os mandei ao matadouro.
E quando digo “representam” é que não “apresentam”, posto que são títeres em um teatro sem o direito de se mostrarem a si mesmos em sua dignidade de personagens. Foram desenhados de fora, como uma cidade inabitável, onde não se pode entrar. Não havia descrição nem reflexão, nem trama, nem densidade de cada figura que nos convencesse de que ali tínhamos um grande romance que não o fosse pelas 400 páginas.
Agora, se olhamos por outro lado, diremos que o autor fez um desenho de personagens tão estúpidos quanto são os seres humanos, personagens sem tragédia que não seja a de afundarem na própria lama sem se darem conta.
Assim ocorre com o protagonista, o Dr. Rochinha, um proctologista chamado pelo diminutivo por ser um homem de pequena estatura. De sua vida é apresentada certa genealogia, um pai proprietário rural materialmente decadente e emocionalmente frio, ainda que saudoso da mulher aventureira que o abandona e ao filho pequeno. Num tom sempre explicativo que suplanta a compreensão do leitor, o autor talvez quisesse nos dizer que ele se tornou obsessivo em função de pais precários, que ele foi fruto dessas existências mal resolvidas. Só que nada ali, pela frieza do texto, ultrapassa o habitus da vida rural e de seu pequeno mundo caipira que vai para a cidade formar-se em medicina para ficar rico. Não há tragédia, nem a da inação, da repetição ou da estupidez humana. Se fosse comparar, diria que na pocilga as cores são mais firmes. A importância das estirpes, famílias e lugares sociais, coisa de quem vive em ambiente de fazendas, não nos deixa ver além do lado podre do conservadorismo. Mais explicado do que mostrado, o texto se promete como romance, mas fica apenas no roteiro muito bem feito.
Lidar com as sobras
A história pareceria engrenar na hora em que o autor se entrega em muitas páginas a tramar a relação amorosa entre o Dr. Rochinha e a prima Analice, de antemão tratada como uma mulher enervante e cansativa, às vezes objeto de aposta com um primo mal desenhado, às vezes vadia dominadora a quem é possível amar. No entanto, também não temos como pensar nada dela, pois nada se apresenta ao leitor fora dos julgamentos do narrador. Com um texto assim, o leitor vai embora, menos eu, que tenho a minha pocilga para amar.
A grande cena do texto, um ato sexual anal e maldoso em que tanto Dr. Rochinha quanto Analice, entre “beldade e inimiga”, são rebaixados a animais maliciosos e torpes, é o momento em que parecem sair da posição de marionetes. O livro poderia começar aí, quando a subjetividade dos dois escoasse por esse momento sexual-bélico, mas não. O programa do narrador renasce como aviltamento puro e simples da mulher e do homem, como Adão e Eva julgados de antemão em um inferno do qual desconhecem o sofrimento.
Muitos textos são obra do que podemos chamar, usando selvagemente aquele grande escritor austríaco, de fase “anal literária”. Trata-se do momento em que o escritor tem dificuldade de jogar fora algo por ele feito. As sobras podem não ser obras. O “s” anteposto a “obra” remete também a outra categoria epistemologicamente mais interessante do que a do gosto e parece qualificar justamente o seu contrário. Não se deve interpretar de modo maledicente o fascinante produto da vida da infância que continuamos, enquanto animais, produzindo. Este fascinante produto é nosso primeiro capital, e quando meninos com ele brincamos, profanando o seu sentido. Quando crescemos, o caminho civilizatório implica a convivência na comunidade humana que se ergue sobre o nojo. Não por obsessão higienizante, ou aversão copromântica — além de tudo, há quem, mesmo que nos assuste, “goste” de porquería —: é que temos que continuar lendo de tudo. Novas aventuras sempre podem liberar novos prazeres e outros sentidos.