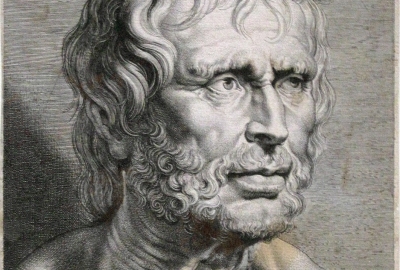O romance, por um longo tempo, foi mobiliado demais. O cenógrafo esteve tão comprometido em suas páginas, a importância dos objetos concretos e a apresentação nítida deles foi tão reforçada, que chegamos a ter a certeza de que, qualquer um que possa comentar e escrever em língua inglesa, pode escrever um romance. Com frequência, considera-se a última habilidade desnecessária.
Em qualquer debate sobre ele, é preciso deixar claro se o foco está no romance como uma forma de distração, ou como uma forma de arte, uma vez que elas servem a propósitos muito diferentes, de variadas maneiras. Não se pretende que o ovo que se prepara no café, ou o jornal pela manhã, seja feito da matéria da imortalidade. O romance produzido para entreter grandes multidões deve ser considerado exatamente como um perfume, um sabonete barato ou uma mobília sem valor. A qualidade do refinamento representa uma desvantagem diferenciadora em produtos criados para um sem número de pessoas que não desejam a qualidade, mas a quantidade, que não querem uma coisa que “sirva”, mas querem a variedade — uma sucessão de coisas novas que rapidamente se gastam e podem ser descartadas sem inconvenientes. Alguém viria fingir que, se as vitrines da Woolworth estivessem atulhadas até o alto de esculturas em terracota de Tânagra a dez centavos, elas poderiam competir no gosto popular, por um instante que fosse, com as bonequinhas vestidas de noiva de Kewpie? A distração é uma coisa; o prazer da arte é outra.
Todo escritor que seja um artista sabe que seu “poder de observação” e seu “poder de descrição” integram somente uma pequena parte de seu instrumental. É certo que deve dispor de ambos, mas ele sabe que o mais comum dos escritores quase sempre observa muito bem. [Prosper] Mérimée escreveu em seu notável ensaio sobre Gogol:
L’art de choisir parmi les innombrable traits que nous offre la nature est, après tout, bien plus difficile que celui de les observer avec attention et de les rendre avec exactitude.
[A arte de escolher entre as inúmeras características que a natureza nos oferece é, afinal, muito mais difícil do que observá-las cuidadosamente e reproduzi-las com precisão.]
Há uma crença popular em que o “realismo” se manifesta na catalogação de uma grande quantidade de objetos concretos, na explicação de processos mecânicos e de métodos de operar produtos e negócios, e na descrição crua e minuciosa das sensações físicas. Mas não é o realismo, mais do que qualquer outra coisa, uma atitude mental adotada pelo escritor diante de seu material, uma vaga indicação da simpatia e da franqueza com os quais ele acata, mais do que escolhe, o seu tema? Terá a história de um banqueiro infiel à mulher e que se arruína em negociatas por tentar incondicionalmente satisfazer os caprichos da amante, mais impacto graças a uma exposição magistral do negócio bancário, de todo o nosso sistema de crédito e dos métodos de operação cambial? Claro, se a história é enfadonha, estas coisas a reforçam em um sentido — qualquer naco de carne vermelha que se atire faz a balança vergar. Mas, de toda maneira, vale a pena que se escreva sobre o sistema bancário e as operações cambiais? Coisas desse tipo terão algum lugar próprio na arte da imaginação?
Balzac e Tolstói
A resposta automática para esta questão é o nome de Balzac. Com certeza, Balzac experimentou o valor da literalidade no romance, experimentou-o até o limite mais extremo, assim como Wagner experimentou o valor da literalidade cênica na ópera. Experimentou, inclusive, com a paixão da descoberta, com o entusiasmo inflamado de uma curiosidade sem precedentes. Se o calor daquela fornalha não conseguiu dar consistência e nitidez aos acessórios materiais, nenhum outro cérebro jamais o fará. Reproduzir no papel a verdadeira cidade de Paris; as casas, o estofamento, a comida, os vinhos, o jogo do prazer, o jogo dos negócios, o jogo das finanças: uma ambição estupenda — entretanto, ao fim, indigna de um artista. Tão mais exatamente ele conseguiu ser bem-sucedido em expor em suas páginas aquela quantidade de tijolos, morteiros, mobílias e processos de falência, quanto superou sua finalidade. As coisas pelas quais ele ainda vive, os tipos de ganância, avareza, ambição, vaidade e perda da inocência de coração que criou são tão vitais hoje quanto foram então. Mas as circunstâncias materiais delas, com as quais ele despendeu tanto trabalho e sofrimento… o olho passa por cima delas. Temos tido muito do decorador de interiores e do “romance de negócios” desde a sua época. A cidade que construiu no papel já está se desintegrando. Stevenson dizia que gostaria de editar uma boa parte das “descrições” de Balzac — e ele amava-o acima de todos os romancistas modernos. Mas onde está o indivíduo capaz de cortar uma frase das histórias de Mérimée? E quem quer algum detalhe a mais de como Carmencita e suas jovens colegas operárias faziam charutos? Alguma outra espécie de romance? De fato. Seria de uma espécie melhor?
Nessa discussão, outro grande nome naturalmente aparece. Tolstói era um belo amante das coisas materiais, quase tanto quanto Balzac, quase tão igualmente interessado nas maneiras pelas quais as refeições eram preparadas, as pessoas se vestiam e as casas eram mobiliadas. Todavia, há a seguinte diferença determinante: as roupas, os pratos, o interior assombroso daquelas antigas residências moscovitas são sempre uma parte significativa das emoções das pessoas em que eles estão perfeitamente sintetizados; eles parecem existir, nem tanto na mente do autor mas na penumbra emocional dos próprios personagens. Quando há uma fusão como esta, a literalidade cessa de ser literalidade — ela, simplesmente, participa da experiência.
Processos de simplificação
Se o romance é uma forma de arte da imaginação, não pode ser ao mesmo tempo uma forma de jornalismo clara e brilhante. Fora do caudaloso e cintilante fluxo do presente, ele deve selecionar o material eterno da arte. Há sinais alentadores de que alguns dos escritores mais jovens estão tentando escapar da mera verossimilhança e, seguindo o desenvolvimento da pintura moderna, interpretar imaginativamente a investidura material e social de seus personagens; apresentar seus cenários mais pela sugestão do que pela enumeração. Os processos artísticos mais elevados são todos processos de simplificação. O romancista deve aprender a escrever e, a seguir, deve desaprender; da mesma forma o pintor moderno aprende a desenhar, e em seguida aprende quando desarrumar totalmente sua habilidade, quando subordiná-la a um efeito mais elevado e verdadeiro. Somente nesta direção, me parece, o romance pode resultar em alguma coisa mais variada e perfeita do que todos os que vieram antes.
Um dos mais tradicionais romances americanos pode muito bem servir como uma sugestão para escritores mais modernos. Em A letra escarlate, com que verdadeiro espírito da arte a mise-en-scène se revela. Aquele serviçal, o estudante de ensino médio com um tema de redação, dificilmente poderiam ser enviados para lá a fim de obter informações sobre os costumes, as roupas e a decoração dos interiores da sociedade puritana. A investidura material da história é apresentada como se de maneira inconsciente; pela mão discreta e obstinada do artista, não pelos dedos vulgares de um apresentador ou pelo empenho técnico de um vitrinista de loja de departamentos. Pelo que me lembro, na melancolia crepuscular daquele livro, em seu humor consistente, é possível que se vejam tenuemente os verdadeiros contornos das pessoas; e eles são melhor sentidos à sombra.
Tudo o mais é percebido sobre a página sem estar especificamente nomeado ali — aquilo que, diga-se, é criado. A presença inexplicável do que não é nomeado, o sobretom adivinhado pelo ouvido mas não escutado, a disposição verbal, a aura emocional do fato, da coisa ou da ação, fornecem alta qualidade ao romance ou à peça, tanto quanto à poesia em si. A literalidade, quando aplicada à descrição das reações mentais e das sensações físicas, parece ser não muito mais eficaz do que quando aplicada às coisas materiais. Um romance abarrotado de sensações físicas não é menos um catálogo do que outro abarrotado de mobília. Um livro como O arco-íris, de D. H. Lawrence, nitidamente remete a quão vasta é a distância que reside entre a emoção e as reações meramente sensoriais. Os personagens podem ser praticamente desumanizados mediante um estudo de laboratório sobre o comportamento de seus órgãos corporais sob estímulos sensoriais — podem ser reduzidos, na verdade, a uma simples massa animal. Pode alguém imaginar alguma coisa mais terrível do que a história de Romeu e Julieta reescrita em prosa por D. H. Lawrence?
Como seria maravilhoso se pudéssemos atirar pelas janelas toda a mobília; e com ela, todas as reiterações insignificantes que se referem a sensações físicas, todos os cansativos velhos modelos, e deixar a sala tão desnuda quanto o palco de um teatro grego, ou quanto aquela casa sobre a qual a glória de Pentecostes se espalhou; deixar a cena nua para o jogo de emoções, grandes ou pequenas — pois os contos da carochinha, não menos do que as tragédias, são liquidados pela abundância de mau gosto. O velho Dumas afirmou um grande princípio quando disse que, para criar uma obra, um homem necessitava de uma paixão, e de quatro paredes.
NOTA
O ensaio O romance sem mobília integra a coletânea Para maiores de quarenta, que apresenta, pela primeira vez em língua portuguesa, ensaios e perfis biográficos de Willa Cather. O livro será lançado em agosto pela Graphia, com tradução de Luciana Viégas.