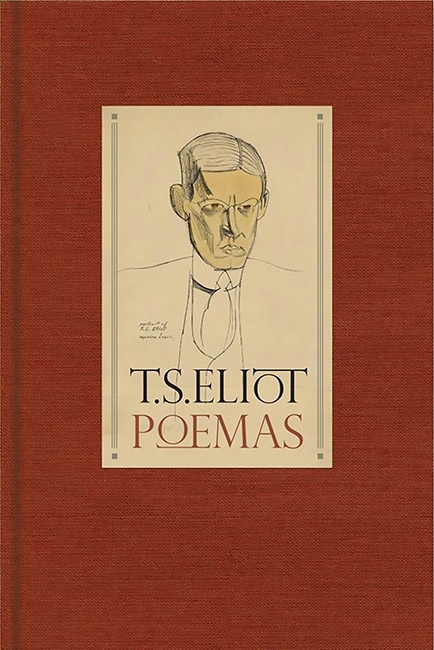In the uncertain hour before the morning
Near the ending of interminable night
At the recurrent end of the unending
After the dark dove with the flickering tongue
Had passed below the horizon of his homing […]
(Na hora incerta de antes da manhã
Perto do fim da noite interminável
No fim que é recorrente do infindável
Depois que a pomba negra, língua acesa,
Passou do horizonte do regresso […])
T. S. Eliot, Four quartets, Little gidding, II
(Trad.: Caetano W. Galindo)
1.
Logo no início da segunda parte de Little gidding, o quarto e último movimento dos Quatro quartetos concebidos por Thomas Stearns Eliot (1888-1965) como a culminação da sua obra poética, o eu-lírico (que é muito semelhante ao próprio poeta, apesar de guardar um prudente distanciamento dele) caminha pelos escombros da cidade de Londres, devastada pelos bombardeios alemães, em plena Segunda Guerra Mundial.
Ali, ele observa atentamente todo o horror — e toda a beleza — que pode ser extraída daquela situação: as cinzas dos prédios (e das pessoas?) que grudam nas mangas dos anciãos atônitos; o crepúsculo do sol entre as sombras dos aviões; o céu de chumbo pontilhados por aeronaves da Luftwaffe que mal sabiam quantas pessoas reais existiam ali embaixo. E, no meio do caminho, nota-se, entre as ruínas, uma espécie de espectro a visitar o local destruído — um fantasma que aglutina outros fantasmas do passado.
Tudo leva a crer que se trata da aparição do poeta mais querido na sensibilidade eliotiana — o florentino Dante Alighieri —, já que os versos são estruturados no modelo da terza rima, estabelecido por este grande épico que é A divina comédia. Mas também podem ser John Milton, W.B. Yeats — e até mesmo o longínquo George Herbert, cuja poesia metafísica encantou o jovem Eliot na época em que este compunha o seu poema mais famoso, A terra devastada (1922). Todos esses vates tinham uma característica em comum com o criador dos Quartetos: buscavam na arte uma forma de integração pessoal que nem a filosofia, nem a teologia, muito menos a política, poderiam alcançar. Isto provocou, em cada um deles, uma espécie de dissociação, uma divisão interna que só cresceu conforme o tempo passava nas suas respectivas biografias e que Eliot a tomou para si, criando assim uma poesia completamente nova — e mais: moderna.
Contudo, ele jamais abandonou o passado — aquilo que chamava de “a comunicação dos mortos”. E a visão na segunda parte de Little gidding — nome de um pequeno castelo do interior da Grã-Bretanha, devastado nas Guerras Civis Inglesas de 1648 — prova isto. A conversa com o espectro lida com assuntos perturbadores para o eu-lírico, assuntos que provavelmente envolvem erros cometidos na sua vida e os quais ele ainda precisa assumir a responsabilidade. Não há uma resolução simples, é claro; mas há um indício de que Eliot, como o poeta que cria esse momento literário, reconhece que o surgimento do fantasma não é apenas sobrenatural. É, sobretudo, supranatural, um acontecimento metafísico simbolizado nada mais, nada menos pela aparição da “pomba negra”, a dark dove que indubitavelmente é o avesso do Espírito Santo.
Vários comentaristas dos Quartetos indicam que a pomba em questão pode ser os aviões alemães que mergulhavam (o verbo em inglês dove é também o passado de to dive) sem misericórdia em Londres — e o toque da sirene, logo no final do episódio, que provoca a despedida do espectro aos olhos do eu-lírico, colabora ainda mais para essa interpretação. Mas Eliot não era assim tão literal no uso das metáforas. Ele gostava das mensagens cifradas, das alusões, das referências que poucos conseguiam compreender — em especial, quando meditava sobre aquele aspecto extremo da realidade que, como o próprio escreveu, “poucos suportavam”. A dark dove do poema é algo a mais; é o anúncio de que o mundo está possuído por uma força obscura, ctônica, que rege as ações humanas e as da natureza. É o lembrete de que vivemos em um lugar onde só existem, de acordo com o famoso livro de Johan Huizinga (escrito na mesma época dos Quartetos), “as sombras do amanhã”.
Nestes dois episódios — o da pomba escura e o do encontro do eu-lírico com o espectro da poesia — temos a síntese tanto do que foi realizado como o que foi pretendido na poesia de T. S. Eliot. Graças à “comunicação dos mortos” podemos, enfim, chegar a um estado próximo da benção, mesmo em um meio tão precário como a arte. Porém, o preço a pagar para alcançar tal estágio foi alto demais — e Eliot, assim como seu adorado Dante, mergulhou na travessia do inferno para enfim conseguir nos contar a sua história.
2.
Essa travessia está registrada parcialmente na nova edição nacional dos Poemas, publicada pela Companhia das Letras, traduzida e organizada por Caetano W. Galindo. Digo em parte porque, apesar de ter os pontos de virada já considerados clássicos (como A terra devastada, Os homens ocos, Quarta-feira de cinzas), o tomo negligencia excertos importantes do corpus eliotiano, com a desculpa de que eram “fragmentos”, quando é notório que o Velho Gambá usava desse tipo de “poética” para representar o tormento da sua peregrinação espiritual em um mundo contaminado pelo secularismo até a medula (esta interpretação é de Ivan Junqueira, até então o único tradutor que conseguiu, em uma edição comercial, realizar a proeza de verter a poesia completa do autor de Os gatos para o vernáculo).
Neste sentido, a ausência de Choruses from “The rock” (Coros de “A rocha”, de 1934) na coletânea chega a ser imperdoável. Trata-se de um poema que, apesar de aparentemente inacabado, registra não só o termo derradeiro da conversão religiosa de Eliot, rumo ao cristianismo da sua infância, como também à aceitação definitiva de que havia se tornado um fiel da Igreja Anglicana. Sem o acesso a este texto, simplesmente não há como entender corretamente o impacto metafísico das reflexões surgidas nos Quatro quartetos — e mais do que isso: o leitor tupiniquim da nova geração jamais perceberá que a proeza de Eliot foi produzir visões do inferno e do purgatório as quais só foram concebidas anteriormente por ninguém menos que Dante Alighieri.
Eis a razão do encontro com o espectro, anunciado no surgimento da “pomba negra”. Eliot não fez isso por capricho estético — ou mero virtuosismo técnico. Ele queria comunicar algo que as palavras da modernidade não conseguiam expressar adequadamente: o encontro do visível com o invisível, naquele “ponto imóvel do mundo que gira” e alucina os nossos sentidos. E isso só pode acontecer se entendermos o que os mortos nos falam porque, como bem resumiu Russell Kirk em A era de T. S. Eliot, sem os entraves das hesitações e ambiguidades da vida terrena, eles conversam conosco a todo momento, seja “por meio da história, da poesia, pelos traços de descrições dos momentos de consciência transcendente, pelas lembranças que deles temos — de fato, pela nossa própria carne”:
Vivendo em nós e na cognição divina, esses mortos falam com uma claridade e franqueza que não obtemos das pessoas que vivem na mesma época em que vivemos […]. Eliot acreditava que devemos nos abrigar, e encontrar a verdadeira consciência na comunidade de almas, unindo passado, presente e futuro. Nossos atos e os próprios pensamentos neste momento do tempo devem reverberar de modo imprevisível no tempo futuro […]. Essa percepção de que os mortos sobrevivem em nós, e que deveremos sobreviver nas futuras gerações, perpassa os Quatro Quartetos.
E não só nesses poemas tardios. A “comunicação dos mortos” é uma espécie de fio de Ariadne que liga os labirintos do inferno existencial descrito em A terra devastada e, em especial, Os homens ocos, cujos versos marcam a imaginação do leitor por sintetizar, em toda a sua dor, o vislumbre de ter visto os “olhos que não ouso olhar em sonhos/ no reino de sonhos da morte”, aquele outro reino onde se acorda sem companhia, na hora em que “estamos tremendo de ternura” pelos lábios que nos beijam e formam as “preces para a pedra partida”.
O confronto com a morte é o instante supremo desta hora inquieta — e extremamente incerta para quem ainda está vivo e é obrigado a suportar o fato de que existir na nossa cultura secular é o mesmo que recolher “os fragmentos escorados contra a nossa ruína”. Sucumbir a isto é o verdadeiro desespero retratado em Quarta-feira de cinzas. O poeta sabe que não poderá retornar ao mundo onde todas as horas tinham sua certeza, sua segurança material. Ao mesmo tempo, ele não despreza o que aprendeu com o secularismo. Muito pelo contrário: procura integrá-lo em sua consciência — mas só pode fazer isso se aceitar por completo a sua morte neste mundo que habitamos. A perda será única, irrepetível, irredimível — e será o único ganho com o qual uma poesia de emoção genuína é construída.
O edifício poético que a ser erguido sobre as bases desta “comunidade das almas” chega ao seu clímax justamente com os versos de “A rocha”, escrito em 1934 — antes do grande cataclisma que foi a Segunda Guerra Mundial —, nos quais as críticas atemporais feitas contra a inovação e a invenção infinitas, frutos do ciclo sem fim que sempre aconteceu entre a ideia e a ação, junto com a experimentação sem repouso, confirmam apenas o nosso falso conhecimento a respeito do movimento do mundo, jamais sobre sua quietude.
Para o Eliot deste período, a elaboração dos objetos e das moradias que circundam e ocupam o mundo contemporâneo também depende da possibilidade de estarem imersos na nossa própria destruição. Afinal, o que temos atualmente é o conhecimento da fala, do discurso, das palavras, mas não o conhecimento do silêncio; possuímos o conhecimento da gramática, mas não o do Verbo. Nos ruídos que possuíram nosso espírito — e que não queremos ouvi-los porque nos lembram dessa experiência da maturidade que é o encontro com a nossa própria morte, já verbalizados nos poemas da década de 1920 —, tudo o que supúnhamos conhecer nos deixa cada vez mais perto da nossa ignorância, e cada partícula dela nos deixa próximos daquilo que desejaríamos ser a libertação das nossas paixões. Entretanto, ela nos afasta ainda mais do sagrado que deveria ser a nossa derradeira construção.
No “novo tempo do mundo” (termo do filósofo brasileiro Paulo Eduardo Arantes, um eliotiano malgré lui), perdemos a vida que tínhamos em vivê-la. Abandonamos a sabedoria que havia no nosso conhecimento. Esquecemos do conhecimento que acreditávamos existir na opaca estática dos dados e da informação tão caros à modernidade. E esperamos que, após perdermos o controle tão desejado, exista uma brecha derradeira que nos faça reencontrar enfim a luz invisível, sem cor nenhuma, mesmo que ela fique manchada para sempre com as nossas sombras.
3.
Só por tudo isso descrito acima, os coros de “A rocha” jamais poderiam ter sido esquecidos na nova coletânea brasileira dos poemas de Eliot. Eles preparam o leitor para as revelações a serem feitas sobre a condição humana nos Quatro quartetos. Um dos motivos para esse equívoco de interpretação sobre a obra eliotiana surge porque, no Brasil, as bases teóricas de Ivan Junqueira e de Caetano Galindo dependem em demasiado da tal “poética do fragmento” — ou seja, a crença de que o poeta, conforme escrevia os seus versos segundo os acontecimentos biográficos, usava dos mais diferentes trechos para estabelecer uma alta voltagem poética (e temática) na qual a unidade só seria finalmente percebida se o leitor entendesse que esta visão foi elaborada conforme a passagem dos anos.
Porém, o livro T. S. Eliot’s dialectical imagination (A imaginação dialética de T. S. Eliot), de Jewel Spears Brooker, publicado no final de 2018 pela Johns Hopkins University Press, argumenta que a “poética do fragmento” é apenas a superfície de uma visão que Eliot já possuía desde o início de sua atividade poética, quando decidiu abandonar os estudos de filosofia idealista no início da década de 1910 e começou a escrever o que depois seria conhecido como A canção de amor de J. Alfred Prufrock (1917). A evidência maior disso seria a obsessão juvenil que Eliot tinha por um quadro pintado por ninguém menos que Paul Gauguin — O Cristo amarelo, que retrata a crucificação em um ambiente secular e moderno, com Jesus no meio da pintura como se fosse “o ponto imutável” que separa os mortos dos vivos. Eliot deparou-se com essa obra na época em que ainda transitava entre os ambientes de ceticismo filosófico e de ateísmo artístico, mas, mesmo assim, fez questão de comprar a peça — na época, por um valor irrisório — e pendurá-la no seu gabinete de trabalho para contemplá-la todos os dias.
Esse fato biográfico foi revelado recentemente com a publicação das cartas de Eliot aos mais diversos remetentes do mundo cultural europeu. Nelas, testemunhamos que, apesar da confirmação de eventos indiscretos na vida do poeta — como o seu casamento com a perturbada Vivianne, o colapso nervoso que deu origem ao ambiente apocalíptico de A terra devastada e o isolamento que sofreu de seus amigos seculares ao se converter definitivamente ao cristianismo —, ele jamais abandonou a dialética metafísica que sustentou a sua cosmologia desde os primórdios da sua atividade literária.
Essa dialética metafísica — que não precisa necessariamente cristã, mas que pode estar preocupada com as nuances da vida do espírito — consiste em recuperar a “poética do fragmento” defendida por Junqueira e Galindo numa perspectiva superior, em que tese, antítese e síntese se unem com a trindade que estrutura o mundo real (tanto o visível como o invisível), para depois reencontrar-se com a emoção genuína que só a verdadeira arte é capaz de provocar na sensibilidade do leitor. Aqui, o que se presume ser “inacabado” ou “avulso” é o indício de algo que está além da percepção imanente das coisas, algo que somente uma alusão poética absolutamente intuitiva pode capturar, naquele rapto provisório no qual a realidade se abre diante dos nossos olhos — e assim nos faz entender subitamente o que significa viver na hora incerta da morte.
O quadro de Gauguin sobre o “Cristo amarelo” simbolizava exatamente esse tipo de dialética — e que, no fim, só pode ser simbolizada concretamente na Encarnação, que vai além de qualquer “poética do fragmento” e a qual, como diria Pascal (um autor muito caro a Eliot), sempre existiu muito antes de alguém começar a procurá-la. Este foi o caso do poeta dos Quartetos, cuja travessia aconteceu na corrente do secularismo e, por isso mesmo, foi obrigado a encontrar expressões poéticas — aparentemente inacabadas — para explicar aos seus conterrâneos a mesma visão surgida diante dos seus olhos desde jovem.
Entre a “poética do fragmento” e a “imaginação dialética”, Eliot é mais esperto do que seus críticos. Para escapar desse impasse, ele redescobre — e restaura — um novo símbolo para emocionar corretamente o seu leitor e assim não fazer o mesmo que a modernidade instilou em todos nós — a dissociação da nossa sensibilidade, algo que o próprio poeta sofreu em sua alma e em sua carne durante os anos 1910 e 1920. Esse “novo símbolo” foi a visita da “pomba negra” em plena Segunda Guerra Mundial, antecipando o encontro com o espectro da poesia, cujo amálgama é o intermédio necessário para a integração final — a da dança que deve ser harmonizada com a medida das virtudes e o controle das paixões, a liberdade interior que nos faz retornar sempre ao “primeiro jardim”, antes da Queda.
Dessa maneira, o fragmento se dissipa, ao som da sirene de alerta (ou seria o da trombeta do final dos tempos?) — e a poesia de Eliot nos mostra enfim o caminho para a unidade plena que, infelizmente, os seus intérpretes e tradutores nacionais ainda não descobriram o modo de conquistá-la. E assim ficamos aprisionados na hora incerta, sem saber se os mortos nos ajudarão com as aparições dos seus fantasmas. Mas, como já dizia o poeta nos mesmos Quartetos que fecham uma carreira literária impecável, para nós sobrou apenas a tentativa — e nada mais.