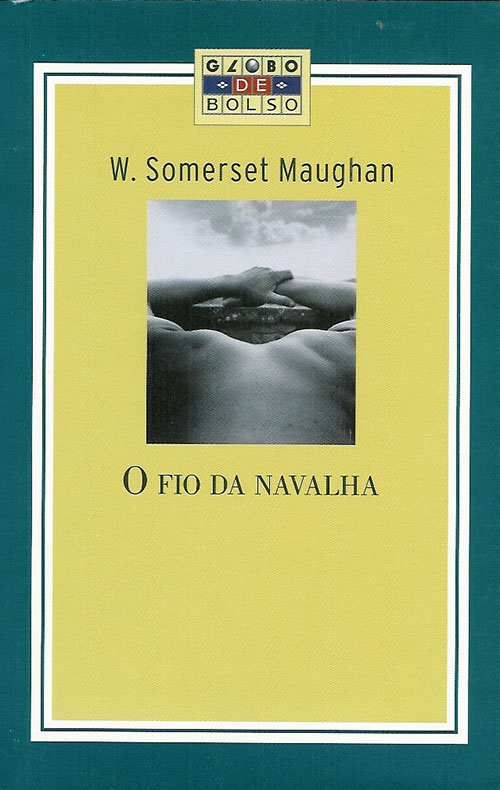Se considerarmos “genial” um sinônimo de “vanguardista”, erro comum nos dias de hoje, William Somerset Maugham jamais poderia receber tal qualificativo. Mas se pensarmos que o elogio serve àquelas pessoas notáveis, cuja capacidade intelectual as coloca acima da maioria das pessoas, então esse fecundo escritor inglês de fato produziu alguns livros geniais.
O respeitável Edmund Wilson, no entanto, não pensava assim. Para ele, a fama de Maugham nos EUA era um sinal da decadência dos padrões literários norte-americanos. Wilson chamava Maugham de “escritor de segunda linha”, definia sua linguagem como “banal”, afirmava que o escritor sequer possuía um “ritmo interessante” e deixou um julgamento que se pretende definitivo: trata-se de “um romancista medíocre, que escreve mal, mas que é lido com regularidade por leitores médios que não se preocupam com a escrita”.
As observações de Wilson certamente causam mal-estar nos leitores que apreciam Maugham mas não se sentem qualificados para se contrapor ao crítico norte-americano ou, pior, deixam-se influenciar pela opinião de um intelectual que, sem dúvida, merece nossa deferência. Ocorre que a crítica literária não é uma ciência exata; aliás, não é nem mesmo uma ciência, mas uma atividade de cunho estético, talvez uma forma de arte, um gênero literário que comenta outros gêneros. Dessa forma, julgamentos categóricos de qualquer teor, positivos ou negativos, ainda que não sejam desprezíveis — pois nos permitem ver aspectos da obra que poderiam passar despercebidos e sempre adicionam algo à nossa própria capacidade crítica —, devem ser analisados com cautela. E no caso de um anátema semelhante ao de Wilson, a cautela precisa ser redobrada. Depois de lermos Maugham, podemos até chegar às mesmas conclusões, mas duvido que um leitor consciencioso, que se disponha a passar alguns minutos entretido, por exemplo, com Chuva, um dos melhores contos da literatura universal, não julgue haver exagero no veredicto de Edmund Wilson.
Erros e acertos
O mesmo elogio não pode ser feito, infelizmente, a O fio da navalha (The razor’s edge) — relançada pela Globo numa tradução de 1945 que vem ganhando sucessivas reimpressões —, romance menor mas famoso, com duas versões cinematográficas (a de 1946, com Tyrone Power, merece ser vista), que não é o melhor de Maugham, mas, ainda assim, está muito acima de uma literatura, digamos, de entretenimento.
O que me incomoda em O fio da navalha é o fato de Maugham conceder ao personagem Lawrence Darrell uma importância que ele não tem. Maugham tentou construir um romance que falasse das desilusões, dos traumas e do vazio que se abatem sobre as pessoas em tempo de guerra, principalmente sobre os soldados que, de volta a seus lares, não se readaptam à vida em sociedade. Darrell — ou Larry, como ele é chamado ao longo do romance — volta da I Guerra Mundial consternado pela morte do amigo que lhe salvara a vida, e passa, então, a buscar sentido para a existência. Trata-se de um homem simples, herdeiro de pequena fortuna, que se deixa levar por inquietações metafísicas e percorre o mundo em busca de respostas. Após experimentar diferentes religiões e empreender inúmeros estudos, torna-se uma espécie de santo leigo, alguém que, como o próprio narrador anuncia no início do livro, “ao morrer não deixará vestígio de sua passagem pela terra”. Mas a personalidade de Larry é enigmática até mesmo para o narrador — que chega a ser repetitivo nas descrições, como se não conseguisse perscrutar o personagem —, e sua excessiva bondade o transforma em alguém apático, destituído de grandes emoções, um místico às vezes irritante. Esse falso protagonista surge de maneira intermitente no romance — e Maugham se esforça para, por meio dele, unir as peças de sua trama.
Traído por seu protagonista, o escritor perdeu a oportunidade de escrever um clássico, o que aconteceria se tivesse centrado sua atenção no esnobe Elliott Templeton, o melhor personagem do romance: um norte-americano que vive em Paris, bon vivant, frívolo e pedante, de passado suspeito, que, graças ao comércio de arte, enriqueceu durante a I Guerra. Fofoqueiro, tio solteirão, aparentemente homossexual, com tino para organizar festas ou recepções, ele transita na alta burguesia e na nobreza européias com facilidade. Mas é também homem generoso, que sai inabalado do crash da Bolsa, em 1929, não por ser um escroque, mas apenas pelo fato de possuir as fontes certas. Apegado aos valores de classe social que o acolheu — e como poderia ser diferente? —, Elliott se escandaliza, por exemplo, quando, de volta temporariamente aos EUA, um motorista de táxi o chama de “amigo”, e não de “senhor”. Por meio dele, o narrador radiografa a vida e os valores das classes altas, mas, o que é um mérito, sem fazer julgamentos ideológicos, sem descair para o achincalhe ou, pior, para a exaltação dos pobres como bem-aventurados e puros de coração. Esse tipo de demagogia, nunca encontraremos em Maugham. Ao contrário, ele nos seduz com a “requintada ironia” de Elliott — há diálogos repletos de falas ferinas, inteligentes, plenas daquele tipo de esgrima social que presenciamos com facilidade nos grupos que sabem unir elegância, verve e rapidez de pensamento. Esses diálogos permitem que visualizemos até pequenas rugas de humor nas expressões dos personagens; e nosso autor jamais se rende à literatura de tese.
Seguimos parte da vida de Elliott e, depois, sua decadência física, seu crescente medo da solidão; e o vemos se transformar num homem digno de piedade, apegando-se com todas as forças, apesar da doença, ao frenesi de uma vida glamorosa. Um dos mais perfeitos trechos do romance é o que descreve sua agonia e morte, bem como a preparação do cadáver. Cena triste, com uma ponta de humor negro, pois Elliott deixara ordens expressas para ser vestido de uma maneira que, sob o olhar do narrador, transforma o dândi num “corista de uma ópera de Verdi”. Acompanhamos a humilhação que a morte impinge — o quanto ela pode nos tornar ridículos — e, ao mesmo tempo, sofremos, pois nos acostumamos a gostar desse requintado bufão, ironista que ascendeu socialmente sabe-se lá a que preço.
Larry não tem um terço da complexidade de Elliott ou de Isabel Bradley, de quem se torna noivo por um breve período. Sobrinha de Elliott, Isabel é o exemplo de uma das melhores qualidades de Maugham: retratar personagens femininos. Ela evolui no transcorrer do romance, física e psicologicamente, de maneira admirável, e seu longo diálogo com Larry, quando rompem o noivado, nos mostra uma mulher realista, diante de quem Larry se transforma numa insignificante caricatura, sem respostas, que apela à ironia vulgar e covarde quando se sente sob pressão. Frente à lógica de Isabel, ele não passa de um idealista exacerbado — e como todos os sonhadores, um egoísta a quem os próprios ideais bastam. A frieza dessa mulher, contudo, se lhe dá forças para sobreviver quando o marido, Gray Maturin, perde tudo na crise de 29, também a leva a cometer um delito que comprometerá a vida de outra personagem, Sophie MacDonald. De encantadora colegial a rainha perversa, Isabel reúne todos os matizes femininos.
O único homem livre
É uma pena que a tradução seja muito antiga e não tenha sido revisada. Isabel, por exemplo, toma refresco usando uma “palhinha” e não um canudo; um personagem “dá uma perobinha” com outro, talvez uma gíria da década de 1940 no Brasil, mas da qual não consegui encontrar o significado; as mulheres têm “pestanas” e não cílios; outro personagem, cheio de vivacidade, é “um azougue”; e, numa festa, todos se divertem “à grande”. Mas isso não estraga a narrativa. Aqui e ali, às vezes encontramos lugares-comuns ou descrições que chegam a ser bobas — e imediatamente lembramos de Edmund Wilson —, mas Maugham também nos oferece, além dos diálogos espirituosos, sólidas descrições dos personagens e trechos que são boas descobertas, como ao dizer que os mortos se assemelham a “fantoches de uma companhia falida” ou, apenas outro exemplo, quando comenta sobre a Avenue de Clichy, ao amanhecer: “sórdida à noite, tinha agora um ar garboso, lembrando a mulher pintada, abatida, que caminhasse com o passo vivo de uma moça”.
Em seu romance O destino de um homem, Maugham tem uma longa e precisa definição sobre os escritores, da qual sempre gosto de me lembrar, principalmente por suas últimas linhas:
É uma vida cheia de contratempos. Para começar, ele deve sofrer a pobreza e a indiferença do mundo; depois, tendo conquistado uma parcela de sucesso, tem de se submeter sem protesto aos seus riscos. Depende de um público inconstante. Está à mercê de jornalistas que querem entrevistá-lo; de fotógrafos que querem tirar-lhe o retrato; de diretores de revistas que o atormentam pedindo matéria, de cobradores de impostos que atormentam por causa do imposto sobre a renda; de pessoas gradas que o convidam para almoçar; de secretários de instituições que o convidam para fazer conferências; de mulheres que o querem para marido e de mulheres que querem divorciar-se dele; de jovens que lhe pedem autógrafo; de atores que desejam papéis e estranhos que querem um empréstimo; de senhoras sentimentais que lhe solicitam a opinião sobre assuntos matrimoniais; de rapazes graves que querem sua opinião sobre suas composições; de agentes, editores, empresários, chatos, admiradores, críticos, e da própria consciência. Mas existe uma compensação. Sempre que tiver alguma coisa no espírito, seja uma reflexão torturante, a dor pela morte de um amigo, o amor não correspondido, o orgulho ferido, o ressentimento pela falsidade de alguém que lhe devia ser grato, enfim, qualquer emoção ou qualquer idéia obcecante, basta-lhe reduzi-la a preto-e-branco, usando-a como assunto de uma história ou enfeite de um ensaio, para esquecê-la de todo. Ele é o único homem livre.
Não poderia haver melhor definição do próprio William Somerset Maugham. E um autor com tamanha autoconsciência deve ser perdoado por sua obra irregular.
No que concerne a O fio da navalha, um narrador que desmente a si mesmo desde a primeira página e faz exatamente o oposto do que pensávamos ser uma decisão irrevogável; um narrador que escreve com a mesma paixão sobre a natureza, a beleza das mulheres e Racine — chegando à discutível e polêmica idéia de que “a arte triunfa quando consegue servir-se do convencionalismo em benefício próprio”; um narrador que consegue extrair drama da classe social que o senso comum e a esquerda julgam erroneamente viver em meio a futilidades e devaneios; um narrador assim, que conclui, falando sobre seu protagonista, ter faltado a Lawrence Darrell “aquela pequena nota de crueldade que mesmo os santos precisam ter para conseguir sua auréola”, certamente merece não apenas nossa atenção, mas também o nosso respeito.