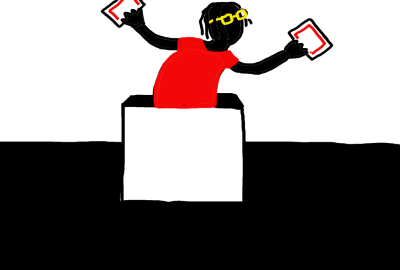Como é o lugar
quando ninguém passa por ele?
Existem as coisas
sem ser vistas?
O interior do apartamento desabitado,
a pinça esquecida na gaveta,
os eucaliptos à noite no caminho três vezes deserto,
a formiga sob a terra no domingo,
os mortos, um minuto
depois de sepultados,
nós, sozinhos
no quarto sem espelho?
Carlos Drummond de Andrade
Só existo na vida com a condição de ver.
Le Corbusier
Parece que uma das questões centrais e recorrentes na obra ficcional do escritor italiano Alessandro Baricco quer tratar da problemática da cegueira generalizada, que se instaura, a cada dia, na sociedade contemporânea. De fato, nunca fomos, como hoje, literalmente, bombardeados e invadidos por imagens de toda natureza. Nunca, como hoje, o mundo esteve assim tão acessível ao simples apertar de um botão. A era da informação nos forma e deforma, com a avalanche de dados, mensagens, apelos visuais que chegam ao limite da saturação. Nunca estivemos tão próximos de um universo inteiramente ao alcance dos sentidos, do olhar. E, no entanto, esse excessivo e incessante estímulo faz com que vejamos tudo, sem, na verdade, estarmos vendo o essencial. Interessante o que nos conta José Saramago, quando entrevistado, no documentário Janela da alma, de João Jardim e Walter Carvalho. Afirma que parece que vivemos numa espécie de Luna Park, em que temos, apenas, a impressão de que nosso campo visual se amplia. Na verdade, o que ocorre é que esse caleidoscópio imagético de infinitos apelos põe em cena uma realidade virtual, que passa a substituir o real, dando-nos a mesma falsa ilusão das sombras, vistas pelo homem da caverna platônica.
Não faltariam, na literatura, exemplos de textos que tratam, de maneira semelhante, a questão do olhar, nestes nossos tempos. Apenas a título exemplificativo, o próprio Saramago em Ensaio sobre a cegueira, João Guimarães Rosa em Miguilim, Italo Calvino em Palomar, entre tantos outros.
Oceano mar, dentre as várias obras de Baricco, é a que melhor evidencia a temática da necessidade de reaprender a olhar. Em resumo, o livro trata do encontro de diversos personagens, numa espécie de hospedaria, pousada, a chamada Estalagem Almayer (cujo nome faz referência explícita à obra A loucura do Almayer, de Joseph Conrad), local de onde apenas e somente se pode ver o mar. Neste lugar fantástico, estarão fadados à convivência alguns seres que fogem do protótipo dos seres comuns ou normais.
Resgatar a vida
Assim, por exemplo, há o pintor Plasson, que quer pintar o mar, sem usar nenhuma tinta, a não ser a própria água, buscando, incessantemente, onde estariam os olhos do mar. O professor Bartleboom é um cientista que pretende pesquisar o ponto preciso em que termina o mar. Eliseween, a menina saída do reino do conto de fadas, filha do Barão de Carewall, que é mandada para lá por seu pai, a fim de tentar se curar da estranha doença que lhe retirava totalmente os pés da realidade, a doença da “excessiva sensibilidade” de quem não consegue tocar o chão, que a fazia atemorizar-se diante de tudo que fosse muito real. A belíssima mulher Ann Deverià, obrigada pelo marido a ir para esse lugar, a fim de se curar da “doença do adultério”. Adams, o que poderia ser como um marinheiro qualquer, mas não era, pois representava o homem do qual se fazia necessário salvar as histórias que escondia. Todos eles precisam ir ao mar, em busca de algum alento, de alguma chance, de algum tipo de transformação, que lhes resgate a vida.
Mas, para além dessas personas, parece-nos que o olhar é que acaba sendo o personagem principal, o centro de todas as atenções e aqueles que desaprenderam a perceber o mundo à sua volta serão chamados à lição primordial, o tempo todo, por alguns eleitos, verdadeiros mestres dessa escola da reeducação dos sentidos. E esses eleitos, para nosso espanto, são crianças que, no início da narrativa, aparecem como seres misteriosos, que surgem do acaso, inexplicáveis, quase surreais, quase como se fossem duplos dos demais personagens, já adultos que não sabem ver. Selecionamos, por exemplo, apenas para ilustrar o que estamos analisando, um trecho bastante significativo. Trata-se do momento em que o professor Bartleboom, recém-chegado à Estalagem Almayer, acaba por se deparar com a figura de um menino, que surge em seu quarto, do nada, como se fosse uma aparição:
O menino foi um pouco para lá no parapeito. Ar frio e vento do norte. À frente, até o infinito, o mar.
— O que você faz sentado aqui em cima o tempo todo?
— Olho.
— Não há muito o que olhar…
— O senhor está brincando?
— Bem, há o mar, certo, mas o mar afinal é sempre o mesmo, sempre igual, mar até o horizonte, com sorte passa um navio, afinal não é assim o fim do mundo.
O menino virou-se para o mar, virou-se novamente para Bartleboom, virou-se ainda para o mar, virou-se ainda para Bartleboom.
— Quanto tempo o senhor vai ficar? — perguntou-lhe.
— Não sei. Uns dias.
O menino desceu do parapeito, foi para a porta, parou na soleira, ficou uns instantes estudando Bartleboom.
— O senhor é simpático. Quem sabe quando for embora será um pouco menos imbecil.
Crescia, em Bartleboom, a curiosidade de saber quem as tinha educado, aquelas crianças. Um portento, evidentemente.

O mesmo tipo de mensagem, obtemos de outro fragmento, extraído do monólogo Novecento, de Baricco — que deu origem ao filme A lenda do pianista do mar, dirigido por Giuseppe Tornatore — em que o autor conta a história de um menino que nasce dentro de um navio, se torna um grande pianista e depois, ali mesmo, morre, sem nunca jamais ter descido do transatlântico Virgínia. Toda uma existência dentro dos limites da proa à popa, naquele espaço móvel flutuante e sempre ao redor, o mar… Em dado momento, o narrador amigo de Novecento (o pianista) lhe pergunta o que estaria fazendo ali, assim parado, com o olhar perdido no oceano. Novecento lhe responde que “olhava o mar”. O outro, surpreso, lhe diz, então, que já fazia trinta e dois anos que ele via o mar e que aquela atitude parecia não fazer o menor sentido… Mas Novecento alega que queria ver o mar do “outro lado”, porque não era a mesma coisa: “o mar, de fato, não era nunca o mesmo…”
Nos dois exemplos, percebemos um apelo à importância de aprender a ver, enfim, a relativizar nossa capacidade de perceber o mundo.
Cremos que o aparecimento das criaturas em Oceano mar, que sempre têm algo a ensinar, está relacionado ao fato de que, enquanto crianças, ainda não fomos totalmente alienados ou tragados pelo excesso dos condicionamentos, que passam a nos marcar quando nos tornamos adultos. Ou seja, as crianças, em Oceano mar, podem ser consideradas como sábios tutores daqueles adultos embrutecidos. São quase miniaturas de esperança, capazes de desautomatizar o que está deformado, de sensibilizar o que já não consegue ver nem sentir. Elas são agentes iluminados, nessa espécie de “pedagogia do olhar”, no audacioso projeto da reeducação dos sentidos, apregoado pelo autor, já que, afirma Berkeley: “Ser é perceber e ser percebido. O que não é percebido não existe, ou seja, o que não é notado e distinguido perde efetividade”.
Edward Bond: a crise da imaginação
Neste interessante percurso de redescoberta de nossa capacidade visual vale recordar a chamada Teoria da corrupção da imaginação, elaborada pelo dramaturgo inglês contemporâneo Edwar Bond. Em resumo, buscando, em sua dramaturgia, estabelecer uma análise crítica de nossa sociedade em termos culturais, ele acabou criando toda uma reflexão sobre o que constitui nossa “humanidade”. Suas inquietações o levaram a desenvolver um novo conceito do que vem a ser a imaginação, concebida como fundamento da psique humana, em razão de sua própria estrutura. Por meio dela, o indivíduo extrai de sua experiência sensível algumas representações, sob a forma de imagens e de histórias. E então, ele nos faz refletir sobre o quanto somos capazes de imaginar, enquanto crianças. O problema é que, quando a criança se tornar adulta, essa capacidade criativa acabará sendo tragada pela máquina do aparelhamento ideológico que visa corromper a imaginação. Como conseqüência, estamos vivendo uma séria “crise da imaginação”…
Analogamente, percebemos na aparição das crianças em Oceano mar a intenção de provocar a capacidade imaginativa de cada um dos personagens adultos, tão atrofiada. Tal como na teorização propugnada por Bond, Baricco parece querer, por meio da apologia do retorno ao universo infantil, explicitar uma das formas de resgatar o que de humano ainda nos resta: nosso infinito e aguçado dom de imaginar, de ver o mundo com olhos ainda não corrompidos pelo sistema. E isso, a criança, que um dia fomos, poderá nos ensinar.
Daí porque se configure, em nosso entendimento, como possível leitura, a de conceber Dood, Ditz, Dol, Dira e a menina belíssima que dormia na cama de Ann Deverià como aqueles adultos, Bartleboom, Plasson, Ann Deverià, transfigurados em suas próprias peles de criança. Seria como se a criança de cada um acordasse de um longo e letárgico sono, como se renascesse, no contato prévio com o mar, ao chegarem na Estalagem Almayer.
Há um belo ensaio de Giovani Pascoli que busca traduzir o poético intimamente associado à criança que habita em nós, numa verdadeira ode:
Há, dentro de nós, um menino que não tem só calafrios, mas lágrimas e também júbilos. Quando nossa idade é ainda tenra, ele confunde a sua voz com a nossa. Mas depois, nós crescemos e ele continua pequeno; nós acendemos nos olhos a chama de um novo desejo e ele continua com os olhos fixos em sua serena antiga maravilha; nós engrossamos e enferrujamos a voz e ele nos faz ouvir sempre o seu tímido sino… O tilintar secreto desse sino nós não conseguimos distinguir tão bem na juventude quanto na idade madura, porque naquela, muito preocupados em defender certas posturas de vida, quase não cuidamos daquele ângulo da alma onde esse sino ressoa… Os sinais de sua presença e os atos da sua vida são simples e humildes. Ele é aquele que tem medo do escuro, porque no escuro vê ou acredita que vê; aquele que, diante da luz, sonha ou parece sonhar, recordando coisas jamais vistas; aquele que fala aos animais, às árvores, às pedras, às nuvens, às estrelas; que povoa a sombra de fantasmas e o céu de deuses. Ele é aquele que chora e ri sem porquê daquilo que foge aos nossos sentidos e à nossa razão. Ele é aquele que, na morte dos seres amados, consegue dizer aquela expressão pueril, que nos faz derreter em lágrimas e nos salva. Ele é aquele que espontaneamente consegue pronunciar, sem pensar, a palavra grave que nos freia…
Poesia é encontrar nas coisas — como posso dizer? — o seu sorriso e a sua lágrima, e isso se faz a partir de dois olhos infantis que olham, simples e serenamente, de dentro do obscuro tumulto da nossa alma.
A definição da cegueira por Saramago
José Saramago também parece tocar de perto esta problemática da “deformidade visual”. De fato, desde a epígrafe do romance Ensaio sobre a cegueira temos: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.
Analogamente ao romance de Baricco, a obra de Saramago põe o dedo em nossas feridas existenciais, denunciando, por meio da alegoria, a história de uma comunidade que se tornará cega, de pessoas que eram normais, que viam bem e que acabarão por contrair a doença da falta de visão. Somos colocados diante do triste pesadelo de que, talvez, seja necessário ficarmos cegos para reaprender a ver o essencial.
Tanto em Baricco como em Saramago parece fundamental a necessidade de chamar nossa atenção à cegueira generalizada em que vivemos imersos, condicionados e submissos a todo tipo de imagens e apelos, em uma espécie de overdose de elementos visuais. E, numa sociedade em que as consciências são alienadas, não é possível falar em liberdade. Conforme afirma Adorno, somos “prisioneiros a céu aberto” e é exatamente a esse tipo de aprisionamento do ser, cegado pelo sistema, a que se refere a obra de Saramago.
Convém notar, na obra do autor português, que a falta de visão vem ligada a um qualificativo muito característico e repleto de simbologias. Contrariamente ao que dita o senso comum, que assevera que a cegueira é entrar num mundo escuro, o das trevas, necessariamente associado ao negro e à noite, o narrador nos conta que esta cegueira que surge e se instaura em todos os habitantes, exceto na mulher do médico, é uma “cegueira branca”. Este detalhe pode remeter a um estado de superabundância luminosa, capaz de cegar, talvez semelhante à mesma sensação que temos quando, em um ambiente totalmente escuro, se acende, de repente, uma luz ou se abre uma cortina.
A novidade é que, ao invés do negro absoluto, teremos o branco, como bem descreve o primeiro personagem:
Não vejo, não vejo… O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-as. Nada, é como se estivesse no meio de um nevoeiro, é como se tivesse caído num mar de leite, Mas a cegueira não é assim, disse o outro, a cegueira dizem que é negra, Pois eu vejo tudo branco…
As possibilidades de leitura deste romance se abrem ao infinito, talvez porque, no limite, estejamos adentrando o insólito, um absurdo semelhante aos do universo kafkiano.
Mas focando apenas esta espécie diversa de cegueira que aqui se apresenta, de certo modo, estamos tocando o mesmo argumento desenvolvido no romance de Alessandro Baricco, em suas propostas de relativização do olhar. A diferença parece residir no que o romance de Saramago acrescenta à questão. Segundo o próprio Saramago, já que vivemos num Luna Park, nossa percepção é a de um caleidoscópio imagético em que o virtual substitui o real, em que os excessos luminosos daquele “mar de leite de um nevoeiro espesso” não nos deixam mais ver o essencial. No fundo, seria como se as luzes artificiais nos dessem uma ilusão da visão não permitindo, por exemplo, que as luzes naturais das estrelas possam ser descobertas no manto negro da noite.
Em ambos autores, reconhecemos uma abordagem semelhante àquela que tanto fascinou os filósofos da Ilustração, que acreditavam que todo conhecimento dependeria de nossos sentidos, sendo necessário criar o que denominaram “educabilidade do olhar”: “É necessário combater com a educação a cegueira produzida pela educação.”

Ruptura
Voltando aos seres que vão à estalagem Almayer, no romance de Baricco, notamos que, desde o início, aquela sua atitude significa uma ruptura com o que vinha sendo admitido como verdade pré-estabelecida. O oceano mar é o plot que induz à reflexão, à dúvida daqueles que correm o risco da viagem, daquela viagem que é, na verdade, a mais difícil de todas: a que se faz em direção aos labirintos inextricáveis do ser. E, simplesmente, parar para contemplar o mar significa subverter o imediatismo de nossos olhares velozes superestimulados pelo caos imagético em que vivemos. Olhar o mar significa, também, ser visto e deixar-se tocar e curar por ele. Nesta dimensão, as idéias extraídas do romance de Baricco encontram as da fenomenologia de Merleau Ponty. Somos sujeitos enquanto olhamos, mas aquilo que olhamos transcende a situação estática de simples “objetos” porque também somos modificados por aquilo que nos olha. Como bem traduziu Octavio Paz:
Me vejo no que vejo
Como entrar por meus olhos
Em um olho mais límpido
Me olha o que eu olho
É minha criação
Isto que vejo
Perceber é conceber
Águas de pensamentos
Sou a criatura
Do que vejo
É interessante lembrar que Alessandro Baricco e José Saramago são autores que escolhem como argumento recorrente, não só em sua ficção, mas também em seus ensaios críticos, como teóricos e como intelectuais atuantes, a necessidade de tratar dos temas fulcrais que nos atingem nestes nossos tempos confusos, como o problema da alienação enquanto distorção da acuidade visual e, enfim, dos nossos modos de percepção.
O autor italiano propõe a sua resistência ao problema, conferindo às crianças o poder de guardar nossa capacidade de ver e imaginar, acordando os adultos do sono letárgico em que dormiam, ensinando-os a ver profundamente o oceano mar.
O autor português, também ele, a seu modo, evidencia o problema da saturação de imagens que invadem nossa visão, gerando como conseqüência a este excesso de luz, uma cegueira em que se vê tudo, sem que se veja nada. E o que é pior: numa sociedade em que os homens se tornam cegos, a humanidade se perde em relações de poder bárbaras e violentas.
Os dois parecem advertir a algo de contraditoriamente belo, apesar de tudo: ainda somos capazes de recuperar aquilo que nos faz “humanos”. Talvez abrindo a janela das “estalagens” de nossas almas, cegados não mais pela doença dos que só conseguem ver um mar de leite branco de um espesso nevoeiro, mas sim, o azul profundo e estético de um oceano mar infinito, a perder de vista.