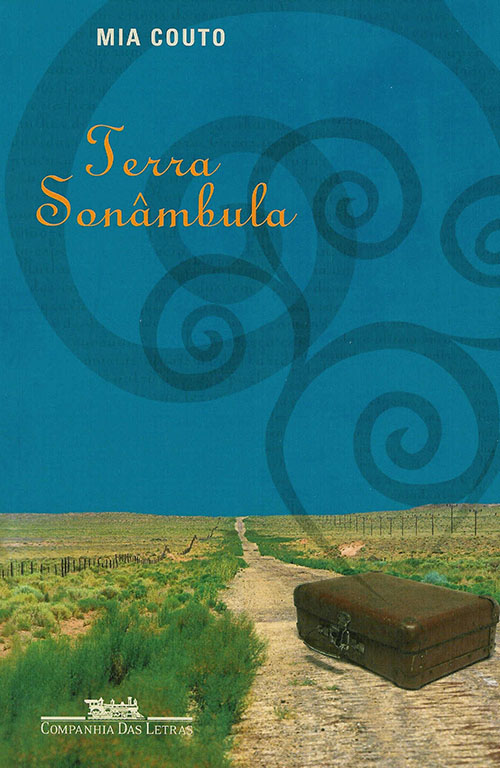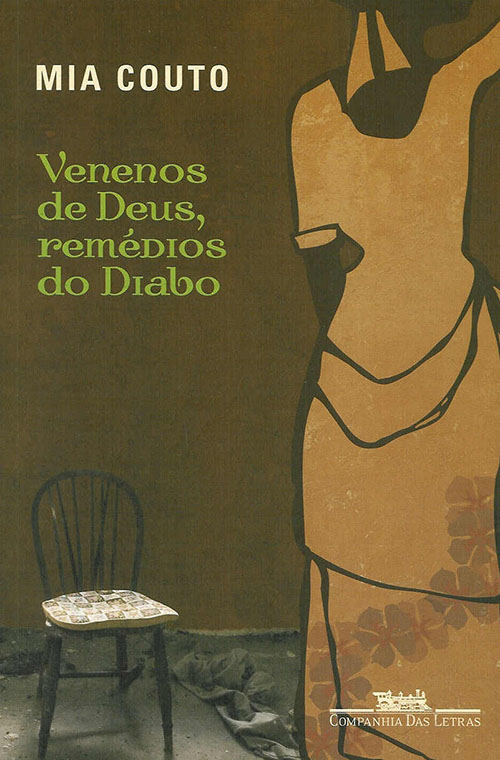Nasce mulata a poesia moçambicana, em meados do século 19, no casamento do poeta Tomás Antônio Gonzaga, de sangue luso-brasileiro, com Juliana de Sousa Mascarenhas, da Ilha de Moçambique. A respeito desse rico intercâmbio de culturas falava o escritor Mia Couto, quatro anos atrás, em uma comunicação na Academia Brasileira de Letras. Foi assim que, estreitando laços de vizinhança, entre 1950 e 1970, as vozes de Manuel Bandeira, Drummond, Graciliano Ramos, Jorge Amado e tantos outros aportaram em Moçambique, para semear ali a gênese de uma identidade lingüística ainda carente de matizes que pudessem distingui-la do português colonial.
Dessa partilha que transcende a dimensão da língua e toca o fundo de um parentesco mágico, deriva o encontro de alma especialíssimo de Mia Couto com Guimarães Rosa. Em um sertão que desemboca em savana, levanta-se agora, mais uma vez, a flor mestiça, re-encantada em cores de beleza universal. Tudo o que Mia Couto reconhece marcar a experiência de recriação da escrita em Guimarães, podemos também reconhecer em seu trabalho, bem entranhado nos sais da terra moçambicana: o uso de “neologismos, da desarticulação da frase feita, da reinvenção dos provérbios, do resgatar dos materiais da oralidade”. Poetas por excelência, ambos são feiticeiros da linguagem, desbravadores de uma pátria mítica em que nos descobrimos antes unidos por um sonho que separados por diferenças de raça.
Onde paira a névoa e, desde logo, qualquer prerrogativa de certeza se desfaz, é o sonho justamente que aparece e se propaga como elemento fundador das viagens nos livros de Mia Couto. Em Terra sonâmbula, a névoa está por toda parte. Uma estrada arrasada pela guerra, a carcaça de um automóvel incendiado, uma misteriosa mala ao lado de um cadáver: eis toda a paisagem, ou quase. Um baobá ali de pé dá sinais de que a terra não definhou completamente, que ainda serve de refúgio. Nesse lugar, a meio de um caminho, instalam-se Muindinga e Tuahir, sobreviventes de um país em luto. Nada se move enquanto eles não enterram seus mortos.
Dentro da mala, uma herança os aguarda: os cadernos manuscritos de Kindzu, um menino nascido no seio da guerra, cujo nome é o mesmo “que se dá às palmeiritas mindinhas, essas que se curvam junto às praias”. Com efeito, as palavras dessa criança lançam raízes e plantam no pequeno Muindinga a memória de um passado que lhe falta, desabrocham no velho Tuahir sua capacidade de sonhar. Começa aqui a viagem. Das águas para a terra, desde as páginas de uma ilíada, os dois andarilhos empreendem sua odisséia da estrada para o mar, traçando, sem saber, um itinerário de volta a casa: o pertencimento a uma nação que por muito tempo esteve esquecida, oculta sob o sono e sob as armas.
Palavra fabulosa
Tal como Kindzu recebe de um adivinho o “amuleto dos viajeiros” para começar sua jornada e curar-se “das leis, mandos e desmandos”, Muindinga e Tuahir recebem a palavra fabulosa que os vai libertando da “miséria de existir pouco”. E quanto mais avançam na leitura dos cadernos, mais a paisagem em torno deles se transforma. É a estrada que caminha, enevoada, diluindo os contornos de uma dura realidade, por dentro se fazendo fértil para a colheita do futuro. Povoam-se de árvores as estórias de Kindzu — canhoeiros, massaleiras, cajueiros, djambalaueiros — e o mato à beira da estrada viceja, “num moçambique de verdes”. O sagrado se abastece de forças na genealogia poética do filho das águas, da filha do Céu, e já Tuahir passa a sofrer de uma outra fome se o pequeno Muindinga demora a retomar o diário — uma fome que só a fantasia satisfaz. O garoto lê as páginas, o velho lê as folhagens, um alimenta no outro os motivos de estar vivo. No desfile dos espectros da guerra, nas imprecações dos espíritos, põem-se “os tempos, em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências”, e o tempo presente se resolve. Finalmente, os mortos podem ser sepultados pela segunda vez, com as devidas cerimônias.
Um cadáver abandonado a céu aberto, um elefante agonizando na savana, em Terra sonâmbula, são variações do mesmo retrato de um país acometido pelo fantasma da guerra bem depois de a guerra haver terminado. Tuahir diz ao pequeno Muindinga: “eu vivi num tempo em que o amor era uma coisa perigosa. Tu vives num tempo em que o amor é uma coisa estúpida”. Órfão de pai e mãe, Muindinga cumpre o destino de escapar de muitas mortes, e ser, como Kindzu, um portador da paz. Com o corpo doente de “mantakassa”, o veneno da mandioca apodrecida, é salvo de sua primeira agonia pelo velho Tuahir quando está prestes a ser atirado a uma vala. Sua tarefa tem o peso de uma raça: escapar da terra contaminada e proteger-se das enfermidades da alma, que se abrem nas feridas invisíveis do medo, da loucura, da desesperança. Trata-se também de outra orfandade, esta contra a qual luta o pequeno Muindinga: a perda do encanto das tradições, a derrocada de um país pelo império da violência, o desprezo dos homens por um sentido de comunidade.
No livro, a proclamação da Independência de Moçambique torna-se um de seus personagens fantásticos: Vinticinco de Junho, o Junhito, irmão menor de Kindzu. Para ser poupado da morte que o pai lhe sentencia em uma de suas predestinações, Junhito é encerrado em um galinheiro, disfarçado com um saco de penas, e aos poucos vai desaprendendo a falar. Desaparece certa manhã, sem deixar rastro, para ressurgir aos olhos de Kindzu em uma capoeira improvisada dentro de um tanque militar. Apenas concretizada a travessia, na última fábula do diário, Junhito finalmente se humaniza, embalado pelo som de uma canção.
Merece um destaque à parte, no romance, a estória de Nhamataca, filho de um amor durante a “estação das brumas” entre um homem e uma mulher, em margens opostas de um rio, que as águas acabam por unir em uma jangada. Mia Couto narra um episódio familiar no conto Nas águas do tempo, de Estórias abensonhadas: um velho que ensina seu neto a enxergar por trás do nevoeiro o vulto que lhes acena um pano branco. O avô segreda a lição: “nós temos olhos que se abrem para dentro, esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é que quase todos estão cegos, deixaram de ver esses outros que nos visitam. Os outros? Sim, esses que nos acenam da outra margem”. Como diz Kindzu, em Terra sonâmbula: “O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos”. É então, para voltar a ver, que o menino guarda suas fantasias no bojo de uma viagem, as páginas do seu diário transformadas em páginas de uma estrada.
Epidemia
Tons mais sóbrios marcam a paisagem de Venenos de deus, remédios do diabo, o romance recém-lançado de Mia Couto. Sob uma névoa que agora batiza e cobre uma vila africana, as intimidades dos habitantes silenciam, debaixo de pequenas mentiras, saberes que não mentem. Cada sonho é um modo de esquivar-se de um presente de poucas distrações. São breves os arredores de Vila Cacimba, porém, dentro da casa de D. Munda e Bartolomeu Sozinho, uma geografia se desdobra em distâncias. Além dos devaneios da memória, que adoecem de melancolia esse universo entre quatro paredes onde se concentra a narrativa, uma epidemia contamina as redondezas da vila, convertendo os soldados em “tresandarilhos”.
Encarregado de conter a doença, que os moradores do lugarejo atribuem a um “mau-olhado”, o médico português Sidônio Rosa esconde outro motivo para estar ali, uma saudade chamada Deolinda. O nome dessa mulata atravessa o livro como uma segunda neblina, uma sombra que acompanha seus personagens, miscigenando lembranças de um passado cujo verdadeiro nome é o de uma terra perdida. Sidônio não esquece o caso de amor que teve com a mulata durante um congresso em Lisboa, e viaja à sua procura, no fundo, para resgatar a si mesmo. Os velhos Bartolomeu e D. Munda tampouco esquecem Deolinda, que partiu “para fora” deixando na casa a ausência de uma filha. Aqui tem início a travessia do romance, nas visitas diárias que Sidônio faz a Bartolomeu, para tratá-lo de tristezas tão venenosas quanto a epidemia da vila.
Na casa dos Sozinhos, as janelas estão sempre fechadas. Bartolomeu e D. Munda também se fecham, repetindo a escuridão do ambiente, doentes de “saudade da Vida”. Bartolomeu, trancado no quarto, vive de remoer nostalgias da época do colonialismo, quando trabalhava a bordo do transatlântico Infante D. Henrique. A queda do regime colonial inaugurava o fim das viagens, um novo tempo sem “partida nem chegada”, por isso os cravos vermelhos de 1974, para ele, nunca foram símbolo de festa, mas sinal de despedida. D. Munda, fechada em si mesma, chora ritualmente todos os dias, e “arruma no vazio das prateleiras o vazio que está dentro dela”, na tarefa de enterrar as alegrias. Sidônio Rosa, apesar de médico, não tem a cura para essa doença de “solitária lonjura” dos velhos; ele próprio, aliás, sofre de uma saudade parecida, uma espécie de inexistência para a qual o único remédio é voltar a sonhar.
Em Venenos de deus, remédios do diabo, diferentes identidades se embaralham, dissolvem pressupostos históricos e preconceitos de raça, familiarizam-se na solidão. O estrangeiro não se traduz mais como aquele que vem de fora, senão como quem perdeu seu convívio com a terra — o reconhecimento, em si mesmo, de uma pátria. “Afinal, os homens também são lentos países. E onde se pensa haver carne e sangue há raiz e pedra.” Sidônio Rosa se esquiva do abraço de D. Munda para evitar “um trânsito de alma”, Bartolomeu Sozinho simplesmente desiste, porque o “amor envelheceu”. Amigos de infância, Bartolomeu e Alfredo Suacelência, administrador da Vila Cacimba, agora rivalizam, por razões políticas já cansadas de guerra.
Com a mentira a serviço da fábula, a mestiçagem de corpos e de almas, viagens e cartas inventadas, Mia Couto recupera, neste e em seus outros livros, o poder do sonho e a necessidade do mito, questionando noções de pertença e ilusões de pureza de raça. Como disse em sua intervenção na cerimônia do Prêmio Internacional dos 12 melhores Romances de África, para o qual foi selecionado com seu romance Terra sonâmbula, em 2002: “Os escritores moçambicanos cumprem hoje um compromisso ético: pensar este Moçambique e sonhar um outro Moçambique. (…) Estamos aguardando pelo renovar de um estado de paixão que já experimentamos, esperamos pelo reacender do amor entre a escrita e a nação enquanto casa feita para sonhar. O que queremos e sonhamos é uma pátria e um continente que já não precisem de heróis”.