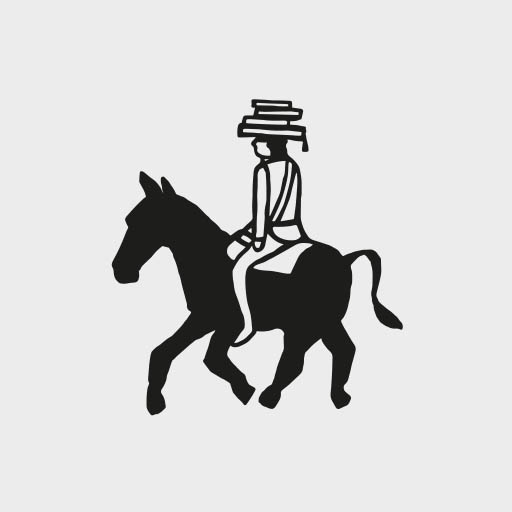“Escrevo para o senhor como se fosse minha última esperança. E nem apelei para as primeiras. Quem é que olha aqui pra dentro? Sei que muita gente quer é muro mais alto na cadeia. Como se a gente um dia não fosse sair daqui… Às vezes penso que se é pra meter quarenta e cinco mulambentos neste muquifo que mal comporta quinze, era melhor sair matando com tiro, pelo menos uma meia dúzia por semana… O senhor não acha?”
Letrinha bem desenhada, nem parecia de homem. Coisa de quem fez com tempo. Caneta vermelha, lembrava o cuidado de uma professorinha. Nem combinava com o carimbo no pé da página: autorizado censura Penitenciária Estadual de Piraquara.
“Acompanho seu programa desde que estava aí fora. Tenho no senhor um cupido. Não só de caso de amor, porque hoje em dia não precisa muito pra neguinho se engatar com qualquer uma por aí. É cupido de amizade, de pai e filho, de irmão com irmão. Quanta gente que já se reencontrou escrevendo aí para o seu programa, não é? O senhor me desculpa se deixo algum erro escapar neste papel surrado, é que nunca fui muito de letra. Dentro de uma cela a gente se apega a qualquer coisa. Tem bandido aqui que já matou por duas garrafas de pinga e hoje veste terno amarrotado de crente. Um caboclo aqui duro de braço, daqueles fortão de obra, se bandeou pra ser ‘rapaz de sabor atrás’, como o próprio falou numa noite aí… É daqueles que não agüenta ficar sozinho, veja que engraçado, machão lá fora, virou mulher de cadeia, olha o tamanho da carência do sujeito. Até entendo, viu. Não chegaria nem perto do desespero dele, mas não é fácil acordar com o rosto a dois palmos de quem você nunca viu na frente. Quando um te chama pelo nome, coisa boa não é. Banho de sol é só para revezar o espaço aqui dentro, não é direito humano, é medo de que tudo isso aqui exploda. Não é pena, é controle social, acho. Agora, por exemplo, mal consigo escrever. A mão dói de tanto que tento proteger pra que ninguém veja o que sai da caneta. Tem gente que pensa que bandido não tem coração. Outro dia tive que escrever um formulário lá no serviço de saúde e o cara do plantão deu risada da minha letra. E o que é que tem a ver a tal da caligrafia com o sangue grosso de homem? Só não derrubei ele da moral porque arrumar confusão aqui dentro não é coisa boa, você nunca sabe quando vem a desforra e de covardia eu corro de malandro, sabe como é, né?”
Esta parte não seria lida pelo apresentador. Com o tempo, o radialista aprendera que das cartas tinha que extrair apenas o que poderia fazer de seus personagens figuras mais líricas. O ouvinte não queria a dureza de uma cela mofada, de um homem que só tinha como esperança um radialista montado em cima de pequenas doses de desespero. O público buscava algo de belo em cada sofrimento. Imaginavam, os ouvintes, que os apelos emocionados eram de fato assim construídos, que mesmo um semi-analfabeto conseguia contar sua própria história. Cada ouvinte queria acreditar que o radialista manuseava a carta pela primeira vez na hora do programa. Chegavam a ouvir o barulho do envelope sendo aberto.
Emoções construídas. Era o que o radialista, sempre quieto quando longe do microfone, acreditava. Na solidão de seu apartamento reescrevia a carta. Ritual repetido há pelos menos quinze anos. Descobrira que cada envelope que lhe chegava na emissora trazia uma história de vida mal contada. Que os donos de seus respectivos sofrimentos não conseguiam nunca dar a voz que esperavam ouvir. Ele tinha o timbre correto e a paciência para fazer cada drama ainda mais denso. As frases de efeito eram colocadas minuciosamente entre cada sentença original. Sinais taquigráficos davam o espaço necessário para uma trilha sonora ora empolgante, ora melodramática, ora um dedilhado poético no violão. O leque de emoções cabia em uma pasta com algumas dezenas de discos. Há algum tempo deixara de buscar músicas novas, percebeu que a verdadeira trilha tocava na cabeça de quem ouvia a história e pouco importava o que ele tocava no estúdio. Quem escuta uma história triste, na verdade, repete para si o próprio drama. E assim o radialista fazia sucesso. Entre músicas populares, a cada duas horas, lia uma das cartas preparadas no dia anterior. Poucas vezes repetira uma história. E mesmo quando repetira, ninguém chegou a notar. Nem mesmo o dono do drama. E drama lá tem dono? Quem conta uma história conta a história de qualquer um.
“Não sei mais quantos anos tenho que ficar aqui. Também não conto se já passaram cinco ou oito. Talvez mais. O senhor me desculpe por não ter nada de bonito pra contar. A gente escuta todo o dia seu programa aqui, que é bem na hora do café e o pessoal da cozinha é seu fã. É até engraçado ver um monte de marmanjo, assaltante, ladrão, estuprador, assassino, 171, caboclo ruim que só vendo, todo mundo quieto para saber o que vai dar o final da carta que o senhor lê? Tem gente que esconde, mas se fizer um pente fino, tem bandido que sai com o olho encharcado do refeitório. Diz que dor de corno pega em todo mundo, né? O senhor me desculpe o palavreado, mas aqui no meio da marginália, não dá pra ser de outro jeito, não…”
Tiraria boa parte deste parágrafo. Não se imaginava descrevendo por vários minutos como era o ambiente da cadeia. Lembrou das leituras ainda do tempo da escola de “Memórias do Cárcere”. De Graciliano Ramos conheceu então um pouco da vida de Dostoievski, encarcerados que fizeram de suas reclusões algo que valeu a pena. E agora ele com uma cartinha nas mãos, trabalhando para fazer da história de um bandido de letra bonita algo que preenchesse o tempo no programa do dia seguinte. Audiência certamente daria. Já contara tanto draminha besta de dona de casa, marido traído e namoradinha rejeitada… Não se considerava um escritor, embora tivesse alguns livros publicados, compilações das histórias que narrava há anos. Ele não sabia onde começava o que havia recebido e o que acrescentara para dar mais emoção. Onde terminava o drama do outro e onde começa o seu próprio?
Didaticamente, constantemente falava para si mesmo: eles vivem as histórias e não sabem contar, na maioria das vezes. Eu sei contar. Se vivo? Não sei, era o que assumia apenas no íntimo do gabinete de trabalho do apartamento, sozinho. Quando ainda reescrevia frases a mão em cima das próprias cartas, ainda era possível separar as palavras que chegavam das que ele acrescentava. Com a chegada do computador, pouco a pouco foi se desfazendo dos originais e colocando no hard disk os pequenos pedaços de vidas mal vividas que lhe batiam à porta. Nem se deu conta, mas a mudança no processo de trabalho acabara por misturar o seu estilo de escrita ao de centenas de pessoas que recorriam a ele em busca de uma voz no rádio, no mundo enfim. E quem falaria por ele? Existiria, em um universo paralelo que fosse, alguém que pudesse dar a voz ao radialista que falava pelos dramas de uma cidade? Foi o que pensou quando digitou mais algumas frases da carta do preso. Andou pela sala, o som da sola do sapato de couro duro tamborilava lento, ecoando ardido pelo cômodo quase sem móveis. Era noite e estava tudo muito quieto lá fora. E dentro também. Preciso de um nome para esta história, desviou o pensamento. Um nome para a minha história. Enquanto a idéia não vinha, passou a digitar a carta, já mudando o que deveria ser melhorado. Era automático. A leitura entrava em seu espírito com as frases originais e logo em seguida escorregava em seus dedos no teclado com a cadência que os ouvintes estavam acostumados.
“Sou de família de comerciante. Meu pai tinha uma loja de tecidos ali em Arapongas, no nortão bom do Paraná. Minha mãe era costureira, casamento perfeito. Fui bem criado, sempre de roupa nova e bonita. Tinha até que cuidar para não voltar sujo pra casa, tamanho era o cuidado que eles tinham com o piá mais novo da família. ‘Filho de comerciante tem que andar bonito, aprende isso’, era o que eu escutava do meu pai. Luxo a gente nunca teve, mas tenho que dizer que nunca me faltou nada. Brinquedo, comida, escola, amigos, carinho… Tudo o que uma criança precisava naquela cidade de terra vermelha e sol quente eu pude dizer que tive entre o balcão do meu pai e a máquina de costura de minha mãe. Os anos foram passando. Meus irmãos, cada um tomando seu rumo. Um inventou de ficar no exército. Outro casou em São Paulo. E eu meio que sem rumo, acostumado que era com o cantinho lá de casa. Acho que é coisa de caçula, né? A gente demora pra sair de casa. Parece que gosta pra sempre do colo da mãe. Ia vez ou outra nos bailes, nas festinhas de igreja, arrumei uma namorada ou outra. Mas nada que me impedisse de pular de galho em galho, como dizem por aí. Isso até o dia em que aquela mulher entrou sem pedir licença na minha vida.”
Releu o que estava a sua frente. Daqui a alguns dias não poderia diferenciar o que era original da carta e o que era adendo seu. Esta insegurança às vezes lhe provocava uma tristeza por não saber de fato o que fazia nesta vida. Mas, ao mesmo tempo, lhe dava a segurança de que dificilmente teria que dar satisfações sobre possíveis insucessos. Qual escritor trabalhava com tal certeza? Quem poderia arriscar escrever algo que beirasse um drama de música sertaneja e dormir com a consciência tranqüila? Pensou em escrever sobre isso, quem sabe um início de uma história, um romance, um conto… Até abriu outro arquivo no editor de texto, mas até o fim da noite sabia que a nova página seria deletada. Era assim com todas as histórias paralelas que por impulso tentava escrever. Outro dia leu em um jornal uma entrevista com um velho jornalista norte americano que comentava sobre o new journalism. Nas entrelinhas, deixava transparecer que precisa de muita imaginação para escrever a realidade. Este pensamento consolou o radialista. Há quanto tempo não conseguia desenvolver uma história que não lhe tivesse chegado por carta? Perdera as contas. Cada envelope aberto marcava mais um pouco de seu lapso criativo. Lapso de anos.
Ando pelas ruas, coisa que nunca faço. Dou uma coerência para este passeio que não precisa de explicação alguma para a maioria das pessoas. Entro em uma livraria de usados e folheio livros à toa. Saio das minhas histórias encerradas no apartamento bem decorado para conhecer um punhado de outras mofadas pelo manuseio. Histórias que já foram lidas. Minhas histórias são ouvidas. São duas e pouco da tarde e eu preciso continuar existindo até a noite, pelo menos. Um cansaço que só aumenta no ritmo da respiração. E eu tenho que continuar existindo.
Graciliano me vem à mão. Das memórias de seu cárcere ele encontrou a liberdade. Escrevendo em um pequeno quarto de uma pensão popular, contando trocados para manter a família perto de si, requintou o estilo e falou de sua alma, fez das barras da cela o passaporte para sua viagem. Folheio “Angústia”, corro os olhos pela vida simples e sentido de Luis Silva. Lembro do “São Bernardo” que li ainda na escola incentivado por um médico amigo da família. Era lição passada pela professora, o que me fez olhar o livro com cara feia. Mas na sala de espera daquele velho amigo da família que só lembro de ter visto usando branco, o livro ganhou um novo sentido. Lendo para aguardar a minha consulta, vejo que o médico senta ao meu lado e pela primeira vez conversa comigo, sem antes se dirigir ao meu pai. Não lembro exatamente o que ele me perguntou, talvez eu até nem tenha respondido algo inteligível. O sorriso dele se manteve nos poucos segundos que correu os olhos pela página que eu estava lendo. Mais tarde saberia que o médico, amigo de meu pai há muito anos, era leitor assíduo do velho Graça. Naqueles segundos, no olhar encantado do Dr. Sebastião pelas mesmas frases que até então me entediavam, comecei a entender um pouco deste prazer solitário que é a literatura. Prazer solitário. Carrego comigo estas duas palavras com a culpa de que a segunda puxa a primeira. Prazer solitário. O prazer só existe no meu apartamento. Não escrevo memórias. Se escrevesse, contaria o quão feliz penso ter sido dentro do meu cárcere, reescrevendo vidas que não vivi. Às vezes tenho a impressão de que sequer foram vividas, apenas contadas. O quão feliz não significa, admito em meu silêncio, que fui feliz. Apenas é uma necessidade de mensurar o quanto de felicidade fica em mim.
“Tenho a minha frente grades. Elas me permitem somente a liberdade da visão, mesmo assim, na fresta dos corpos suados dos companheiros de cela. Nos lados, o frio do concreto pichado com palavras que sufocam. Pelos cantos, recortes de revistas pornográficas que já não excitam mais ninguém. O cheiro é de rodoviária, mas aqui ninguém parte, ninguém chega. Mesmo o mais novato chegou há tanto tempo que virou um cenário da desgraça do vizinho. Nos reconhecemos por nossos crimes, servimos um ao outro de castigo. Nosso cárcere encerra nossas memórias.”
Entrou em casa e deixou sobre a mesa mais dois livros. No dia seguinte os guardaria junto de outros vinte e tantos com o mesmo título. Tinha o hábito de garimpar nos sebos os livros de sua autoria. Havia publicado três até hoje. Não se considerava escritor, apesar disso. Também não sabia bem o motivo que o levava a comprar os livros nos sebos. Estes últimos dois poderiam até ser tomados como idênticos, exceto pelo preço. Um saiu por catorze, outro por vinte e quatro reais. Pensou em perguntar o motivo para o balconista, mas logo viu na primeira página que o segundo estava autografado. No mercado do sebo minha assinatura vale algo, dez reais, ao menos, brincou consigo mesmo. Não conseguiu se recordar para quem havia assinado aquele livro. Pensou: que tipo de gente é essa que compra um livro de histórias reinventadas e depois manda para um sebo? Talvez não fosse mais incompreensível do que um autor de histórias reescritas que percorre os mesmos sebos para comprá-los. O fim do ciclo teria que ser na estante de sua casa, era mais lógico, defendeu-se.
Sobre seus livros. Algumas edições velhas, outras caindo as páginas dos volumes feitos com cola e impressão econômica. Era literatura barata, no preço e na qualidade, disse certa vez um professor de cursinho para uma ouvinte sua. Não importava. Descobrira no passado que publicar algumas de suas histórias lidas na rádio poderia ser bom. Não era dinheiro, nem nome. Era apenas colocar no papel um pouco da efemeridade que sua voz carregava. Quem sabe na impressão aquelas vidas contadas poderiam ser mais bem vividas? Seus leitores, invariavelmente, eram praticamente os mesmos que lhe ouviam na rádio. Mesmo tipo de gente. Por culpa, desejo, incompetência sentimental ou coisa que o valha. Em um gesto até de desespero, sentavam para colocar em algumas linhas o que pensavam ser a história mais importante de suas vidas… E do resto da humanidade. É certo que sempre tinha sentimento dentro dos envelopes, mas aprendeu com os anos que somente a reescrita é que faz uma emoção falar a alguém que não seja quem a escreveu originalmente. Os livros eram um pouco desta reescrita. Eles traziam as histórias que mais lhe deram audiência. Somente as melhores. Em geral, lembravam músicas de sucesso, canções do Roberto Carlos ou de duplas sertanejas do top parade. Não raro, os títulos faziam alusões às canções que no programa ele tocaria logo após a narração da história.
Ainda olhou para a tela do computador antes de dormir. Sozinho. Um casamento desfeito desde que a esposa descobrira um caso seu com um suposto amigo de São Paulo. Ainda mantinha viagens ocasionais para ver o namorado. Não podia assumir a homossexualidade na cidade de seus ouvintes. Homem de voz grossa, a marca da rádio onde trabalhava. Ainda trazia o sotaque lá dos pampas, o que caía bem para seu disfarce. Representava com qualidade o papel que acabara por lhe aprisionar. A digitação da carta parou pela metade, algumas anotações à mão espalhadas sobre o teclado, idéias soltas no arquivo que esquecera de nomear e fora salvo automaticamente pelo editor de texto. Parou no momento em que a carta revelava o pedido do preso. Sempre existia um pedido, qualquer que fosse o desabafo. Aqueles corações maltratados colocavam suas angústias como moeda de troca. E às vezes a troca era nada mais do que ser ouvido, do que ver sua emoção lida no ar com a coerência que lhes faltava na vida. E era esta coerência que agora iria inquietar o sono do radialista. Letrinha de professora, coração de bandido. Um título que lhe veio à cabeça. Da cadeia, ele sonha apenas em ter a foto da filha. A vida podia ser incoerente, mas uma história lida no seu programa, não. Sempre soubera desta regra implícita que fazia com que suas cartas segurassem uma audiência fiel, gente que abria mão de escutar as músicas do momento, para ficar por vinte ou trinta minutos sem mexer no dial a espera do fim da história. Letrinha de professora, coração de bandido. Da cadeia, ele sonha apenas em ter a foto da filha. No caminho do quarto, pensou na menina crescendo longe do pai, quem sabe ele nem a conhecesse de fato. Ela indo para a escola. Sozinha em casa. Ele pedindo notícias para a esposa e não recebendo, chorando sozinho na cela olhando figuras de crianças em revistas. A filha perguntando pelo pai em um domingo de agosto… Solidões que a vida desviara. O frio da cela, a letrinha bem desenhada tal qual a criança estaria aprendendo na escola. Um homem sozinho em sua cela, uma vida acontecendo lá fora, cartas com emoções que nunca vivi, falo de emoções que os outros vivem por mim, a foto, uma imagem que me faça lembrar algo de humano que deixei além destas grades. Deste apartamento. Desta carta reescrita. Deste conto. Destas vozes, primeira e terceira, que se confundem. O narrador que brinca de contar sobre a sua pessoa: inventada, maquiada, plastificada, isolada… Esquecida, pervertida, repetida.
Escrevo no caderno ao lado da cama:
Tenho a minha frente janelas. Elas me permitem somente a liberdade da visão, mesmo assim, na fresta das cortinas que me protegem de quem passa na rua. Nos lados, as paredes decoradas com livros que deveriam me libertar. Meu cárcere encerra minha memória. Pelos cantos, lembranças de viagens, quadros, vasos e outras coisas sem vida. Estou aqui há tanto tempo sozinho em meu crime. Sozinho no meu castigo.