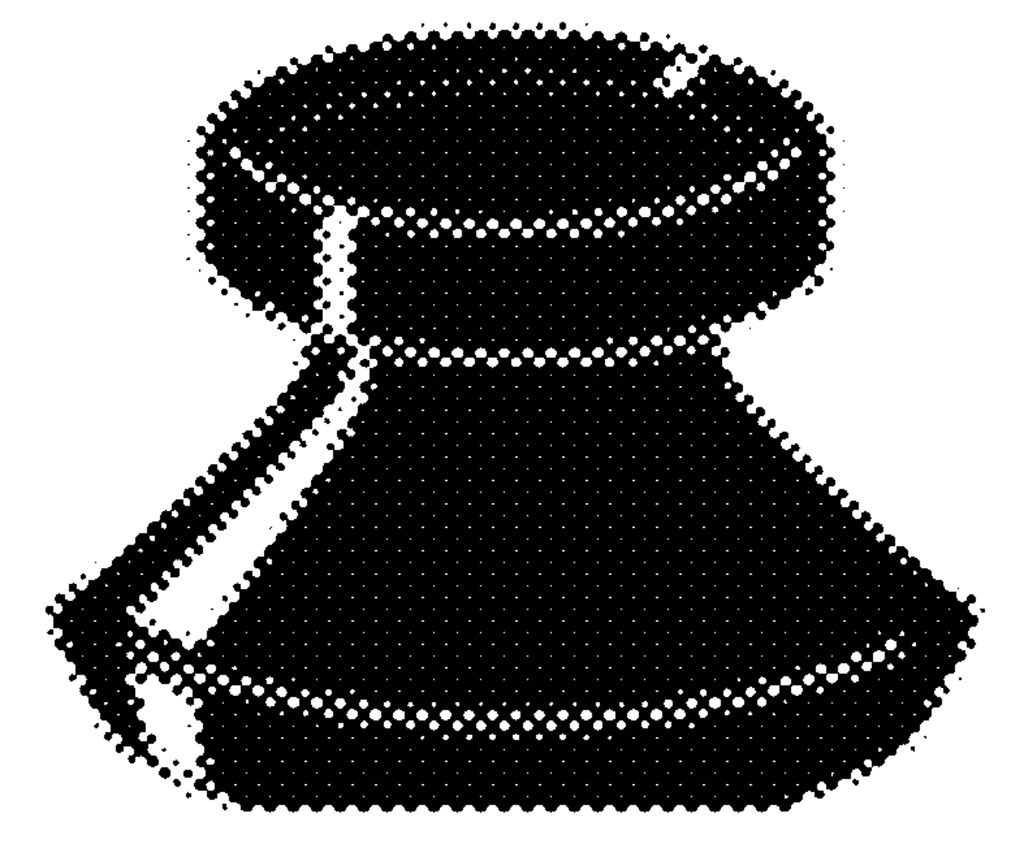Depois da invenção dos meios para reprodução das obras musicais (disco, fita, vídeo, CD, DVD), dos instrumentos para sua execução (gramofone, vitrola, pick-up, radiola, gravador, walk-man, computador, videocassete, iPOD, Pen-drive, MP3) e, principalmente, depois da invenção dos meios de comunicação de massa (rádio, televisão e, para o caso, o cinema e hoje a internet), o poema perdeu para a música popular grande parte do espaço existencial que ocupava na sociedade, na história e, sobretudo, no cotidiano das pessoas que ainda consomem bens culturais de valor.
Mas que houve com a poesia para que perdesse o status que detinha desde suas origens?
AS TRANSFORMAÇÕES DO POEMA
• A atitude clássica
Dispondo apenas das produções dos seus conterrâneos, Aristóteles só poderia mesmo ter conceituado a poesia como mímese: pois era uma poesia mimética, de recriação da natureza e da sociedade. Seus grandes modelos não poderiam ser outros: Homero para a épica, Sófocles para o drama.[1]
Ao narrar um fato ou ao teatralizar uma ação (e mesmo ao expor sentimentos pessoais — mas o melhor da poesia grega não é a lírica), o poeta primitivo não se afastava de seus referentes: sua atitude era a de tomar o mundo exterior como objeto da descrição ou do questionamento. Essa poesia tematizadora do universo se oferecia ao público como uma forma subjetiva de conhecimento: ainda muito próxima da filosofia e da ciência, e da história, o universal é a sua grande marca. Universalidade de tema, na focalização abstrata do “humano” ou do “cósmico”, e universalidade de mensagem, na exteriorização de uma visão coletivista da vida. Essa prática, investigar para conhecer, consubstancializou toda a poesia clássica e transformou em clássicos todos os poetas superiores que a adotaram em qualquer época posterior, como aquela plêiade — jamais superada — em torno do Renascimento e mesmo os dramáticos e líricos do século 18.
Se, cinco séculos depois, o mundo romano produziu uma literatura aproximada, mais no brilho das origens (Lucrécio, Virgílio, Horácio, Sêneca, Ovídio) do que ao longo do milênio medieval de domínio (que só legou um grande nome por século, no final — Dante, no 13; Petrarca, no 14; Boccaccio, entrando pelo 15), ele permutou a sondagem filosófica pelo interesse jurídico-político (Cícero), com os olhos voltados mais para a manutenção e expansão do império. E reproduziu os modelos gregos sem impor uma marca própria capaz de ultrapassá-los, a não ser em alguns aspectos da lírica. O Renascimento (Camões, século 16) restaura com maior amplitude o padrão helênico já fecundado pelo romano e ergue não só a poesia mas toda a arte (Da Vinci, Michelangelo, Cervantes) a um nível nunca mais atingido, exceto nos seus próprios desdobramentos imediatos (Shakespeare, Bach, Rembrandt, Rubens, Milton — séculos 17/18). Logo após, o Arcadismo fecha a era clássica, particularmente através do teatro francês (Corneille, Racine, Molière — século 18), até o seu último grande expoente (Goethe), já na fronteira do Romantismo. Em todos eles, a mesma cristalizada atitude cognitiva da matriz: Michelangelo estudando anatomia por oito anos para esculpir na pedra um Moisés simétrico ao modelo.
• A atitude romântica
Seduzido pelas expectativas de um mundo humanizado, com as promessas de abundância pela tecnologia (Revolução Industrial) e de liberdade pela democracia (Revolução Francesa), ambas nascentes em sua forma atual, o poeta romântico (princípios do século 19) desvia o olhar do mundo exterior para o seu mundo pessoal. No lugar do desejo de investigar para conhecer, agora é o desejo de expressar para fruir (Byron, Musset, Leopardi, Espronceda): o conhecimento é pressuposto e ele se contenta com as intuições de uma sensibilidade exasperada (Hölderlin, Nerval).
Pois o romântico é o homem sedento de fruição numa sociedade que traiu as suas promessas: ao invés da liberdade e da abundância, o convencionalismo e o privilégio. Pode-se afirmar que o mundo atual é tão insatisfatório porque não realizou nenhum dos grandes ideais do Iluminismo: nem liberdade (exceto no formalismo jurídico, pois seu real conteúdo é econômico), nem igualdade (pois que não de situação, ao menos de chance), nem fraternidade (o tratamento que se dá ao “irmão” é de estranho ou de potencial inimigo); nem o Estado cumpriu o contrato social — o Neoliberalismo, através do programa de privatização, vem progressivamente retirando-o de suas funções básicas, transformando tudo (saúde, segurança, educação) em mercadorias pelas quais acabamos pagando duas vezes e abandonando os indivíduos a si mesmos numa sociedade reduzida a um mercado, com o governo sob controle de bancos e de empresas transnacionais; nem os poderes são independentes e harmônicos — quando não se vendem, o Legislativo é manobrado e o Judiciário é nomeado pelo Executivo; e o dinheiro (não o homem) é a verdadeira medida de todas as coisas. Tudo pelo avesso — tudo ao contrário do que sonharam Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, D’Alembert… Se os ideais do Iluminismo tivessem sido realizados, o Marxismo não teria nascido: uma utopia só (re)nasce quando a anterior se esgota sem se cumprir.
O romântico recusa esse mundo, mas só lhe opõe um protesto negativo: a fuga para formas “selvagens” de existência (Merquior), não corrompidas por essa civilização, mas só entrevistas no sonho. E forja na imaginação o tipo de vida que não encontra nem constrói na realidade. A poesia passa a priorizar a expressão dos sentimentos individuais, sustentada unicamente pela possibilidade de identificação com o leitor, quase sempre num mesmo estado de espírito.
• A atitude realista
Se o romântico negou seu mundo com um protesto subjetivo, sem nada lhe contrapor além da autodestrutiva rebeldia individual, exemplarmente personificada no aventureirismo suicida de um Byron e de um Musset (entre nós, o de um Varela), o realista logo após (pelos meados do século) tem uma alternativa objetiva — oposta e radical.
Inspirado nos dois grandes movimentos de idéias da hora (o Evolucionismo com Darwin na ciência e o Socialismo com Marx na política), ele estetiza a proposta de um novo mundo, moldado pela técnica, e de um novo homem, crente no progresso, possibilitado pela descoberta que de fato funda a Modernidade na prática — a da eletricidade. Ela representou para o nosso tempo o mesmo papel que a descoberta do fogo representou para a Pré-história: se o fogo introduziu 1) a manipulação dos metais; 2) o cozimento da alimentação; 3) o aquecimento dos ambientes; 4) a iluminação da caverna; 5) uma defesa contra as feras, a eletricidade gerou toda a população cibernética que mudou radicalmente a face do planeta e refundou a civilização. Agora, o poeta é um envolvido com os destinos do seu povo, o analista e o crítico social (o maduro Hugo, o jovem Antero, o mundano Baudelaire, o Raimundo Correa da segunda parte de Sinfonias), os quais, permutando a estéril e suicida rebeldia individual — que tragou na juventude todos os nossos grandes românticos — pela ação coletiva através de sindicatos operários e partidos de esquerda, decide denunciar para transformar, numa postura que penetra pelo Modernismo, conforme o conhecido postulado básico do marxismo: “Não basta compreender o mundo — é preciso transformá-lo”. A romântica fruição é quase que descartada como conivência.
Desde então, a literatura permuta as missões de colaborar na formação do caráter (Trancoso) ou de divertir o leitor (novelas e comédias) pela tentativa de interferir no cotidiano das pessoas: surge então a figura do intelectual participante (Antero trabalhando numa fábrica para melhor conhecer o cotidiano do operariado ou Zola com o marco histórico do “J’accuse!”), com um papel a desempenhar em sua sociedade para além do campo estético.
• A atitude moderna
Menos de um século depois, o racionalismo da modernidade estendeu sua exigência de consciência técnica a todos os setores da cultura: intuicionismo, subjetivismo, espontaneísmo, sentimentalismo e, em certos casos, até mesmo o intervencionismo social — valores promovidos pelas poéticas anteriores — são renegados em nome da razão estética e da necessidade de domínio do poeta sobre o seu processo criador.
Então ele, que já desviara o olhar do universo exterior para o interior, e deste para o espaço social, agora se volta para a própria poesia: ao invés de questionar o mundo ou o eu, questiona o poema, o estado da poesia deslocada por novas formas estéticas, a situação do poeta marginalizado pela cultura de massa triunfante, muito particularmente a música popular — e, no mesmo compasso, constrói a obra e a teoria que a fundamenta e consubstancia (Valéry, Pessoa ou, mais que todos, Cabral).
Mais intelectualizado, o poeta moderno retoma, transfigura e funde todas as atitudes dos poetas do passado e se identifica pela especificidade da que introduz: o autoquestionamento. Muitos deles (Pound, Eliot, Paz, Pessoa) são também grandes teóricos, críticos ou mesmo professores: agora, a poesia — fechada sobre si mesma — quer, sobretudo, conhecer-se para justificar-se.
Verdade que, ao lado dessa atitude metapoética, o poeta moderno assumiu também uma atitude combativa — de questionamento da realidade social do seu mundo, particularmente os vinculáveis à proposta marxista (como num Maiakovski, num Brecht, num Éluard, num Aragon, num Neruda, num Cardenal ou, entre nós, num Agostinho Neto, num Gomes Ferreira, num Moacyr Félix ou no primeiro Drummond — poetas da linhagem dominante da literatura ao longo do século 20). Isso faz dele o mais crítico dos poetas, como o romântico foi o mais belo e o clássico (sobre todos o trágico) o mais profundo. Mas essa é uma postura retomada dos realistas. O seu típico mesmo é a metapoesia.
• A síndrome do metapoema
Surgindo como resposta à necessidade de conscientização da função poética e como equacionamento da crise da poesia (em parte porque muitos poetas contemporâneos foram se refugiar na universidade, no exercício profissional da atividade que melhor poderia poupá-los de uma prática alienada), o metapoema se impôs na origem como consciência técnica do poeta. Seu autor era, antes de tudo, o artesão senhor do seu ofício: não mais o demiurgo ou o sonhador movido por forças cegas e irracionais da natureza, da sociedade ou do inconsciente (“inspiração”), em qualquer caso a registrar as sugestões do momento criativo sem controle maior da própria criação, mas o artífice, o autocrítico a desenvolver com convicção (“artesanato”) um projeto estético conscientemente elaborado.
Mas essa saudável autoconsciência, em manifestações não-ideologicamente resolvidas, esterilizou-se num hermetismo e num tecnicismo somente acessível ou pertinente aos iniciados, cerrando o poema sobre si mesmo e, com isso, afastando mais ainda o leitor, que fechava (ou nem mesmo abria) o livro — e ligava o rádio, a tevê, o som, o computador, fazia o vídeo, o clip, ia ao cinema, à festa, ao boteco, à praia, ao clube, ao “inferninho”, onde tinha a certeza de encontrar uma música (e uma garota) para um momento de prazer, no lugar de um quebra-cabeça para o estrago de um dia sonegado à vida.
Não há poeta contemporâneo que não tenha definido entre nós o seu projeto numa série ou, pelo menos, num austero metapoema (Drummond, Gilberto Mendonça Teles, Marly de Oliveira, Marcus Accioly, Affonso Romano de Sant’Anna e tantos outros, além de Cabral). Com isso, a modernidade lega um conjunto capaz de legitimar os seus autores perante a crítica mais exigente, de fundamentar uma poética com toda autenticidade e radicalidade mas, infelizmente, sem aquela única figura que não poderia estar ausente: o leitor-leitor.
• A relação poema-leitor
O poema que questiona o mundo conta com um universo virtualmente ilimitado de leitores: qualquer que seja a postura assumida, o tema é comum ao leitor, que pode interessar-se pelo texto na proporção de sua necessidade ou seu desejo de conhecimento. O que tematiza o próprio eu do poeta fica condicionado à identificação com o outro, na eventualidade da projeção de sentimentos e idéias. O que disseca a realidade histórica e ostenta uma propositura em face de sua configuração econômico-social repercute de pronto na consciência dos extremos que a polarizam e recebe a adesão entusiasta de todos aqueles que reconhecem uma identidade ideológica — e a recusa enfurecida dos oponentes. E essa polarização, instituída por interesses sociais, acabou se subsumindo aos valores propriamente estéticos na apreciação e no acolhimento da arte. Mas o poema que reflete sobre a própria poesia só interessa mesmo ao restrito segmento intelectual que vive em torno dela.
Com essas transformações da atitude do poeta, operou-se uma relativa mas progressiva redução do universo dos leitores, passando de um círculo universal a um particular e deste a um restritamente intelectual. No mesmo processo em que a poesia ganhava em depuração, perdia em presença e, portanto, em participação no destino das sociedades.
No vazio assim aberto, beneficiada por aquela profusão de aparelhos, penetrou fácil-fácil a música popular, que sugou o espaço do poema, como a arte cinética sugou o do romance.
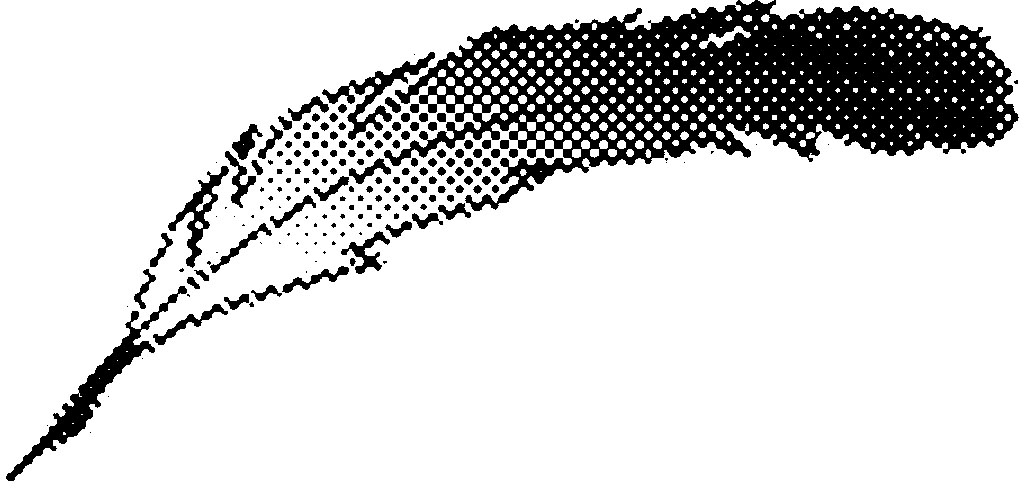
A POESIA EM FACE DAS NOVAS FORMAS CULTURAIS
• Para quê ainda sirvo?
Essa situação se agravou e atingiu um ponto crítico na contemporaneidade, com o progressivo incremento da população mundial, gerando as sociedades de massa, com um público consumidor capaz de profissionalizar qualquer atividade — inclusive a do poeta, o último produtor cultural ainda amador, se direcionada nesse sentido.
Novos e mais eficientes meios de comunicação, transporte e informação, sob pressão da nova realidade, foram criados para e pela globalização do mercado. Paralelamente, a indústria burguesa prodigalizava novas e mais sedutoras formas de lazer, todas sociais, em oposição ao lazer solitário proporcionado pela leitura nas sociedades pré-industriais.
A leitura pode ser encarada sob três pontos de vista: como instrução didática, como investimento cultural e como forma de lazer. Como instrução didática, para a formação profissional do indivíduo, ela está excluída da vida de mais da metade da nossa população e de não sei quantos por cento dos que não querem ou não conseguem chegar à escola. Como investimento cultural, para elevação do espírito, não comparece no dia-a-dia dos animais que não sei como sobrevivem sem ela e ainda se consideram felizes. Como forma de lazer, para o simples aproveitamento do tempo livre, ela perdeu a concorrência para as formas tecnológicas de diversão posteriores ao livro, mais atraentes e sedutoras.
Dedução: no Brasil de hoje, quem ainda lê é o profissional da cultura. Aquele cidadão comum do século 19 e de princípios do 20, que pegava o seu Alencar ou o seu Castro Alves, o seu Machado ou o seu Bilac para ler na sesta, esse continuou a ser comum, mas perdeu a sesta e deixou de ser leitor: virou assistente — telespectador ou ouvinte. Ou simplesmente fofoqueiro de boteco, turista de subúrbio, alienado internauta, porno-consumidor…
Além de na maioria dos nossos lares (os arquitetos nem sequer se lembram de incluir um espaço para biblioteca em suas plantas), o livro é o grande ausente em todos os “projetos” de governo. Comparece sob a forma didática, mas freqüentemente deturpada em propaganda, como fez a ditadura nos anos 60-80 e o PT no começo do III milênio — o que sugere que a ilustração do povo não convém ao Estado, mas a sua adesão. Sim, ele está caro — como tudo é caro no mercado sujo a que reduziram este arremedo de país. Mas — em sua vasta maioria — os jovens, mesmo achando caro, pagam o CD ou o vídeo, o chope ou o cigarro, o perfume ou a droga — e caem na zorra. Vão crescer arrumadinhos e cheirosinhas, como perfeitos debilóides, sem saber o nome de um poeta ou de um filósofo.
Algumas das novas formas artísticas souberam aproveitar bem a penetração popular dos meios de comunicação de massa e, beneficiadas pela criação anterior dos instrumentos de reprodução da obra, puderam industrializar-se e assim se transformaram em profissões, altamente rendosas. Foram aquelas que, sem maior compromisso com a tradição ou um projeto cultural e colocando seus produtos ao nível intelectual das massas, oferecem basicamente a emoção, o prazer ao seu público: a música, no rádio; a narrativa, no cinema; e ambas na tevê. Essas artes, através do disco e da fita, do filme e do vídeo, e das telas das tevês e dos computadores, saíram dos gabinetes ou dos salões para os estúdios e daí para a casa, para a rua, para o mundo, numa comunicação livre, direta, descontraída e espontânea, hoje interativa, com um público verdadeiramente universal. A poesia bem que tentou, mas não teve como penetrar em nenhum desses meios; perdeu para a música popular praticamente todo o público leigo e jovem que havia conquistado; e, em busca de solução para a crise, começou a indagar-se sobre si mesma: para quê ainda sirvo? Agora tenta “ressarcir-se” através dos computadores. De olho na consagração das instâncias legitimadoras (editoras, universidade e imprensa), esqueceu o leitor. Na prática, contentou-se com as noites de autógrafo, com os recitais em ambientes diminutos, com as recensões e entrevistas dos suplementos dos grandes jornais — mas nada na tevê. Hoje, com os sites da internet. E com as aulas, cursos, congressos, monografias, dissertações e teses das Faculdades de Letras — que alguns autores fora do circuito universitário criticam, mas adoram quando são o tema. E como se esmeram em fornecer material para os pós-graduandos!
Em suma: a poesia continua servindo apenas para o que sempre serviu — a iluminação interior de uns poucos espiritualmente privilegiados. Ou seja: do ponto de vista pragmático, a resposta à pergunta do título deste tópico seria: “Para nada”. Mas a sua ausência serve ao menos para que os espíritos ensombrecidos façam perguntas como essa.
•A atitude pós-moderna
Diante dessa nova realidade, qual a atitude do poeta pós-moderno?
Muito clara: “embarcou” na onda consumista da hora e se curvou às três notas mais definidoras da “arte” destes tempos: a brevidade — com poemas insuficientemente desenvolvidos; o hedonismo — o auto-abandono ao desejo de fruição do momento; o personalismo — a circunscrição do universo social ao eu. São as três marcas mais nítidas e ostensivas da poesia hoje dominante — melancólico desfecho para uma prática que, desde suas origens, vinha se mantendo num nível superiormente satisfatório.
A fusão dessas três notas na opção preferencial pelo poema curto vela e desvela o desejo obsessivo de presença em espaços sociais: é atrativo de ler, palatável de recitar, cômodo de transcrever, fácil de decorar, simples de entender e barato de exibir num clip ou mesmo numa inserção de vídeo ou de tevê. É a literal transformação do poema em objeto de consumo. E assim porque, antes, são traços definidores da própria Pós-modernidade, comandada pela televisão e pelo computador: a profusão de opções oferecidas pela sociedade do espetáculo, quase que simultâneas, se choca com a hipótese de alongamento ou complexificação das “atrações”, em face do desejo do público de não “perder” nenhuma delas. E hoje já se esboça entre os dois veículos um conflito que reforça a tendência ao minimalismo: de um lado, o altíssimo custo da tevê impõe a redução de tudo ao mínimo considerado (pelo programador) como essencial; de outro, o YouTube está arrastando todo mundo a restringir os seus registros a três parcos minutos e vai acabar forjando uma geração de cineastas do minuto. As pessoas comuns não aparecem na tevê: vão expor-se gratuitamente na Net.
Além de tudo isso, o computador está como que impondo o poema curto — o texto na dimensão da tela, para não ultrapassá-la e ser visualizado em sua integridade. Não fica bem seccionar um scrap no Orkut ou um post num Fotolog… Um poema, então! O pensamento dos minimalistas parece ser este: poema muito longo, só se for muito bom. Como é muito raro… Sendo curtinho, lê-se, ainda que medíocre: perde-se pouco tempo. Com a Net, o minimalismo acabou se impondo com todo vigor: as gerações emergente e nova estão mais familiarizadas com a tela do computador do que com as páginas de um livro. Como só escrevem o que cabe nos retângulos dos sites do ciberespaço, também só lêem o correspondente.
Não se sabe bem o que quer o poeta tipicamente pós-moderno. Sabe-se que não é nada do que queriam os das fases anteriores: ele não quer dos clássicos o investigar para conhecer — muitos deles não têm a menor capacidade intelectual para essa tarefa; nem o dos românticos expressar para fruir — a prodigalização neoliberal do prazer no cotidiano dispensa a sublimação da arte;nem o dos realistas denunciar para transformar — seu hedonismo é o de um conformista que parece muito satisfeito com o estado do mundo; nem o dos modernos conhecer-se para justificar-se — ele acredita piamente que sua arte está isenta desse tributo. Quer talvez apenas o acontecimento, o fato aparentemente inédito e preferencialmente chocante — a performance. A obra em si e sua sobrevivência, o nível do texto e o destino do poeta, são coisas secundárias: ficam em segundo plano. Incidem no equívoco de tomar a vivência como representação, o fato como arte, num processo em que esta se anula porque o que está sendo oferecido como obra é o fato em sua forma real, e não em forma de linguagem. Ignoram Aristóteles: a poesia é um fazer, não um agir. Este fica para o teatro e, hoje, para o cinema e para a tele-arte.
Mas o que será que ainda pode chocar alguém, em termos de arte, no mundo de hoje? Chocante é a realidade — com seus contrastes e sua violência; ou nem mais isso — de tão banalizado. Mas também não é preciso: basta que esse fato lhe assegure uma foto no jornal ou uma mísera notinha na coluna, para manter-se em evidência. Mick Jagger confessou (cito de memória) que, desde que sua foto apareça na capa, não lhe interessa o que dele digam lá dentro numa página qualquer de jornal de ou revista. Esse tipo de artista se contenta com isso e seu público também: não têm condição de olhar mais alto, de ver mais longe. Ele precisa mesmo é de estar (sempre) presente, não porque a ausência signifique declínio de popularidade ou de receita, mas ruptura do elo com o público, o que pode prenunciar ou mesmo precipitar um fim de linha. E a presença obsessiva acaba acarretando uma saturação.
Em abono desse “artista”, desse “poeta”, reconheça-se que os outros igualmente não sabiam bem o que queriam, para além do plano pessoal: nós (professores, críticos, ensaístas, historiadores — incuráveis leitores) é que o deduzimos, a partir de suas obras. Na verdade, o único que tinha clara consciência do seu projeto era o realista — justo porque era realista. Um modernista o confessou por todos, numa frase famosa, que todos lembram: “Não sabemos o que queremos, só sabemos o que não queremos”.
Não basta.
• Uma síntese ideal
Condensando tudo num tópico, pode-se afirmar: a arte clássica sondava o eterno, em busca da verdade do ser; a moderna (como prolongamento intuitivo da realista) questionava a época, em busca de justiça social; a pós-moderna (como um prolongamento amesquinhado da romântica) se contenta com o momento, em busca do prazer pessoal. Eis aí uma das razões pelas quais a arte clássica é tão grandiosa, a moderna tão vibrante e a pós-moderna tão banal. É um progressivo afastamento das magnas questões da condição humana, direcionado para uma resoluta entrega à fruição, como resposta de um pragmático eu à aparente insolubilidade daquelas questões ou uma pura e simples submissão da arte às seduções da economia de mercado — um processo que, em sua radical vocação para o personalismo e para o hedonismo, reproduz as grandes diretrizes do trajeto tanto da especulação filosófica quanto da práxis cotidiana da civilização ocidental: os primeiros pensadores (num raio que pode estender-se dos Pré-socráticos, radicalizado em Kant, até Hegel) pretendiam compreender o mundo; os revolucionários modernos (de Nietzsche, radicalizado em Marx, até em torno de Sartre e dos frankfurtianos) pretendiam transformar o mundo; os pós-modernos (da invenção da pílula anticoncepcional, radicalizado em Woodstock, até agora) pretendem simplesmente desfrutar o mundo. Esse processo embute uma perda gnosiológica e um ganho existencial, numa nova versão do choque entre o medialismo da cultura e o finalismo do lazer: o impulso para a transformação implica o conhecimento, mas a tendência para o desfrute contorna uma e minimiza o outro. Afinal, para que queremos conhecer ou transformar algo, se não para utilizá-lo e adaptá-lo a nossas necessidades ou desejos?
A resposta pode apontar para uma síntese ideal: a culturalização do lazer ou, simplesmente, o lazer culturalizado. O cinema a intuiu; a música popular a consolidou — e ambas com a eficácia assegurada pelo nível, pelo gosto e pelo interesse da massa consumidora; mas a alta poesia, mesmo com toda a sua base emotiva, não constitui propriamente um lazer.
Resumindo num quadro:
| ARTE | META | ESTRATÉGIA | OBJETO | ATITUDE |
| CLÁSSICA | Eterno | compreender o mundo | verdade do ser | especulação |
| MODERNA | Época | transformar o mundo | justiça social | protesto |
| PÓS-MODERNA | momento | desfrutar o mundo | prazer pessoal | performance |
Isso envolve os três maiores parâmetros da condição humana, numa gradação da afirmação temporal do ser: o existencial, o histórico, o eterno. O místico é capaz de se imolar pela plenitude da dimensão eternista; o homem comum se satisfaz na dimensão meramente existencial; o artista só se realiza na dimensão histórica. Pois que um dia todos seremos passado, a salvação do crente está na eternidade do Paraíso; a do homem comum, numa vida terrena sem privações; a do artista, na permanência de sua obra através dos tempos — a continuar presente no futuro. Isto é: vivo. Para sempre.
No nosso caso, esse processo de degradação da arte atingiu o ponto máximo de redução de substância no simplismo da afirmativa de que a poesia tinha saído das páginas dos livros para as faixas dos discos — que a verdadeira poesia brasileira de hoje está nas letras das canções populares. Afirmam isso com a maior solenidade — e a maior ingenuidade: simplesmente, porque conhecem quase tudo da nossa boa música popular e quase nada da nossa alta poesia (e da universal). Da Geração-60, como paradigmático caso, praticamente só conhecem a poesia “marginal” — esta sim, inferior em sua média à média das nossas melhores letras. Deve ser por ela que empreendem o confronto e extraem a equivalência. Queria ver o que diriam se ousassem um confronto com a vertente épica da poesia dessa geração, que poucos leram.
REMATE: A OMISSÃO DA TEVÊ
Bastaria um programa mensal de tevê — nem que fosse às três da madrugada de um domingo, à meia-noite de uma sexta-feira, às dez da manhã de uma segunda: garanto que não teria apenas um telespectador. E desde que com bons poetas, não com apadrinhados, recitados por bons atores, para que a poesia retornasse ao cotidiano das pessoas, com benefícios para todos: poetas, editores, leitores, veículos, público em geral. Em pouco tempo, as pessoas voltariam a ler poesia — o que acabaria elevando o nível cultural da programação e, da população, também a sensibilidade, sua própria humanidade.
Não há público que atraia um patrocinador? O programa criará o público — como criou para as telenovelas, para os telejornais, para as tele-entrevistas, até para telecorridas de carro. Criará, não — porque o público já existe: basta cativá-lo. Hoje, no Rio, há recitais quase diários, que lotam restaurantes e teatros. E chega de tanta bobagem confeitada no rádio e na tevê como música.
Comece um programa de recital, cinco minutinhos de duração: vai criar um público, que vai crescer. Se não é criado, é porque há uma razão forte — e vergonhosa para ela: é que a televisão tem medo da poesia. Ela ainda se abre para outras artes porque, na tela, a sua mensagem fica diluída pelos elementos em torno. Mesmo as duas de maior apelo — a narrativa trivial e a música popular — sofrem dessa diluição: ao ser visualizado, o romance priva-se do que tem de mais profundo (as digressões do narrador, que não têm como passar para a tela), reduz ou mesmo aniquila a imaginação (e, junto com ela, a reflexão) do receptor e a sua mensagem se dilui nas filigranas do cenário e no charme dos atores; a da música se dilui mais ainda, porque as idéias do letrista são às vezes traídas pela melodia e desviadas pelos malabarismos do cantor ou da banda. Em ambos os casos, o telespectador se acomoda numa recepção puramente prazerosa, sem nenhuma exigência de ordem intelectiva — portanto, uma reação passiva. E aderente.
O poema não padece nada disso: recitado por um bom intérprete, que não precisa se enfeitar nem rebolar no palco, a mensagem do poeta preserva todo o seu vigor ideológico e se enriquece pelo poder de sedução da voz. Aí está o “perigo”.
E o certo é que o público ia gostar. Se gosta da medianidade da maioria das letras das canções que a mídia promove, como não gostaria de ouvir, bem recitados, uma elegia de Camões ou uma ode de Pessoa, um soneto de amor de Bilac ou de Vinicius?
A razão profunda, que o sistema escamoteia, é esta: o público da poesia não interessa à tevê. Não porque seja pequeno, mas porque é lúcido e crítico, capaz de tomar iniciativa — e não é manipulável. O perigo seria transferir esse programa para as oito horas da noite. Mas este é o horário nobre — o sagrado horário da corrupção, da bobagem, da violência, da alienação, do privilégio…
Por enquanto, quem está devolvendo a poesia ao cotidiano das pessoas é a internet.
* Este texto é uma montagem dos três primeiros capítulos do livro Poema e Letra-de-música, a sair em breve pela Topbooks.
Nota
[1] Cf. a Poética. Como se sabe, a parte sobre a Lírica se extraviou. Seus modelos deviam ser preferencialmente Safo e Anacreonte.