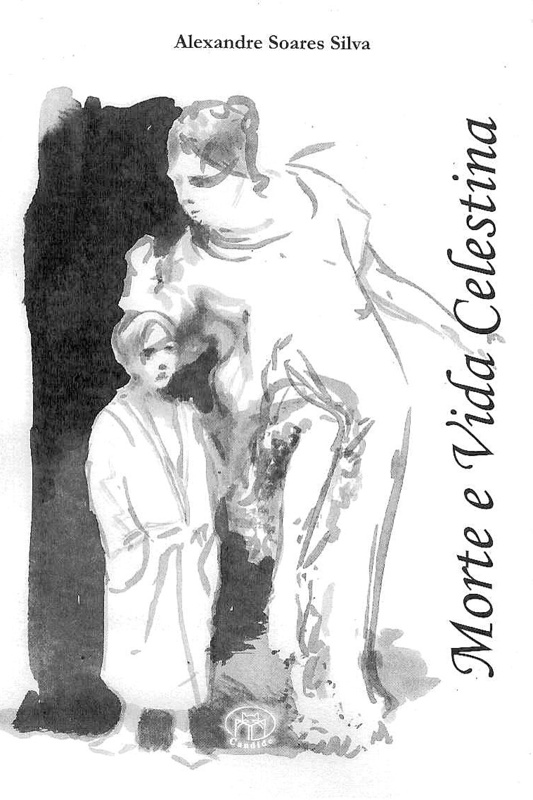O romance Morte e vida Celestina, do paulista Alexandre Soares Silva, é aberto por um pequeno prefácio do próprio autor em que ele (quase) se vangloria por não tratar da realidade nacional, ou melhor, daquela associada a jegues, conforme esses trechos: “Não é o primeiro romance brasileiro sem jegue; cheguei tarde. Leitor, se permita umas férias de livros que são ‘um retrato fiel dos dias em que vivemos’ (ugh). Um feriado, pelo menos. Depois podem voltar a se preocupar com a tal de vida (criatura muito caluniada). Ah sim, repare só mais nisto: uma coisa meu livro tem de bom. Uma vez terminada a leitura, ninguém dirá para você: — Mas a vida é assim, cara! A vida é assim!…”
Dado o seu tom irônico (que, aliás, continua nas 160 páginas do narrador do seu livro), creio que não se deve levar muito a sério suas afirmações, que soam mais como provocação a uma suposta “tendência” da literatura brasileira contemporânea (praticada pelos novos autores), ao expor tramas em meio à dura realidade nacional, e às vezes ambientadas na periferia dos grandes centros urbanos. Além disso, não se deve levar seu prefácio muito a sério, repito, uma vez que ele tem mais a conotação de “blague”, já que um prefácio de um livro de ficção escrito pelo próprio autor deve ser visto como parte integrante da ficção que virá a seguir, apesar da mesma ótica ser referendada na orelha do livro, segundo esse trecho: “Por isso [o autor] faz uma literatura que pretende levar o leitor a outros mundos, sem conexão nenhuma com o real”.
Assim, sem aceitar a provocação, creio que seria interessante, no entanto, discutirmos qual seria o conceito de realidade, no caso “realidade” associada a jegues, uma vez que a idéia de um autor que quer descrever esta realidade soa ingênua e simplória ao atentarmos que “realidade”, em se tratando de literatura, é sempre representação de algo, nunca um registro da “nossa” realidade. Isso, aliás, nem a História se propõe nem mesmos os gêneros biográficos ou documentários (no caso do cinema), vistos como recriações.
Isto porque não importa se o ficcionista nos remete a “esta” ou “àquela” realidade. Importa sim como ele vai (re) criar “sua realidade” e dela tentar nos convencer em suas tantas páginas. Quanto mais ele nos convencer dessa sua realidade mais será bem-sucedido em sua empreitada, não importando se essa realidade é próxima da nossa (vide livros como Estação Carandiru, de Drauzio Varela, ou Cidade de Deus, de Paulo Lins, exemplos de projeções ficcionais em torno de fatos reais) porque, de qualquer forma, ela nunca será “a nossa realidade”, por mais “verdadeiro” que o autor pretenda ser. Óbvio ululante, diria Nelson Rodrigues, isto parece realmente ser uma das principais “razões” fundantes e epistemológicas de todo texto em prosa: um ficcionista é, antes de tudo, um (re) criador de universos, seja ele qual for. Universos, inclusive, com enredos ficcionais poucos espessos, mas extremamente ricos (devido à exploração da linguagem), como é o caso da maioria dos livros de Clarice Lispector, e, para ficarmos num exemplo fora do Brasil, de Gabriel García Márquez com sua novela Ninguém escreve ao coronel.
No caso do livro de Alexandre Soares, ele é bom não porque se afasta da “nossa realidade” ou porque crie um universo “sem conexão nenhuma com o real”, em seu caso isento de ingredientes e problemas da “dura vida nacional”, mas porque o autor cria e nos convence de um universo ficcional, que, embora em seu caso seja inverossímil, é perfeitamente convincente. O autor é bem-sucedido em sua empreitada por conseguir sustentar sua história, isto porque a faculdade dominante de um (bom) romancista, creio, é a construção de universos convincentes (baseados ou não em nossa realidade imediata), a exploração da imaginação e a forma (linguagem) que ela toma em seu texto. No caso da prosa, tudo depende, claro, em como o autor vai nos contar sua história e dotar suas personagens de força capaz de firmar sua história, de deixá-la “de pé”. É assim que um autor consegue seduzir seus leitores, como fazem Jorge Amado, Graciliano Ramos e João Guimarães Rosa (cujas algumas histórias tinham jegues), todos excelentes escritores que (re) criaram a realidade nacional. Isso me lembra ainda um escritor como Italo Calvino, com suas “cidades” pouco prováveis, mas extremamente reais de tão “palpáveis”, algo sempre desafiador (e necessário) para todo bom ficcionista, como, aliás, é o caso de Alexandre Soares, que domina o corpus literário em Morte e vida Celestina.
Por sinal, qual é a realidade deste seu romance? Ela se passa na fictícia Quaresmeira Roxas, pedaço do paraíso ocupado por ricos e grã-finos, espécie de elite cultural e econômica do céu, gente da mais alta estirpe, mas igualmente esnobe e pedante. É nessa cidade onde Suceratus, um velho que tem o hábito de dar bengaladas nas pessoas, é “assassinado”, ou melhor, reencarnado. Com a sua morte, descobre-se que, assim como ele, vários espíritos foram forçados à reencarnação, ou seja, reconduzidos à condição fetal. Para descobrir o criminoso, eis que surge o vaidoso Dundas Aquino (que trata a todos usando diminutivos), e seu assistente, o anjo Ili-Abrat. A morte de Suceratus vai levá-lo a uma seqüência de outras, cujas vítimas têm em comum pais publicitário, consultor de empresa, cantor de pagode, locutor esportivo etc. A história gira em torno do crime de Suceratus e das peripécias do narrador em desvendá-lo. Mas, percebe-se, a pretensão do autor não é escrever “mais um romance policial”, no sentido de tramas vide Agatha Christie, Conan Doyle ou um George Simenon. Ao contrário. Apesar de o livro manter até o fim o mistério, o narrador procura, sobretudo, manejar (e satirizar) clichês e gags dos romances policiais, como o “policial burro”, além de explorar os (falsos) suspenses do gênero:
“— Não pode ser um criado?
— Se fosse um criado seria um clichê horrível. Prefiro encontrar uma solução linda, mas errada, a encontrar uma solução tão estúpida.
— Fale sério, Dundas, quantos romances policiais você já leu em que um criado é realmente o criminoso?
— Não importa, é muito feio. Também, se foi um criado, desisto.”
O tom do livro é sempre o do humor. Ora é irônico, sarcástico, ora faz cínicas comparações entre a realidade do paraíso e a do Brasil, sem dispensar fartas doses de veneno, quando se trata, por exemplo, de ressaltar o mau gosto dos que gostam de pagode e assistem a programas de auditório. Às vezes o uso do humor chega a ser exacerbado, o que prejudica em parte a tipologia de seus personagens, tendo em vista os gracejos de um narrador (alguns impagáveis, outros nem tanto) sempre impiedoso, irreverente e amoral. Dada a essa característica e à grande profusão de referências e citações um tanto sofisticadas, fica complicado classificar o seu livro como voltado para o público infanto-juvenil. Isto porque, vale lembrar, embora haja uma “aura”, um clima e nonsense de fábula, há referências culturais, políticas, intelectuais e sobre sexo que dificilmente podem ser associados ao gênero infanto-juvenil. O protagonista Dundas é infantil, mas o seu leitor dificilmente será, isto porque ele é um adulto que morreu e, uma vez morto, decidiu assumir a forma de uma criança para ser tratado como criança e bajulado pelos seus papá e mamã, como ele os chama. Dundas tem a vivência e a inteligência de um adulto, mas não sabe sequer atravessar a rua sozinho. É birrento, mimado e gosta de falar com diminutivos, o que o infantiliza ainda mais: “— Subtil? — estranhou Vondinha.
— Eu gosto com bê. É mais bonitinho — eu disse, coçando a barriguinha de Noel Coward”.
Desfilam pelo livro uma grande profusão de personagens que vão de sua esposa, “a deliciosa Vonda”, como Dundas repete à exaustão, a outros, cujos nomes mereceriam uma análise à parte. Há a velha atriz Lady Sannox, o lacaio Asdrúbal, o foxterrier Noel Coward, além de Kiki de Montparnasse, dentre tantos que revelam a criatividade do autor e de resto tratam-se de um evento à parte, um plus cômico na construção (e leitura) do seu livro.
O primeiro romance do autor, A coisa não-Deus (Editora Beca), por sinal, também é ambientado na fictícia Quaresmeira Roxas. Assumidamente infantis, ele já lançou os títulos A origem dos irmãos Coyote e Na torre do Tombo, pela Editora Global. Com Morte e vida Celestina, o jovem Alexandre Soares Silva provou ser hábil na construção de uma realidade e criou um romance de difícil classificação, mas que se lê de uma tacada só.