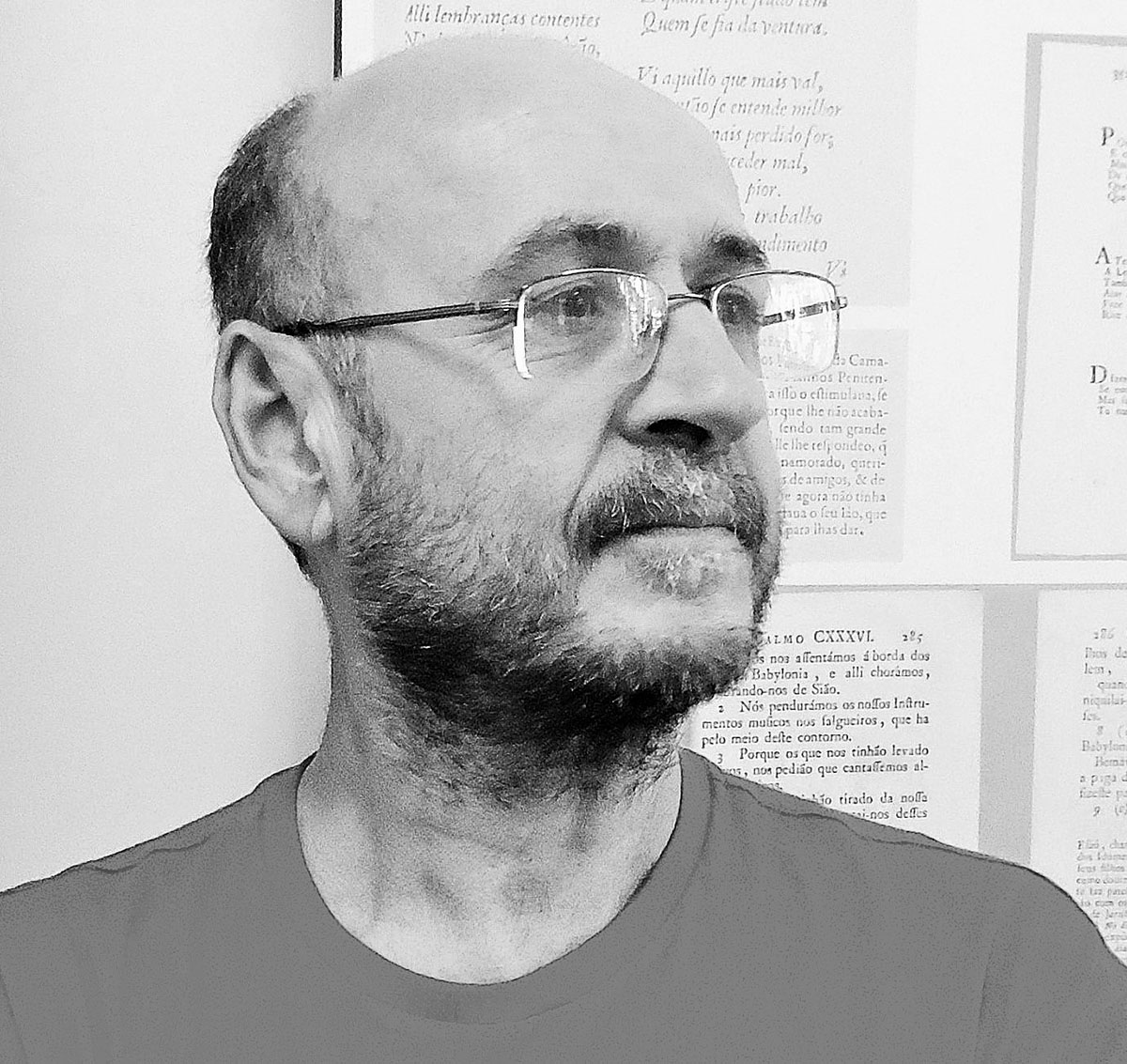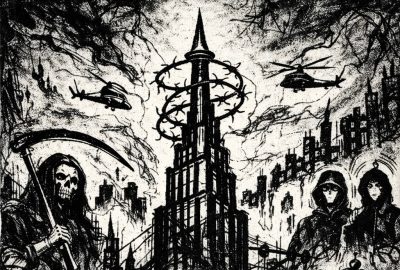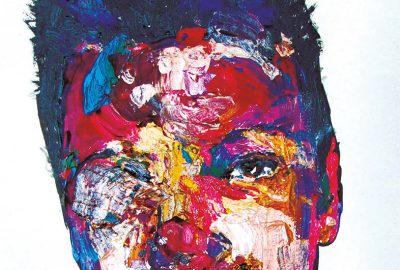I
O que o dia tece
a noite esquece.
O que o dia traça
a noite esgarça.
De dia, tramas,
de noite, traças.
De dia, sedas,
de noite, perdas.
De dia, malhas,
de noite, falhas.
II
A trama do dia
na urdidura da noite
ou a trama da noite
na urdidura do dia
enquanto teço:
a fidelidade por um fio.
III
De dia dedais.
Na noite ninguém.
IV
E ela não disse
já não te pertenço
há muito entreguei meu coração ao sossego
enquanto seu coração balançava em viagem
enquanto eu me consumia
entre os panos da noite
você percorria distâncias insuspeitadas
corpos encantados de mulheres com cujas línguas
estranhas eu poderia tecer uma mortalha
da nossa língua comum.
E ela não disse
no início ainda pensei em você
primeiro como quem arde diante de uma fogueira
apenas extinta
depois como quem visita em lembrança a praia da infância
e então como quem recorda o amplo verão
e depois como quem esquece.
E ela também não disse
a solidão pode ter muitas formas,
tantas quantas são as terras estrangeiras,
e ela é sempre hospitaleira.
V
A viagem pela espera
é sem retorno.
Quantas vezes a noite teceu
a mortalha do dia,
quantas vezes o dia
desteceu sua mortalha?
Quantas vezes ensaiei o retorno —
o rito dos risos,
espelho tenro, cabelos trançados,
casa salgada, coração veloz?
A espera é a flor que eu consigo.
Água do mar, vinho tinto — o mesmo copo.
VI
E então se sentam
lado a lado
para que ela lhe narre
a odisseia da espera.
Esse poema, publicado em A vida submarina (2009), primeiro livro da premiada mineira Ana Martins Marques, vem sendo objeto de muita atenção da crítica de poesia, tendo um lugar de destaque na dissertação Nas malhas da espera: o retecimento de Penélope na poesia de Ana Martins Marques, de Bruna Pereira, defendida em 2019 na Universidade Federal de Alagoas. Entre os artigos, destaco Tecidos de amor e de linguagem: a odisseia de Penélope na poesia de Ana Martins Marques, de Anélia Pietrani (2013). A releitura do mito, em chave feminista, e o engenho metalinguístico se unem em todos os estudos acerca do poema que, no livro, embora em blocos de I a VI, aparece entremeado a outros poemas (o que já é uma alusão ao gesto de costurar, à noção de fragmento e aos mecanismos de lembrar e esquecer). Além dessas seis “estrofes”, a presença de Penélope e, em sentido lato, de escrita, se disseminam ao longo do livro — e, ademais, de sua obra. Ana Martins Marques pertence a esse grupo de poetas que, desde pelo menos os anos 1980, se caracteriza pela formação universitária: ela é, pela UFMG, mestra em João Gilberto Noll (2003) e doutora em “fotografia e literatura” (2013). Em A teus pés (1983), Ana Cristina Cesar selou, simbolicamente, um hiato entre a geração marginal e a pós-marginal: “Agora eu sou profissional” — verso de que Flora Süssekind se apropriou para arrematar seu importante Literatura e vida literária (1985).
Como se sabe, Penélope é uma personagem de Homero (este mesmo um misterioso autor-personagem), que ficou célebre por simbolizar a paciência, a astúcia e a fidelidade (os estudos acerca do poema vão iluminar como Ana Martins Marques também simboliza, na figura de Penélope, uma pioneira da escrita, do texto, considerando, claro, a metáfora de costura a que se dedicou anos a fio). Em síntese, seu amado marido, Ulisses, sai em viagem e só volta, após guerras e casos “extraconjugais” com Circe et alii, vinte anos depois a Ítaca — e mata, revelada a sua identidade, todos os pretendentes que, há anos, incrivelmente, esperavam a bela Penélope terminar de tecer uma mortalha para o sogro Laertes. (Tal sudário jamais finalizado se assemelha à história quase sem fim de outra personagem mítica, Sherazade, sempre relida pela sensibilidade contemporânea como metáfora não só da sedução de uma boa narrativa, mas da inteligência da mulher contra a opressão machista-patriarcal.)
É de tudo isso que, outrora, ocorreu e, agora, ocorre que o poema fala. Em seu bloco I, os dísticos se entramam de modo a, feito um pêndulo, encenarem a passagem do tempo: dia, noite, dia, noite se repetem. Durante o dia, contudo, as atividades dizem respeito a tecer, traçar, tramar sedas e malhas; à noite, sozinha, a mulher se dedica a esquecer e esgarçar em meio a traças, perdas e falhas. Penélope joga, atua como num teatro, para iludir sua plateia (no caso, os alvissareiros pretendentes a substituir o marido ausente). Ana realiza o jogo em linguagem, criando paralelismos que acionam conflitos sintáticos, sonoros e semânticos: de dia, a paciente esposa “traça”, e o verbo sinaliza, no contexto, que ela desenha ou risca algo, como quem costura, mas também esboça ou imagina, como quem pensa um plano. O dístico seguinte desmonta e amplia ambos os sentidos, quando diz que, “de noite, traças”, pois agora o termo parece sugerir, substantivo plural, o inseto devorador de, sobretudo, papéis e tecidos — o poema e a mortalha. O ritmo regular e as rimas (sobretudo) consoantes fazem parecer que há uma pacífica harmonia, quando o teor do que se diz é, na verdade, dramático.
Os dísticos do bloco II mantêm a toada dia/noite, indicando a passagem incessante do tempo: tempo de ausência do varão em viagem, tempo de espera da esposa bela e fiel, tempo que a esposa tem para urdir a trama que, circularmente, faz render dia e noite. Estar “por um fio” é estar no limite — literal e simbólico: feita a mortalha, Penélope deverá cumprir a palavra aos interessados interesseiros e escolher um a quem doravante se fiar. A imposição de uma subalternidade à mulher, vê-se, vem desde o mito, desde a Grécia, desde séculos. Daí, a importância dessa personagem e de sua transformação ao longo da história. Metamorfose que se insinua no poema, ponto a ponto, como no bloco III, em que a poeta insere na digressão da personagem uma alusão ao episódio (que Penélope não poderia conhecer na solidão do aposento) em que Ulisses, para engambelar e embebedar o ciclope Polifemo, diz chamar-se Ninguém (“Outis”, em grego transliterado): “De dia dedais./ Na noite ninguém.”. A estratégia da ambivalência de Penélope diante dos aspirantes a marido se estende às muitas palavras e expressões polissêmicas: aqui, “dedais”, substantivo plural, remete ao objeto que protege o dedo na costura; como verbo da segunda pessoa, “dedais” remete à ação de denunciar alguém, quiçá o próprio Odisseu, ausente em casa mas nomeado do mesmo modo — “ninguém” — na saga homérica e no poema em pauta.
Embora muito desgastada, não há como fugir, em relação a Penélope (personagem-mito e poema), da lembrança de que “texto é tecido”. Theodor Adorno, em Minima moralia (1951), já pensava essa conexão: “Os textos assaz elaborados são como as teias de aranha: densos, concêntricos, transparentes, bem arquitravados e firmes. Absorvem em si tudo quanto ali vive. As metáforas que esquivamente passam por eles convertem-se em presa nutritiva”. Os versos de Ana Martins Marques atraem muitas metáforas que vão nutrir o poema de constelações de sentidos que se entrecruzam. O bloco IV, o mais longo, em uma só estrofe de 21 versos, fala de como a intensidade de uma fogueira se extingue, de como a memória se torna esquecimento, de como um coração encontra “entre os panos da noite” a morada, de como Penélope devolve a Ulisses a solidão que dele recebeu, sabedora, inclusive, que, enquanto ela esperava, o comandante conhecia “corpos encantados de mulheres” — em prática que se perpetua desde então: a figura tacitamente aceita do homem garanhão versus a figura publicamente condenada da mulher adúltera.
Antes das estrofes-blocos finais de Penélope, poema do século 21 de Ana Martins Marques, vale registrar brevemente um conto do século 19 de Machado de Assis, Noite de almirante, publicado em Histórias sem data (1884). A narrativa conta a relação amorosa entre Deolindo e Genoveva: ele, marinheiro de baixo escalão, deverá partir em viagem, e os enamorados se fazem juras eternas de amor. Quando volta, contudo, dez meses depois, encontra a amada com outro, um mascate chamado José Diogo. Ela está costurando um corpete azul (nada de mortalha…), quando o marinheiro chega, pede satisfação e pergunta: “Mas, Genoveva, você não jurou que me amava?”, ao que ouve: “Quando jurei, era verdade”. A paródia destronadora que Machado faz de Ulisses é evidente: Genoveva — cujo nome em alemão significa “aquela que tece” — é uma espécie de Penélope moderna, autônoma, dona de si e do próprio corpo, da própria história. Pertence a essa linhagem de Genoveva a Penélope de Ana Martins Marques, como se desenha no bloco V: “A viagem pela espera/ é sem retorno”, ou seja, o tempo em que se espera é o tempo que se trama, se rumina, se pensa, se decide é sem volta. Em mais um lance de plena ambivalência, o poema nos faz duvidar: a quem pertence a mortalha que Penélope costura: a Laertes ou a Ulisses?
O epílogo do poema (bloco VI) é magistral: “E então se sentam/ lado a lado/ para que ela lhe narre/ a odisseia da espera.” — embora os versos estejam em terceira pessoa, fica sinalizado que, agora, a narrativa virá de outra voz, virá dela, de Penélope, da mulher, e que, ademais, a odisseia da espera que Penélope experimentou foi também uma “viagem extraordinária”, tão extraordinária que a transformou para sempre. O sutil gesto de se sentarem “lado a lado” já afirma que, diferente do final de Homero (em que Ulisses reassume o lugar de todo-poderoso da casa), agora não há mais submissão. Roland Barthes, em Fragmentos de um discurso amoroso (1977), diz que “o discurso da ausência é sustentado pela Mulher: a Mulher é sedentária, o Homem é caçador, viajante: a Mulher é fiel (ela espera), o homem é conquistador (navega e aborda). É a mulher que dá forma à ausência: ela tece, e ela canta”. Se, como quer o semiólogo, tradicionalmente o homem é quem parte e a mulher é quem fica, a Penélope contemporânea de Ana Martins Marques reinventa o mito para que a história se reescreva: ela já teceu mortalha, já teceu corpete, agora tece poemas, em que narra a odisseia para a qual poucos, pouquíssimos homens têm ouvido — sem cera — para ouvir.