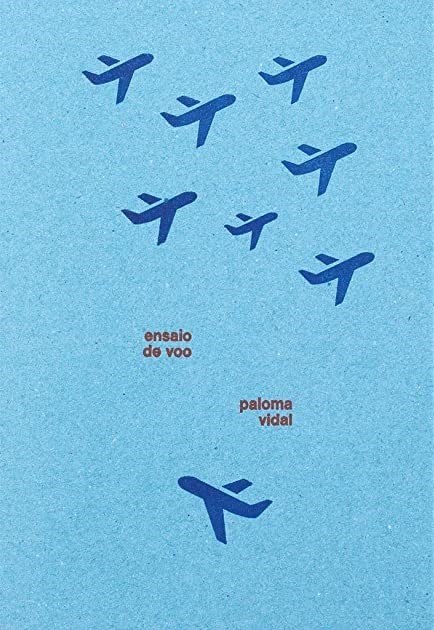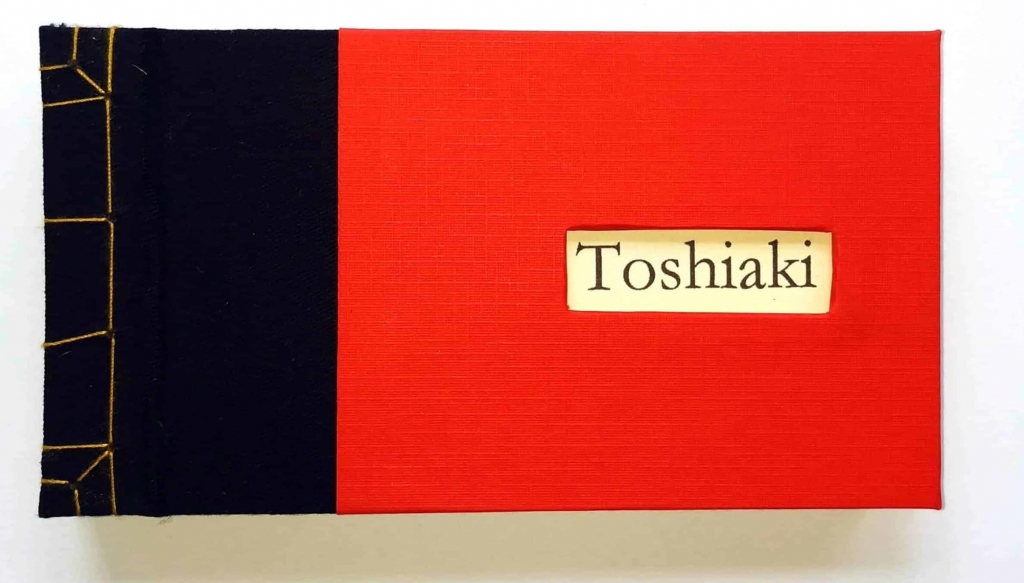“Quantas maneiras distintas de existir… Entre o ser e o não ser, quantas gradações”, escreve Peter Pál Pelbart no ensaio Por uma arte de instaurar modos de existência que “não existem”. Nesse território das existências limítrofes, gostaria de tecer alguns comentários sobre três livros de autores brasileiros, publicados em edições artesanais, com tiragens pequenas: A órbita de King Kong, de José Luiz Passos, Ensaio de voo, de Paloma Vidal (ambos pela Quelônio), e O senhor Toshiaki, de Eduardo Silveira (editado pelo autor, mas prestes a sair pela Caseira).
Antes, convido ainda à reflexão outra ideia que me interessa, nos planos estético e ético (quem sabe a vida pode ser uma coincidência dos dois), e que me parece pertinente, aqui: o fracasso como valor positivo e afirmativo, medrando nas bordas do palco principal. Em seu livro Afetos, relações e encontros com filmes brasileiros contemporâneos, Denilson Lopes aproxima fracasso e alumbramento (o “sublime no banal” de Manuel Bandeira) ao comentar o filme Estrada para Ythaca: dor que não precisa se estilhaçar em melodrama, alegria que é possível mesmo que precária, e talvez justamente por isso. No website do coletivo Alumbramento, a que eram vinculados, os realizadores do filme se definiam como “um grupo de amigos que se juntaram por acreditar que o fazer artístico é uma luz poderosíssima capaz de modificar o mundo no qual vivemos. Não modificar no sentido de revolucionar, mas no sentido de viver nesse mundo e ainda ser capaz de fazer o que se quer fazer” (grifo meu).
Denilson Lopes aponta a existência, no filme, de um “espaço de afeto e — por que não dizer? — de beleza que é irredutível, não colonizável, e isso nada tem de esteticismo, arte pela arte, arte como religião. Sem grandes perspectivas, o fracasso (…) se constitui menos numa senha de desistência e mais de um frágil fazer”. O que acontece se o jovem artista “escolher continuar, numa frágil margem, sem muita segurança, sem medo do fracasso nem convicção a não ser continuar um pouco mais que seja”?
Pensar o fracasso como valor assertivo numa sociedade que não oferece alternativas ao sucesso a qualquer custo, e sucesso sempre indissociado de mercado, é uma bem-vinda heresia. Imagino esse “frágil fazer” como um gesto de recolhimento — um sinal positivo de menos, por assim dizer. Quando as vidas se legitimam pelo frenesi do consumo e do descarte de “sucessos” e se reafirmam produzindo o máximo possível de barulho (e isso a cada instante, já que nenhuma experiência parece muito longeva), interessa-me a potencialidade desse fracasso — como constatação de limites, pessoais ou coletivos —, da vulnerabilidade, do murmúrio que se ouve nas margens, nas bordas, enquanto algum megaespetáculo retumba na cena principal.
Recordo algumas palavras do prefácio de Kyle Gann à edição comemorativa do cinquentenário do livro Silence, de John Cage: “Nenhum aspecto da música de Cage, suspeito, ofendia tanto as pessoas quanto o que era percebido como uma deliberada abnegação das ambições que se esperava que um compositor nutrisse”. Penso na serenidade mística de uma obra como Litany for the Whale, poucas notas entoadas por duas vozes sobre um colchão de silêncio. Viver nesse mundo e ainda ser capaz de fazer o que se quer fazer. Não falo de delicadeza — não gosto dessa palavra, por sempre me debater com seus sentidos (elegância, fragilidade, civilidade, debilidade, primor, argúcia?). Mas dou voltas às palavras modéstia, sutileza.
Tema estranho
E com elas abro o livro A órbita de King Kong, de José Luiz Passos, um breve relato da viagem espacial de um chimpanzé. Meu exemplar é da primeira reimpressão de duzentos exemplares. Belamente ilustrado por Raquel Barreto e costurado à mão, o livro tem texto composto em linotipo, títulos em tipos móveis. Enquanto boa parte do mercado editorial espera que o escritor brasileiro explique o Brasil, para melhor vender lá fora, e enquanto recomenda que se escrevam romances com tantas páginas sobre os temas x ou y, deparamo-nos com um pequeno caderno de capa preta (uma caixa preta?) que fala de animais alistados na corrida espacial, desde o início da Guerra Fria — moscas-das-frutas, macacos, cachorros, gatos, tartarugas, sapos. E um chimpanzé, em especial.
A órbita de King Kong aborda um tema estranho às prementes preocupações do Brasil e do resto do planeta. Mas me parece duma relevância que vai tão além das nossas circunstâncias. Não é preciso falar do nosso tempo e do nosso mundo para falar do nosso tempo e do nosso mundo. De que vale, do contrário, a literatura?
Lemos: “Naquela manhã, no sul da Flórida, um chimpanzé de cinco anos de idade, apelidado de Ham pelos seus cuidadores e de Chop Chop Chang pelo pessoal do apoio técnico, sentou-se para tomar um café da manhã com papinha de bebê, leite condensado, vitaminas e metade de um ovo cozido. Em seguida, esse King Kong de 17 quilos, risonho, viajou a bordo de uma cápsula espacial da NASA, a quase 260 quilômetros de altura, voando a 9.400 km/h, submetido a uma pressão quinze vezes maior que a força da gravidade, e se tornou o primeiro hominídeo a voltar vivo do espaço”. Sobre isso trata, fundamentalmente, o livro. O treinamento de Ham, feito à maneira clássica, via recompensa e punição (com eletrochoques). A burocracia dos números que o cercam e constituem. Ham é “válido” só enquanto engrenagem bem azeitada de uma máquina, mesmo quando ganha apelidos carinhosos.
A órbita de King Kong é um livro conciso, preciso, e tem uma beleza estranha e sóbria, algo espectral, sobretudo quando experimentamos, por exemplo, o espaço, junto com Ham: “Uma imensa sensação de paz toma conta de mim. Estou no meio de um salto” (ecos da litania de John Cage à baleia). E vai ao caroço de uma reflexão sobre o que é, afinal de contas, estar vivo, e os direitos que nos outorgamos sobre a vida do outro. Entre parênteses: não custa lembrar, em tempos de batalhas fundamentais contra o racismo, o sexismo e a xenofobia, que o especismo (ou seja: a crença na ideia de uma espécie animal tem preponderância sobre a outra) é mais uma vergonha moral. Mas não há, em A órbita de King Kong, voz autoral apontando o dedo. José Luiz faz literatura, não panfleto.
À deriva
É também sobre estar de certo modo à deriva no espaço que escreve Paloma Vidal em Ensaio de voo. A palavra ensaio indica o que está em processo, o que se sugere e arrisca: tentativa, estudo, exercício, reflexão. Uma possibilidade de narrativa. Ensaiar um voo. Um ensaio que se escreve a bordo de um voo. Tenho o exemplar número 23 de uma tiragem de cem exemplares numerados. O texto é impresso em linotipo, a capa em clichê tipográfico. Encanta-me o nome da fonte utilizada: Grotesca. (Confiro a fonte usada em A órbita de King Kong: chama-se Life.)
Ensaio de voo soa no tom do desamparo. Num avião, a duas horas da aterrissagem em São Paulo e sozinha numa fileira de três assentos, a narradora tem pressa em escrever, e faz isso no bloco de notas do celular. Na deriva desse voo, há um par de leituras inacabadas, romances sobre mulheres que partem rumo a outros lugares do mundo, sem saber ao certo como será essa nova vida. Ensaiam voos (cegos?). E há a presença, em pensamento, da irmã que foi embora do Brasil em 2016: “cada vez que penso na viagem dela me ocorre a imagem do salto no vazio”.
Estamos, com todas essas mulheres, numa instância “entre”, num lugar e num tempo que nos parecem frágeis (ou mesmo artificiais, como é o caso do avião) mas que são, na verdade, apenas outros. E o desamparo pode ser, também, liberdade — “uma liberdade que desconheço, da qual me afastei, porque fui me colocando na vida em situações em que ela não pudesse estar disponível para mim”, escreve a narradora, em suas reflexões sobre essas mulheres viajantes.
Amor e dedicação
Disponibilizar a vida, disponibilizar-se a ela. O senhor Toshiaki abre com uma epígrafe de Kazuo Ohno, o dançarino japonês de butô: “Viver a vida — de modo largo e breve,/ estreito e longo, largo e longo,/ estreito e breve… há de tudo”. Escrito, ilustrado, editado, costurado e montado artesanalmente por Eduardo Silveira, esse livro de algumas dezenas de páginas não numeradas (que resisto à tentação de contar) reverbera amor, cuidado e dedicação. Faz pensar num outro tempo, também, no sentido musical da palavra.
A primeira página traz somente a frase: “O Senhor Toshiaki não é um imigrante japonês”. Uma rasteira. O que mais esperávamos que ele fosse, armados de clichês até os dentes? Viramos a página. “O Senhor Toshiaki ainda chora pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.” Não é imigrante japonês, mas chora pela Segunda Guerra? Mas quem é ele, afinal? Nas páginas seguintes: “O Senhor Toshiaki é um colecionador de pequenos gestos”. “O senhor Toshiaki usa óculos.” “O Senhor Toshiaki tem um corpo rígido. Ele não sabe dançar.”
Apesar dessa última informação, é de uma dança que participamos com esse senhor. Volto a Kazuo Ohno: “Não é importante entender o que eu faço; talvez seja melhor que não entendam, mas simplesmente respondam à dança”. Neste livrinho caligráfico, rarefeito, o Senhor Toshiaki vai aos poucos se ensaiando, e essa é sua história, personagem que jamais seria possível apreender na íntegra em dezenas ou centenas de páginas — sempre haveria uma a mais. Sempre haveria algo a mais a dizer sobre ele, ou sobre mim, ou sobre você.
Ele é uma existência inacabada: no es sino bruma, como certo passante ao olhar de Octavio Paz. “Existir como possível, em potência, ou prestes a emergir ao lado do atual, ou existir balbuciantemente abaixo de um limiar de integridade,” escreve Pelbart. O processo de se fazer, para o Senhor Toshiaki, nunca chega ao fim. Personagem modesto, capaz de sobreviver em pinceladas de si mesmo. Assim como, de resto, o personagem do chimpanzé Ham (no fim das contas, o que efetivamente temos condições de saber dele?). Assim como as mulheres do ensaio de voo de Paloma Vidal, aves migratórias, dotadas de uma coragem “que tem a ver com contradizer o mundo”.
Com o “frágil fazer” dessas narrativas, penso no sinal de menos como uma opção não só válida mas desejável, contraponto ao excesso que tantas vezes nos soterra e imobiliza. Se não é nem pretende ser da ordem de grandeza de uma revolução, esse gesto redescobre, pela contramão, a dignidade de estar neste mundo e conferir a ele (este mundo, este estar) algum sentido. Por mais modesto e marginal. Porque modesto e marginal.

A órbita de King Kong
José Luiz Passos
Quelônio
72 págs.