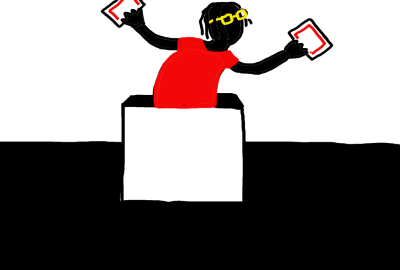Reformar a casa pode ser uma experiência existencial — desde que se esteja mais atento aos pensamentos que à poeira de gesso. A companhia de alguns livros específicos também ajuda a fertilizar os dias caóticos: eu havia escolhido três volumes para a quinzena de folga, planejada em torno de uma reclusão heroica, ao lado de pintores e pedreiros. Enfurnada num dos quartos enquanto o mundo se acabava no restante do domicílio, comecei agarrando Só garotos. A história de Patti Smith e Robert Mapplethorpe foi um modelo punk de sobrevivência: um alívio saber que se pode existir (e criar) em meio à desordem.
Enquanto devorava a biografia do casal, recordei as fotos de Mapplethorpe que vi expostas, ambas em Paris, quatro anos atrás. Até então, eu não tinha digerido bem a ideia de que o mesmo artista que iluminava flores com delicada sugestão erótica chegava às raias do grotesco em imagens de sadomasoquismo gay. Pois o seu percurso de vida, se não explicou, ao menos pôde me indicar os caminhos complexos na origem dessas obras.
Fiquei admirando ainda mais a Patti, por tudo o que teve de enfrentar — e por seu envolvimento tão humano com todas aquelas pessoas-ícones da Nova York de décadas atrás. Em vários momentos, parei para escutar as canções dela no youtube: apesar da interferência acústica de uma furadeira, creio ter me transportado para a sua atmosfera.
Passei para os contos de O. Henry na noite em que dormi no chão da sala (pois agora era o meu quarto que estava em obras). A sua ironia e sagacidade — apesar dos costumes incrivelmente datados, de uma sociedade que talvez me fizesse espirrar com tanta poeira (não estivesse eu já imunizada, àquela altura do campeonato) — fizeram a minha distração.
Em horas mais solenes, como a do café pelo meio da tarde, eu pegava o Da poesia, reunião dos livros poéticos da Hilda Hilst. Avancei bastante no volume, mas tomando o cuidado de não terminá-lo: é injusto ler poesia como se lê prosa. O ritmo tem de ser outro, o mesmo passo tranquilo que aplico ao contemplar as peças num museu. Preciso ver os detalhes da composição, considerar seu efeito no espaço, sua presença. Com a prosa, tudo pode ser mais fluido — é um passeio no estilo dos que faço descendo à beira-mar: fico atenta ao movimento das ruas tanto quanto à paisagem: é o conjunto que me atinge, com sua dinâmica.
Hilda esperou, portanto, na cabeceira (eu voltava a ter uma, assim como tornei a dormir na minha própria cama). Decidi que merecia a releitura de um ensaio, Um teto todo seu, que me trouxe a riqueza-desperdício típica dos grandes autores. Aliás, por falar em reler, eu me convenci de que esta pergunta basta para avaliar a qualidade de um artista: quero estar com sua obra de novo? Ou uma vez só já me deixou farta? Virgínia Woolf, óbvio, merece a máxima assiduidade.
Esta passagem sobre verdade e ilusão, por exemplo, era um belíssimo consolo para quem se via em meio a um vendaval doméstico:
Qual era a verdade sobre aquelas casas, por exemplo, agora embaçadas e festivas com suas janelas vermelhas ao anoitecer, mas cruas, vermelhas e esquálidas às nove horas da manhã? E os salgueiros, o rio e os jardins que seguiam para o rio, agora oscilantes sob a névoa furtiva, mas dourados e vermelhos sob a luz do sol — qual era a verdade, qual a ilusão que os cercava?
Qual era a verdade sobre o meu apartamento e o meu estilo de vida? Eu começava a enxergar as possibilidades secretas de uma casa, e elegia prioridades: espaços vazios, iluminados, abertos, com muito vento despenteando as cortinas. Quero, sim, luz entrando com violência, queimando com lento vigor a lombada dos livros, empalidecendo fotos e mobília. Quero o tempo a se instalar nesses objetos que, em sua maioria, sobreviverão a mim. Pois que ao menos envelheçam! Que sofram gastos, ganhem essa pátina das coisas manuseadas — que saiam da postura rígida que se confunde com zelo ou preservação, mas em realidade (descobri) é puro medo de movimento.
Quando as peças saem do lugar, nós nos forçamos a fazer algo de improviso. E as soluções — apressadas que sejam — têm sua fagulha criativa. Eu aproveitava as prateleiras e gavetas expostas para desenterrar restos de uma antiga colonização amorosa: detritos que enfiei longe da vista mas persistiam ali, enviando algum tipo de energia desnecessária.
Livrei-me de tudo.
Fui tomada pela fúria das donas de casa em faxina, mas a ação se deu de forma sobretudo íntima. Nenhuma das palestras budistas que frequentei, nem os cânticos de Hare Krishna ou o retiro com os seguidores de Osho, nada disso me trouxe a revelação didática, clara e transformadora que alcancei em duas semanas de acampamento residencial, num cenário em certos momentos semelhante a Aleppo. Como resultado, tornei-me uma resistente com ideias um tanto radicais. Anotei várias num diário de bordo (que foi ao mesmo tempo uma espécie de âncora mental), e percebo que a mais prática delas — apesar de expressa de modo um pouco obscuro — é a que promete: Não arrastarei meus fósseis para o futuro, nem orquestrarei uma dança de múmias; tudo o que é vestígio deve se expandir, ou então se extinguirá. Traduzindo: muitos objetos para o lixo, sem remorso.
Quinhentas libras por ano, uma tranca na fechadura, tempo e solidão — disse Woolf, na sua lista de quesitos indispensáveis ao ofício de escritora. Uma certa bagunça com grande capacidade de renovação — digo eu. Porque tudo ao final é liberdade, e essa é a única coisa que importa.