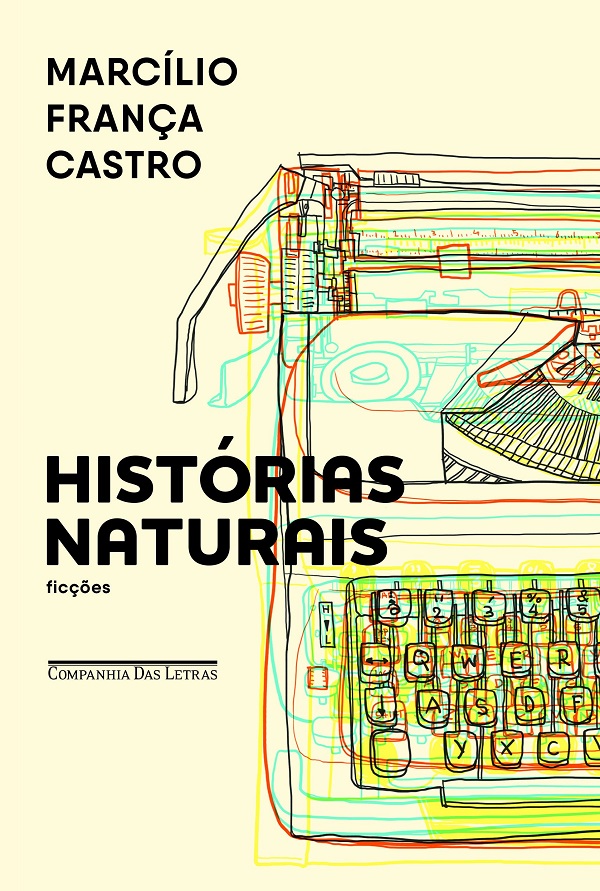Marcílio França Castro está com um novo, e terceiro, livro de contos, Histórias naturais. São 31 narrativas, que ele prefere chamar de ficções. “Não tenho nada contra o termo conto, mas o fato é que essa fórmula, e a tradição construída em torno dela, me parece cada vez mais tímida, e de certo modo incapaz de designar as várias possibilidades da ficção curta. […] Chamar esses textos de ‘ficções’ me parece mais apropriado, um alento também para o leitor”, diz o autor, em entrevista concedida ao Rascunho por e-mail.
Histórias naturais é dividido em duas partes: Coleções de papéis, a primeira, traz seis narrativas extensas — Roteiro para duas mãos, a mais longa narrativa, teve, de acordo com Castro, mais de 100 versões. “Dos quatro anos que levei escrevendo o livro, um ano foi dedicado ao Roteiro”, comenta. Já Histórias naturais, a segunda parte, reúne 25 textos, em gerais, curtos.
Castro conta que quase todas as ficções desta obra exigiram algum tipo de pesquisa: “Já disse alguma vez que, sem os recursos de pesquisa que a internet oferece, ia ser bem mais difícil escrevê-los. Isso não significa, porém, que tenham sido deflagrados pela pesquisa ou por alguma leitura. As citações, os detalhes biográficos e bibliográficos, as referências históricas, tudo isso aparece nos meus textos sempre a serviço da ficção. São elementos que respondem a um fio imaginativo, e é esse fio que impulsiona e conduz o texto”.
Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também se graduou em Letras e em Direito, o ficcionista faz observações a respeito de alguns dos textos de Histórias naturais, de acordo como ele, “livro mais aberto, no sentido de que a sua composição foi construída à medida que os textos foram surgindo. Foi um livro mais demorado, e a instabilidade dos meus afetos está mais presente nele”. Também menciona os seus dois primeiros livros de contos, A casa dos outros (2009) e Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse (2011) — vencedor do prêmio Clarice Lispector, da Fundação Biblioteca Nacional em 2012, e avisa que, a partir de agora, vai se dedicar a um romance — mas “sem abandonar os textos curtos”.
Ainda neste longo bate-papo, Castro, que nasceu em 1967 em Belo Horizonte (MG), onde vive, fala sobre futebol, tema do conto Aprendizado do jogo, conta que livros de gramática estão entre as suas principais influências/referências, comenta o impacto da internet em sua vida e em sua ficção e, já na primeira resposta, descreve como surgem os seus complexos textos literários que, em Histórias naturais, revisitam, e até recriam, sentimentos e memórias.
• Você escreve à mão, usa máquina de datilografia ou computador?
Acho que a única pessoa que conheço que ainda usa máquina de datilografia é o Armando Freitas Filho. Tenho duas em casa, uma Érika verde, presente do meu pai, e uma Remington, toda pesadona, que veio de um cunhado. Consegui reformá-las, e ambas funcionam bem, mas ficam lá apenas como relíquia, como lembrança do personagem que um dia inventei para elas. De minha parte, costumo fazer os primeiros rabiscos à mão. Tomo nota de tudo o que me interessa, e para isso uso cadernetas, envelopes, cupons de supermercado, qualquer papel ao alcance. Ultimamente tenho usado também o celular, mandando e-mails para mim mesmo. Vou acumulando esses rascunhos e, em algum momento, transcrevo para computador. A partir daí começo a trabalhar com versões. Imprimo uma versão, reviso, modifico, imprimo de novo. E assim até a exaustão.
• Roteiro para duas mãos, primeiro conto de Histórias naturais, apresenta um dublê de escritores. Há informações a respeito da biografia e de peculiaridades de alguns escritores, entre os quais Jack Kerouac, Hemingway, Bukowski e Paul Auster. Quanto tempo você levou elaborando e escrevendo o conto? E ainda: Roteiro para duas mãos é um conto ou uma novela?
O Roteiro é a narrativa mais extensa do livro. Ocupa 50 páginas. Conferindo meus arquivos de computador, vejo que foram mais de 100 versões do conto, desde os primeiros rascunhos (notas soltas, ainda embrionárias e sem articulação) até a versão publicada na revista piauí. Queria muito que um crítico genético viesse mergulhar nesses escombros um dia — provavelmente ele ia se esbaldar. Além da série digital, tem toda a papelada caótica que não jogo fora. Dos quatro anos que levei escrevendo o livro, um ano foi dedicado ao Roteiro, que exigiu muita pesquisa, muitas horas de espera. Para cada escritor que Alex Fraga, o personagem datilógrafo, ia dublar, fiz uma investigação minuciosa, em livros e também na internet. Essa foi para mim, sem dúvida, a parte mais divertida do processo. Sem querer, você acaba descobrindo coisas estranhas, extraordinárias. Mark Twain, por exemplo. Ele foi um pioneiro da máquina de datilografia na literatura, tal como Nietzsche foi na filosofia. Mas, além disso, ele se envolveu, junto com um amigo inventor, em um arrojado projeto tipográfico, um projeto megalomaníaco que o levou à ruína financeira e talvez à depressão. Ele e James Paige imaginaram uma máquina inteligente, uma máquina que pudesse substituir o homem em todas as funções editoriais, de escrita, revisão, composição. Uma máquina que, quem sabe, pudesse pensar. Seria então, aos olhos de hoje, uma espécie de computador, mas o que eles construíram foi um trambolho que tentava imitar os movimentos humanos, e jamais funcionou direito. É então excitante descobrir episódios desse tipo, porque de algum modo eles esquentam a imaginação. Agora, se o Roteiro é um conto ou uma novela, não me importa muito. Acho correto chamá-lo de conto, mas considero que se trata, antes de tudo, de uma narrativa ficcional. A forma surge junto com a história, conduzindo-a e sendo conduzida por ela.
Encontrar um olhar surpreendente sobre um objeto, descobrir nele ou a partir dele uma luz ou uma tradição inusitada, sem dúvida me parece que é um procedimento-chave nessas Histórias naturais.
• Como você define um conto? O que não é um conto?
Para mim, mais importante do que definir um conto, é saber o que esse termo evoca na cabeça das pessoas, o que imaginam quando abrem um livro com tal classificação. Uma narrativa curta, inventada, com enredo, personagens, e com um segredo que prende a atenção do leitor: apesar da versatilidade do gênero, é essa, em linhas gerais, a ideia mais comum. Não tenho nada contra o termo conto, mas o fato é que essa fórmula, e a tradição construída em torno dela, me parece cada vez mais tímida, e de certo modo incapaz de designar as várias possibilidades da ficção curta. Não me agrada, no processo de criação, definir de antemão, antes do primeiro rabisco, o gênero literário do que estou escrevendo. Sem modelo, sem amarras, o próprio texto vai descobrindo aos poucos a sua forma. Desse exercício, pode surgir, por exemplo, algo próximo de uma fábula, de um aforismo, de um conjunto de notas; pode armar-se a engrenagem de um ensaio, um relato, uma reportagem. Um comentário ou uma pergunta podem tornar-se um achado ficcional. E, claro, há sempre o caminho para um conto no sentido mais tradicional. Chamar esses textos de “ficções” me parece mais apropriado, um alento também para o leitor, e foi essa a minha opção na capa do Histórias naturais. Há aí, posso dizer, um gesto de libertação, um jogo que rompe com a barreira dos gêneros e que é um traço da literatura atual, sem ser, porém, uma novidade. Kafka, por exemplo, produziu relatos indóceis, esquivos, verdadeiras setas de fuga; Borges flertou o tempo todo com os escólios e as notas de rodapé. Se voltarmos lá atrás, na Antiguidade, compiladores como Solino, no século 3, ou Higino, pouco antes de Cristo, misturaram relatos, mitos e fábulas em compêndios que, lidos hoje, poderiam muito bem entrar no rol das ficções inclassificáveis.
• Teatro traz informações sobre artes cênicas, O método de Balzac é construído a partir de detalhes da biografia do escritor francês citado no título e A história secreta dos mongóis, título homônimo de um livro, faz alusão a Gêngis Khan. Esses três contos, ambos da primeira parte do livro, são extensos e, ao que parece, podem ter sido deflagrados por leitura e pesquisa. É isso mesmo?
No livro, quase todos os textos demandaram algum tipo de pesquisa, mesmo os mais simples. Já disse alguma vez que, sem os recursos de pesquisa que a internet oferece, ia ser bem mais difícil escrevê-los. Isso não significa, porém, que tenham sido deflagrados pela pesquisa ou por alguma leitura. As citações, os detalhes biográficos e bibliográficos, as referências históricas, tudo isso aparece nos meus textos sempre a serviço da ficção. São elementos que respondem a um fio imaginativo, e é esse fio que impulsiona e conduz o texto. O método de Balzac, por exemplo. Trata-se de um conto sobre a dívida, sobre a relação de um escritor com a dívida, e sobre como a dívida pode ser um motor para a literatura, uma doença necessária à criação. No conto, me apropriei da biografia de Balzac para tratar desse tema, e usei Balzac como personagem. Para mim, é fabuloso que Balzac tenha sido um endividado crônico, e sua vida, tão cheia de manias, de desequilíbrios de ordem financeira. Há algo de atravessado nessa história, algo que não interessa aos biógrafos tradicionais, ou simplesmente que eles não percebem, mas que para mim é o que há de mais luxuoso e perturbador. Minha ficção entra nessa fresta, toma um empréstimo • com Balzac e traça aí seu percurso oblíquo. A propósito, Balzac e eu nascemos no mesmo dia.
• Para que time você torce? Ou, antes disso: gosta de futebol? Frequenta estádios, confere pela televisão?
Sou torcedor do Cruzeiro, claro, time de Tostão e Dirceu Lopes, e depois de Nelinho e Joãozinho, o time que foi melhor do que o Santos de Pelé, e que tem, indiscutivelmente, o escudo e a camisa mais bonitos do país. Sempre gostei de futebol, e desde criança escuto jogos pelo rádio. Gosto da insanidade dos locutores. Quando estou calmo, acompanho também pela televisão. Mas tenho frequentado muito pouco o campo. No Mineirão, tiraram os ambulantes do entorno, os vendedores de latinha e churrasco, toda aquela comida festiva, aquela desordem anti-higiênica, magnífica. Não gosto de saudosismos, mas metade do prazer de ir ao estádio foi embora com eles. As partidas me parecem cada vez mais aborrecidas e entediantes, pobres de se ver. Se há algo que me irrita, é a padronização, a falta de criatividade. E é exatamente isso o que, já há mais de década, estamos importando, atrapalhadamente, do futebol europeu.
Não me agrada, no processo de criação, definir de antemão, antes do primeiro rabisco, o gênero literário do que estou escrevendo. Sem modelo, sem amarras, o próprio texto vai descobrindo aos poucos a sua forma.
• Aprendizado do jogo é um conto que trata do futebol, tema presente na ficção brasileira, seja por meio de contos de Sérgio Sant’Anna ou de um romance de Michel Laub, entre outras obras e outros autores. Acha que o tema poderia estar mais presente na literatura brasileira, uma vez o futebol é muito presente na vida dos brasileiros? E ainda: como surgiu este conto?
O Aprendizado do jogo surgiu de uma encomenda. Um amigo da UFMG, na época editor da revista Em tese, da Faculdade de Letras, estava preparando um número dedicado totalmente ao futebol, e me perguntou se eu não queria escrever uma ficção com o tema, que entraria na única seção literária do volume. Topei. A escrita desse texto me levou a pensar, primeiro, em como minha relação com o futebol, o modo como eu fruía e entendia o futebol, se deu, durante muito tempo, apenas por meio do rádio, pelas transmissões esportivas. Estou falando da minha infância, no meio da década de setenta, ainda em plena ditadura. Foi ao indagar o passado, ao pescar na minha memória remota os sinais guardados pela criança, que comecei a me dar conta de algo mais sutil, de certos ruídos que essa criança captava mas não era capaz de interpretar, ou das nuvens mais graves que ela não podia ouvir, porque vagavam por um ar interditado, e que ela só podia pressentir como silêncio. É claro que me refiro, aqui, aos signos da repressão política, e à possibilidade que vislumbrei de recuperá-los e costurá-los por meio da ficção. Sem dúvida, eles estavam lá — sua presença estilhaçada na voz dos locutores de futebol.
• Além da primeira parte, no qual os contos são mais extensos, Histórias naturais traz uma segunda parte, subdividida em cinco blocos, na qual os contos são curtos. Você juntou dois livros diversos para formar Histórias naturais? Ou o livro é originalmente uma obra com essa variedade de narrativas, inclusive do ponto de vista da extensão?
As primeiras histórias do livro surgiram em 2013; foram publicadas em março daquele ano no caderno Ilustríssima da Folha de S. Paulo. Era um conjunto de quatro ficções curtas, já com o título de Histórias naturais. Inicialmente, eu tinha um projeto de inventar ficções que de algum modo brincassem com a lógica estabelecida das coisas, subvertendo os códigos científicos e suas convenções. Em Desordem, por exemplo, texto que abre a segunda parte do livro, a entropia, uma lei física, é aplicada ao campo das palavras. A flor-de-cera parte de uma inversão na ideia de que a arte imita a natureza. Vários contos da segunda parte do livro foram feitos segundo essa premissa, se posso dizer assim. Aos poucos, porém, esse projeto foi sendo ampliado e refeito. Vieram as narrativas mais longas. O conto Roteiro para duas mãos, o mais extenso do livro, foi publicado em 2014 na revista piauí, onde no ano seguinte também saiu outra narrativa de fôlego, o Teatro. O título Histórias naturais sobreviveu, mas mudou de alcance e de sentido — junto com o livro, que ficou bem mais rico e encorpado. O arranjo em dois grandes blocos foi feito já no final, quando praticamente todas as ficções estavam prontas. Achei que as narrativas mais curtas ganhavam força quando organizadas em um só bloco, dando um tom mais enciclopédico para o conjunto. E foi dessa maneira que a coisa se estabeleceu. O livro I foi nomeado Coleção de papéis, com seis contos longos, e o livro II, repetindo o título geral, Histórias naturais, estas divididas em cinco seções, cada uma com cinco ficções curtas.
• Desordem é um diálogo com Um apólogo, de Machado de Assis?
Essa associação nunca me passou pela cabeça, e penso que as minhas embaraçadas linhas sem agulha não têm realmente nada a ver com a linha e a agulha do apólogo. Mas fico de qualquer modo satisfeito pelo simples fato de você mencionar Machado. Tenho com o mestre uma relação antiga, primordial, de formação. Admiro toda aquela elegância, o estilo enxuto, aquela soberba. Ninguém observou isso, e eu próprio não poderia dizer, mas acho que na minha sintaxe talvez tenha ficado algo das leituras que fiz dele.
• Sobre as nuvens é um texto que poderia ser entregue num avião como sugestão para um passageiro agir durante o voo?
Sabe que não é má ideia? As pessoas estão a 12 mil metros de altitude, em um ambiente hostil, protegidas por uma lata com apenas alguns centímetros de espessura (do lado de fora o corpo congelaria em segundos), e ainda assim não param de usar o cartão de crédito. Acho um tremendo desperdício, e quase uma ofensa à natureza, não aproveitar cada segundo da vista que uma viagem nas alturas, qualquer que seja, oferece.
• Alguns contos mais curtos, Lembrança de Nova York, Os sapatos, por exemplo, surgiram a partir de uma frase ou de uma epifania?
Encontrar um olhar surpreendente sobre um objeto, descobrir nele ou a partir dele uma luz ou uma tradição inusitada, sem dúvida me parece que é um procedimento-chave nessas Histórias naturais, e isso fica mais evidente na seção dos contos a que você se refere, dedicada aos objetos. Há neles uma condensação maior, uma força espacial que explora o lado material da escrita, talvez até aproximando-a das artes plásticas. Para que funcionem bem, essas breves ficções exigem um ponto de observação e uma entrada muito precisos. Lembrança de Nova York é um conto sobre o afeto, o afeto manifestado de forma extrema e com uma aproximação incomum. Acho que a ideia de escrevê-lo surgiu quando li uma reportagem sobre uma mulher que tinha se apaixonado pelo Muro de Berlim. Com relação a Os sapatos, devo dizer que a visão de um sapato solto, esquecido no tapete ou perdido no meio da rua, é sempre algo que me incomoda muito. Sempre vejo nessa cena não um calçado, um apetrecho do vestuário, mas uma parte desmembrada do próprio corpo humano. Seria isso uma epifania?
• Memento mori é um conto narrado em primeira pessoa, enquanto Dois amigos é em terceira pessoa. Poderia contar como e de que maneira você define/decide que um conto é em primeira ou terceira pessoa, inclusive citando alguns exemplos?
Não há, obviamente, uma regra para decidir, e muitas vezes as possibilidades se duplicam ou se embaçam. Pensando em termos bem gerais, creio que narrar em primeira pessoa, conceder ao narrador o direito de dizer eu, é ancorar a narrativa em uma subjetividade imaginativa e pensante. A primeira pessoa tem a vantagem de, a um só tempo, poder narrar, contar algo que testemunhou, e ainda refletir, comentar, indagar. É um ponto de vista poderoso, intenso, que comanda a narrativa e participa nela. Gosto de emprestar esse ponto de vista a personagens menores, subalternos. É o caso, por exemplo, de Alex Fraga, narrador do Roteiro, e do assistente de produção que conta a história do ator no conto Teatro. Em ambos os casos, há uma dimensão narrativa e uma dimensão ensaística fortes e entrelaçadas; os dois narradores exercitam sua liberdade de contar, de imaginar, de refletir, sem estarem presos a nenhum código de autoridade. Talvez seja bom lembrar que, em se tratando de ficção, a subjetividade desse narrador não tem, pelo menos a princípio, nada a ver com a do autor, muito embora muitos jogos biográficos possam surgir daí, como tem acontecido com frequência na literatura contemporânea. Outra é a situação do narrador em terceira pessoa. Costumo convocá-lo para aquelas ficções que pedem um olhar mais neutro, de fora, um olhar que oculte a si mesmo, como uma câmera de cinema. Nesse caso, a força da ficção está na cena apresentada à distância, na licença e no convite feitos ao leitor para que ele, sozinho, observe. É o caso, por exemplo, de A superfície dos planetas. Ali o narrador se esforça para que sua voz seja quase inaudível; ele não é personagem, não tem opinião, quer não existir. O que importa nesse conto é a paisagem, a atmosfera, o diálogo entre os três personagens no automóvel que sobe a montanha. Para concluir a resposta, eu poderia mencionar ainda um terceiro tipo de ponto de vista, presente em muitas das ficções mais curtas. Refiro-me aqui a uma voz que é mais a de um comentarista que a de um narrador, porque nesses textos quase não há história. É o caso, creio, de Desordem, de O comportamento das águas, de Trial of Corder. Talvez esteja aí uma voz mais próxima da autoral.
• Quais livros e autores você relê? Tais obras e vozes ecoam em sua obra?
Releio pouco, porque há muito o que ler, e o tempo é escasso. Sou um leitor lento, distraído, desses que levantam a cabeça e ficam horas gravitando sem rumo. Às vezes leio um pedaço de página, fecho o livro, abro outro. Para mim, é uma bela diversão ficar entre livros e não me deter em nenhum. Costumo me lembrar do Macedonio Fernández, escritor argentino. No seu livro mais conhecido, Museu do romance da eterna, ele faz uma espécie de tipologia de leitores. Entre eles, menciona o “leitor salteado”, ou truncado, que é o que lê de forma alternada, aos saltos, e assim se aproveita do fato de que “os personagens e os acontecimentos truncados são os que mais permanecem na memória”. Me identifico com essa espécie. Se há algum autor que costumo visitar mais, pescando um fragmento ou outro, acho que é Kafka. Há sempre uma brisa estranha soprando dos livros dele.
• Noto que nos seus textos, tanto nesse livro como nos anteriores, há sempre um retorno às questões da língua. Como é a sua relação com a gramática?
Pode parecer estranho, mas, se digo que autores como Borges e Kafka, por exemplo, ou, em tempos mais remotos, Júlio Verne e Monteiro Lobato, foram importantes na minha formação de escritor, devo incluir nessa lista a própria gramática, com todos os seus delírios e bobagens. Para o bem e para o mal, durante boa parte da minha adolescência fui um aficionado por compêndios gramaticais, e de fato levava muito a sério os rodapés, as exceções, os anacolutos. Hoje, evidentemente, sei quão nociva pode ser para um estudante a ditadura da gramática normativa, se ele não for levado a compreender que ali está apenas uma fatia convencionada da língua. Uma fatia importante, sim, por ser um padrão, e estar diretamente ligada ao poder social, mas que não pode de modo algum ser confundida com o tecido variado e mutante, com suas muitas oralidades, que constitui a língua nacional — da qual ninguém é proprietário ou procurador. Dito isso, posso confessar que, de alguma maneira e por vias tortas, o estudo da gramática acabou me conduzindo à literatura, e deve ter deixado aí as suas marcas, talvez pela minha obsessão em revisar, talvez pela atração que tenho pelo mundo dos escribas e dos copistas. Posso dizer que, por um lado, a curiosidade gramatical me impulsionou a pensar sobre questões mais amplas da língua; por outro, para escrever melhor, com liberdade, tive que de algum modo destruí-la. Olhando agora a minha estante, já não encontro mais os velhos manuais. Na minha memória, eles surgem como fantasmas, ou — se posso furtar as palavras que Machado de Assis usou em algum romance — como uma imponente ruína.
• Minas Gerais tem uma tradição de poetas, cronistas e também contistas, como Murilo Rubião, Luiz Vilela e André Sant’Anna. Essa tradição ajuda ou intimida? Você dialoga literariamente com eles? De que maneira?
Me agrada que o estado onde nasci seja o berço de tantos escritores geniais. Essa profusão, essa fertilidade cria um panorama literário que só pode ser estimulante, tanto para quem escreve quanto quem lê. Entretanto, a ideia de tradição é um pouco diferente, e ela não é construída apenas com a geografia e o orgulho dos conterrâneos. A tradição — ou as tradições — não está confinada pelas montanhas; muito pelo contrário, é cruzando as fronteiras, e conduzida pelos leitores, que ela pode ser inventada. Dessa maneira, se eu tivesse que desenhar, ou fazer um esboço descompromissado, de uma rede de afetos literários que me envolvem e, ao mesmo tempo, tocam na constelação local, certamente essa seria uma rede esgarçada e porosa. Se me encontro com Cyro dos Anjos, por exemplo, quero Machado e Graciliano por perto. Aceno também para Flaubert e Dostoievski. Se me aproximo de Aníbal Machado, quero estender a mão a Nabokov. Se dialogo com Rubião, inevitavelmente puxo Kafka para a mesa. Quando visito Borges, não convido nenhum conterrâneo, mas posso ligar para Bernardo Carvalho, Piglia e Calvino. E, depois de toda essa festa, nada me impede de ir ao parque com Lydia Davis, Coetzee, Gonçalo Tavares. Eis aí a força de uma tradição: não um arquivo territorial, garantido pelo registro de nascimento, mas uma biblioteca móvel, aberta, e, eventualmente, com algumas inscrições locais — uma geografia incidental.
• Você nasceu e mora em Belo Horizonte. Durante décadas, vários escritores nascidos em Minas Gerais migraram para fora do Estado. Como você vê essa questão hoje?
Por muito tempo, é verdade, sair de Minas para São Paulo ou Rio, principalmente, foi um movimento natural. Seria redundante citar aqui nomes de escritores que migraram. O Humberto Werneck tem um livro excelente, um clássico, que é O desatino da rapaziada, em que ele narra de forma inteligente e saborosa um pouco dessa diáspora, até os anos setenta, se não me engano. Os escritores, ou aspirantes, iam atrás de editores, de leitores, de crítica. Mais que um gesto necessário, partir era um gesto literário, no sentido de que, afastando-se da terra natal, eles podiam ruminar a sua falta e alimentar-se dela. Drummond (“Itabira é apenas uma fotografia na parede”) ou Fernando Sabino, por exemplo, ajudaram a inchar o mito e o fantasma da gente rural, religiosa, mineral, mito esse constantemente usurpado por políticos para falar em nome de uma unidade inexistente. Hoje as coisas são diferentes, e o ímpeto de sair me parece em certa medida superado. Quem escreve, mesmo habitando a periferia ou uma província, mantém contato com o mundo inteiro sem sair de casa; os textos circulam digitalmente, viaja-se com muito mais facilidade. Acho que a dúvida entre ficar e partir tende a ser resolvida pela equivalência entre os termos: ficar e partir são a mesma coisa. Talvez as montanhas continuem produzindo em seus habitantes um grau a mais de comedimento e tristeza, mas não há mais oitenta por cento de ferro nas almas, nem há tanto ferro assim. Pode ser que uma nova dúvida esteja surgindo, uma dúvida que é de todos, em toda parte: não mais partir ou ficar, mas sim conectar-se ou desligar-se. E então a lembrança doída não será um retrato na parede, mas a própria parede.
• Pretende escrever, e publicar, romance ou novela?
Tenho sim um projeto de maior fôlego, e já comecei a trabalhar nele, sem abandonar os textos curtos. Trata-se de um romance, que já tem roteiro e pesquisa. É algo que vai me exigir dois ou três anos de trabalho, no mínimo.
Costumo fazer os primeiros rabiscos à mão. Tomo nota de tudo o que me interessa, e para isso uso cadernetas, envelopes, cupons de supermercado, qualquer papel ao alcance. Ultimamente tenho usado também o celular, mandando e-mails para mim mesmo.
• Quais as diferenças entre Histórias naturais e os seus livros anteriores, A casa dos outros e Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse?
As diferenças são muitas, e para mim não é muito confortável apontá-las. Cada livro tem seu tempo e caminho próprios. Meu livro anterior, o Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse, de 2011, foi o resultado de um projeto premiado com a Bolsa Funarte, e por isso teve uma proposta mais dirigida desde o início, com um tema unificador. São ficções que se constroem tomando como ponto de partida lugares menosprezados, que passam despercebidos, reais ou imaginários. Já o Histórias naturais é um livro mais aberto, no sentido de que a sua composição foi construída à medida que os textos foram surgindo. Foi um livro mais demorado, e a instabilidade dos meus afetos está mais presente nele. Meu primeiro livro, A casa dos outros, é a coletânea mais dispersa das três, mas em qualquer de seus textos você vai achar um personagem de passagem ou fora do lugar.
• Como avalia as resenhas que já saíram a respeito de Histórias naturais?
O livro tem encontrado alguns leitores muito sensíveis e argutos, não posso reclamar. Até agora, a recepção tem sido generosa. O importante, porém, pelo menos para mim, é o modo como a crítica tem colaborado para abrir flancos de leitura. O crítico e professor Antônio Marcos Pereira, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, fez uma análise tão precisa da segunda parte do livro, que comecei a usá-la eu próprio quando preciso fazer algum comentário. O escritor e músico Arthur Nestrovski, por sua vez, em um texto belamente escrito, chamou a atenção para aspectos da narrativa que me surpreenderam e até me comoveram. Vamos ver se sigo com essa sorte.
• O que te interessa na literatura contemporânea?
Meus interesses literários são os mais variados possíveis, tanto como leitor quanto como escritor. Leio ficção, poesia, crítica, teoria, tudo. Se encontro um autor que, partindo da ficção, consegue articular mais de uma dessas vertentes, melhor ainda. Penso naquele livro que põe em dúvida o seu próprio estatuto, nas narrativas que mesclam história e literatura, que têm algum traço ensaístico, que brincam com a figura do autor. É o que se pode chamar de gênero híbrido, um gênero cuja ascensão, acredito, tem muito a ver com o lugar da memória no mundo contemporâneo, e com a circulação rápida de informações. Por um lado, textos de todo tipo são com um toque copiados, mutilados, misturados, reaproveitados. Por outro, um arquivo poderoso como é a internet, múltiplo, vasto, sem hierarquias, impulsiona e amplia a curiosidade. A rebelião dos gêneros, me parece, começa aí.
• Como você avalia o avanço do mundo virtual? Como essa realidade interfere na sua literatura?
Como alguém que nasceu em 1967, vejo-me como a testemunha de uma mudança de era. Não se trata da passagem comum de uma geração a outra. Estamos diante de uma mudança radical no regime de leitura e escrita, com implicações no modo como as pessoas pensam, se comportam, se relacionam. Escrevi cartas, usei máquina de datilografia; leio jornais de papel, mas pressinto que eles estão com os dias contados. Por outro lado, estou também infiltrado na realidade virtual e tecnológica, participo do teatro incessante das redes sociais. Não sou saudosista, mas também não sou um entusiasta da tecnologia. Olho para as duas janelas com interesse e cautela. O fato é que essa transformação, ou essa duplicidade, me solicitam como escritor, interferem diretamente no modo como escrevo, nos temas que escolho. Sei que, em grande medida, meu aprendizado é já ruína e também fantasma. Eu poderia traduzir tal situação como um fracasso, mas encaro-a como um privilégio. Porque é exatamente a partir dessa experiência, da consciência ainda pulsante desse tempo, que posso lançar um olhar crítico sobre o mundo que chega. Tento levar essa força para a minha ficção.