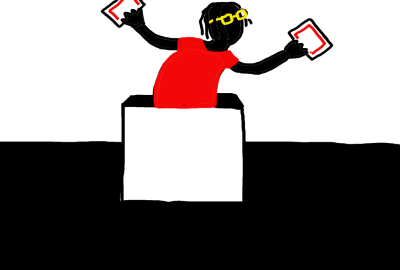Para Eloésio Paulo
A rouquidão romântica de Naílson Pedreira se espraiava pelos campos de café e laranja da região do Lago de Furnas, levada pelas ondas da Rádio Corinto FM. O seu De coração a coração começava logo depois de A voz do Brasil e se estendia noite adentro, sem prazo para terminar. Àquela hora, quase sem patrocínio, contava com escassos ouvintes, apenas os porteiros dos poucos prédios residenciais, os seguranças do distrito industrial, os plantonistas da Santa Casa, alguns bêbados desgarrados em botequins da periferia e os insones que, dispensando a companhia da televisão, aguardavam ansiosos o efeito do tranquilizante. Nem mesmo o diretor-proprietário da emissora, doutor Éder Valenti, dono de metade da cidade, prefeito por vários mandatos, que lustrava com zelo seu nome inscrito em prata de lei, se preocupava com aquela grade necessária, mas dispensável, da programação.
E Naílson Pedreira aproveitava-se, há pouco mais de um ano, desse estranho anonimato. Vindo de São Paulo, empregara-se de imediato na vaga que Washington Lopes ocupava provisoriamente, um turno indesejado, porque a parte substancial do ordenado dos locutores provinha das propagandas que coletavam no comércio local — e ninguém queria anunciar naquela hora morta. Naílson, no entanto, aceitou o encargo sem reclamar, apossou-se do microfone e, junto com Julinho “Prancheta”, que cuidava do som, atendia o telefone, fazia o café e varria o estúdio ao final do expediente, divertia-se na solidão da noite interiorana. Criou para isso um espaço onde dava conselhos inúteis, lia cartas imaginárias, inventava predições astrológicas, divagava sobre banalidades e tocava as músicas de sua preferência.
Toda noite, após chegar cansado da faculdade, eu me martirizava, enquanto tomava banho, colocava o pijama, desarrumava a cama, acendia o último cigarro, pensando no quanto me distanciara dos planos ambiciosos da juventude. Eu, que imaginara fama e sucesso, me contentava agora em repetir medíocres lições de língua portuguesa que não interessavam a nenhum aluno, aguardando como um cão abobalhado a ração, suficiente apenas para pagar as contas do mês, as dívidas de cerveja acumulando no bar da Praça da Matriz, a barriga crescendo, os cabelos caindo, os sonhos apodrecendo.
Certa quarta-feira, o pior dia da semana, passava da meia-noite, entrei meio bêbado no Chevette velho e cheirando a morrinha quando, ao girar a chave de ignição, meu punho, escapulindo, pressionou o botão do rádio, cujo dial há muito emperrara sintonizado na emissora da cidade. Então, a voz rouca de Naílson Pedreira explodiu dentro do carro, evocando tempos idos, infâncias inalcançáveis, memórias perdidas. Ao invés de me conduzir para a casa silenciosa e melancólica onde morava, acelerei rumo ao pequeno prédio de pintura desbotada no final da Avenida Presidente Vargas, que, tornando mais à frente rodovia, nos levava para longe bem longe, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo.
Estacionei no meio-fio, empurrei a porta que dava para a rua, apenas encostada, e subi devagar a escada escura. Percorri um comprido corredor até me deparar com uma sala bastante bagunçada, onde Julinho, sentado numa cadeira giratória, controlava o equipamento de som, a estante de discos, o telefone e a garrafa térmica. Por trás do vidro, curioso, Naílson me viu e avisou o assistente, que, virando-se bruscamente, quase despencou no chão. Descalço, a camisa vermelha de manga comprida deslizando por sobre a calça jeans apertada, Naílson deixou o aquário. Sem graça, disse meu nome, expliquei que nos conhecíamos de vista, fôramos apresentados em alguma das festas que o doutor Valenti promovia em seu rancho à beira da represa, e ele estendeu-me a mão frágil, estranhamente fria, mas cálida, como se aconchegasse pássaros ainda sem penas. A sensação de embriaguez de súbito cessara e lamentei estar ali, naquele estúdio abafado, frente a um sujeito de cabelos pretos desgrenhados, roupa amarfanhada de muitas tardes, dentes amarelados, sem saber o que falar.
Naílson me pediu um cigarro e encaminhou-se ao quintal. Descemos alguns degraus e nos instalamos no breu que o perfume doce das damas-da-noite asfixiava. Ao longe, avistávamos as lâmpadas esmaecidas da cidade mergulhada na cerração. Os faróis dos carros que passavam na estrada iluminavam intermitentes as árvores trêmulas de frio. As águas do riacho que devia haver ali por perto escorriam preguiçosas, escoltadas por uma anarquia de sapos e grilos. Então, a voz rouca de Naílson insinuou displicente por trás da brasa, Afinal estou morrendo. Assustado, engasguei com a fumaça, Quê?! Ele continuou, calmo e distante, Tenho cagado sangue… Já não consigo comer nada… Meu estômago não aceita… Nervoso, joguei a guimba no chão e esmaguei com a ponta do tênis, Não deve ser nada sério, comentei, patético. Não durmo mais, a voz prosseguiu, alheada, Minha cabeça não para de pensar… Parece uma cachoeira… O rosto adolescente do Julinho entreabriu uma fresta na porta, estendendo um facho de luz sobre o corpo arruinado de Naílson, No ar, em trinta segundos! Então, perguntei, Você não vai lutar contra isso? E ele, escalando rápido a escada, Não, estou lutando a favor.
Na semana seguinte, viajei de férias, cismando, por todo o mês de julho esfuziante de estrelas, sobre o brejo em que me afundava mais e mais. Voltei desanimado em agosto, certo de que algo deveria ser feito com urgência, embora não atinasse com o quê. Passaram-se ainda uns quarenta dias, até que uma madrugada, em torno de uma mesa no bar da Praça da Matriz, alguém comentou sobre o Naílson Pedreira, um fulano esquisito, conhece não?, que dorme ao relento no quintal da rádio onde trabalha e toma banho no posto de gasolina em frente, porque ninguém mais quer fiar para ele, O cara injeta nas veias todo o mísero salário de locutor. Imediatamente me levantei, corri para casa, peguei o telefone e liguei para o estúdio. Julinho atendeu e perguntei pelo Naílson. Voltou para São Paulo, não soube?, contou, Faz uma semana já! Abandonou o emprego em pleno ar, falou assim: Não aguento mais, amigos ouvintes, e declamou uma poesia cheia de palavrões que não acabava mais… Ele deixou algum endereço?, indaguei, ansioso. Não, disse que se alguém quisesse encontrar ele, que procurasse no cemitério… E riu, Uma figura aquele Naílson, não é não? É, uma figura, respondi, desligando.